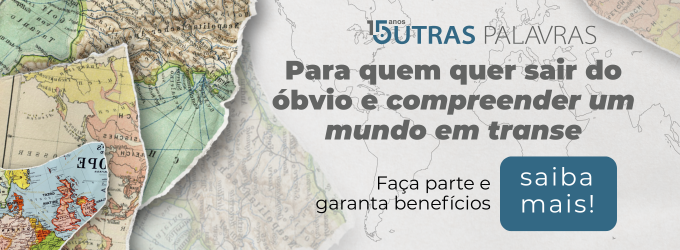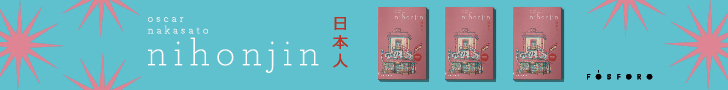Bolsa Família: Velha discussão à luz de novos dados
Dados recentes desmontam a persistente tese da direita de que o programa estimula a indolência. 11,55% conseguiram emprego com carteira assinada em um ano e meio. E trazem dor de cabeça ao capital: já não se sujeitam a trabalhar por péssimos salários…
Publicado 01/10/2025 às 18:02 - Atualizado 01/10/2025 às 19:13

O Programa Bolsa Família é alvo de críticas desde sua criação. A mais comum pontua que o BF estimula a indolência, ou desestimula o trabalho. Os opositores argumentam com o efeito positivo sobre as crianças e adolescentes beneficiados, cuja escolarização e vacinação – requisitos do programa – as redimirão da trajetória de seus pais. Muita tinta, papel e saliva foram dispendidos nesse debate interminável. Entretanto, o correto é baseá-lo em dados e não em crenças ideológicas.
O Estúdio Folha publicou um levantamento interessante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Folha de São Paulo, 11/set/25). É um bom caminho para avaliar o programa. Intitulado “Bolsa Família abre caminho para autonomia financeira” e uma chamada criativa – Do Bolsa Família ao crachá / Programa é garantia de renda para conquistar estudo e trabalho –, o estudo traz um resumo das principais informações, a seguir sintetizadas:
- 1,3 milhão de famílias deixaram o Bolsa Família em 2024 após melhora na renda;
- 1 milhão de famílias deixaram o Bolsa Família em julho de 2025;
- 75,5% dos novos empregos criados em 2024 foram ocupados por beneficiários do Bolsa Família;
- 98,9% das 1,7 milhão de vagas com carteira assinada foram preenchidas por cadastrados no CadÚnico;
- R$ 671,54 é o valor médio do benefício;
- 19,19 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família, com prioridade para crianças, gestantes e nutrizes.
Inúmeras considerações podem ser feitas a partir desses dados. Primeiramente, eles remetem à repetida discussão sobre a natureza efetiva do programa. Assistencial? Sim, sem dúvida. Mas limita-se a isso? Os dados mostram que se trata de um investimento em recursos humanos, capacitando-os a entrar (ou retornar) ao mercado de trabalho. Diversos fatores podem estar nessa tendência ao engajamento dos beneficiários na busca e assunção de empregos formais: a tranquilidade emocional trazida pela renda básica, que elimina a fome da família e o estresse decorrente; a autoestima fortalecida; a emulação das crianças escolarizadas sobre os adultos do grupo familiar.
Sejam quais forem os fatores motivacionais, os dados refutam frontalmente o argumento da indolência induzida e do desestímulo ao trabalho. Pode-se polemizar, argumentando com o baixo percentual de famílias efetivamente empregadas, que saíram do programa. Sem dúvida, essa proporção pode ser maior, mas já nos termos atuais é bastante relevante. Confrontados aos quase vinte milhões de famílias atendidas, a soma dos emancipados (utilizamos este termo para os que saíram do BF após encontrarem emprego com carteira assinada), apenas neste ano e meio, atinge 11,55% do total. Muito significativo!
Não é possível deixar de associar esse resultado positivo a outra notícia muito alvissareira para a sociedade brasileira. Depois de ter saído, finalmente, do Mapa da Fome da ONU em 2014, o Brasil voltou a esse indicador de perversidade social a partir do enorme retrocesso político dos oito anos seguintes. Em 2024, voltamos a sair do Mapa da Fome. Os dois fatores mais impactantes nessa conquista foram a reconstrução da rede de assistência social e combate à fome, desmanteladas naquele período de trevas, e a inclusão produtiva. O Programa Bolsa Família, pelo número de beneficiários, mas também pelo de emancipados, tem forte responsabilidade em ambos os processos, ao lado da forte recuperação do mercado de trabalho, que estimulou as saídas do programa.
Na verdade, há dados anteriores que raramente eram citados nos primeiros governos Lula. Um deles referia-se à época em que 13 milhões de famílias eram atendidas pelo BF e 1,2 milhões haviam saído voluntariamente após alcançarem alternativas melhores de trabalho e renda. Fica difícil entender por que essas informações nunca são incluídas no debate, nem pelos críticos, nem (mais estranho ainda) pelos defensores. Afinal, o bom debate deve se apoiar em dados. Naturalmente, estes devem ser qualificados, referenciados e contextualizados, mas, neste caso, falam por si.
Mesmo que se considere baixo o percentual de emancipação efetiva – e não é -, pode-se sugerir que um incentivo maior deva ser dado à escolarização e capacitação técnica dos adultos das famílias beneficiárias. Mas os dados apontam, sem dúvida, uma tendência positiva, que pode ser reforçada com ajustes adequados. Enfim, essa é uma discussão útil e relevante.
Pode-se também buscar exemplos retrospectivos e reaplicá-los à atualidade. Os primeiros economistas, na Inglaterra, combateram o sistema assistencial Speenhamland com argumentos semelhantes – estímulo à indolência e desestímulo ao trabalho. Após anos de ataques, aquele primeiro sistema assistencial, a cargo das paróquias inglesas, foi extinto. Aumentou, assim, a oferta de mão-de-obra para as indústrias nascentes. Hoje, são amplamente conhecidas as condições horrorosas de trabalho nas primeiras indústrias de Manchester e da Inglaterra. Caso, eventualmente, o sistema assistencial tivesse sido mantido ou reformado (porque, obviamente, tinha muitos defeitos), será que a necessidade de recrutar mão-de-obra não teria atenuado alguns dos aspectos mais perversos do ambiente fabril?
Aplicando esse argumento à atualidade, a existência de um colchão amortecedor da pobreza absoluta não implica em ter que oferecer melhores condições de trabalho para atrair novos empregados? Muitas críticas resvalam para o preconceito, quando apontam a dificuldade de contratar pessoas para tarefas humilhantes ou massacrantes e jornadas extensivas de trabalho, nas regiões de maior presença de beneficiários do BF. Não seria o caso de reconhecer que, liberadas da miséria absoluta por um programa que, reconhecidamente, paga valores muito baixos, que apenas fazem a diferença entre a miséria e a pobreza, as pessoas se tornam um pouco mais seletivas na escolha de empregos?
Considerando a ausência do efeito indicado por crença ideológica e refutado pelos dados concretos no que se refere a parcela considerável dos beneficiários – a indolência e a aversão ao trabalho -, podemos deduzir que as condições salariais e de trabalho devem ser minimamente decentes para atraí-los aos empregos ofertados.
O resultado dessa tendência não seria o aumento da renda média e, portanto, a ampliação do mercado consumidor, permitindo ganhos de escala sem pisotear a dignidade do trabalho? Ganhos de escala significam redução dos custos unitários, o que representa um círculo virtuoso: maior renda, maior consumo, mais empregos, menores custos de produção, preços estáveis ou mesmo com algum declínio, ampliando ainda mais o mercado sem prejudicar a lucratividade e a permanência das empresas.
O que faz falta é uma discussão apoiada em evidências fatuais. Em geral, crenças ideológicas apriorísticas – ou seja, cristalizadas antes e apesar das evidências – presidem o debate, de ambos os lados. Os detratores do programa partem do princípio hedonista de que os indivíduos buscam maximizar o prazer e minimizar a dor – enunciado por Jeremy Bentham em época próxima à obra de Adam Smith, que reivindicava o princípio de que o interesse próprio levava ao bem estar social. Mesmo esse princípio deve ser considerado com flexibilidade e sabedoria: qual o limite da dor (o trabalho) e do prazer (a indolência)? A dor da fome não levaria a apenas substituí-la por outra dor, igualmente desumana, a do trabalho sem o mínimo de dignidade?
Já os defensores, muitas vezes (para não generalizar), referem-se à parcela adulta dos beneficiários como perdida para a atividade produtiva, depositando o benefício social do programa na nova geração, protegida, pela vacinação e escolarização, de repetir a trajetória dos genitores.
O que os dados mostram é diverso de ambas as hipótese apriorísticas. Há uma parcela não desprezível de adultos no programa atraída pela possibilidade de encontrar alternativas mais remuneradoras e deixar o restrito benefício do BF para outros mais necessitados. À época da primeira notícia mencionada acima, entrevistas com ex-beneficiários explicitavam essa atitude.
Uma política pública mais direcionada à motivação dos adultos atendidos pelo BF, concomitante à construção da infraestrutura física e, principalmente, pedagógica (professores e material escolar) voltada a esse público específico, levando em conta suas particularidades vivenciais, culturais e comportamentais, poderia incidir fortemente naqueles dados, ampliando a parcela de emancipados. O impacto sobre a própria autoestima destes, a renda média, o consumo, a produção e o emprego – além da bem-vinda inovação para atender o mercado em expansão – seria altamente benéfico ao país. Todavia, essa iniciativa requer o abandono da tese da “geração perdida” pela prolongada vivência em condições miseráveis, reinterpretando-a como passível, em proporções significativas, de recuperação e emancipação.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras