Lições de estética (e política) com Lukács
Clássico marxista sobre arte ganha primeira tradução brasileira direto do alemão. A obra, lançada pela Boitempo Editorial, investiga os vínculos entre criação artística, ciência e sociedade. Leia, com exclusividade, um trecho. Sorteamos dois exemplares
Publicado 11/04/2025 às 19:34 - Atualizado 14/04/2025 às 18:28
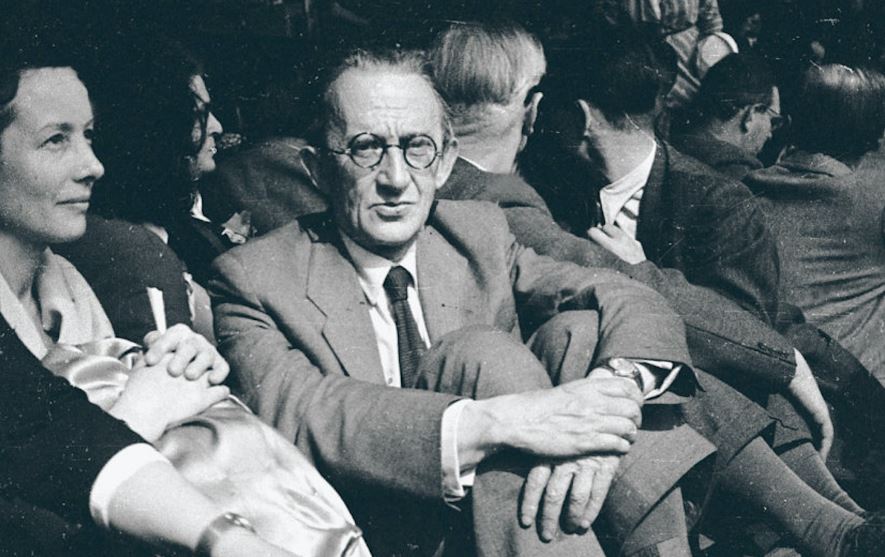
Quem apoia o jornalismo de Outras Palavras garante 20% de desconto no site da Boitempo Editorial. Faça parte da rede Outros Quinhentos em nosso Apoia.se e acesse as recompensas!
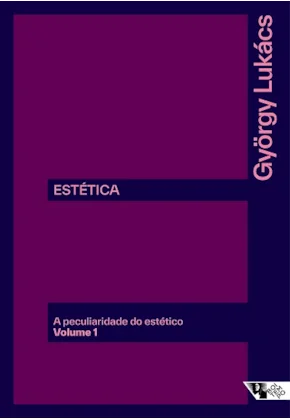
Mais de seis décadas após sua publicação original, um dos trabalhos mais importantes do pensamento marxista sobre arte e cultura finalmente ganhou sua primeira tradução em português: O primeiro volume de Estética: a peculiaridade do estético, do filósofo marxista austro-húngaro György Lukács.
Outras Palavras e Boitempo Editorial irão sortear dois exemplares de Estética: a peculiaridade do estético – Volume 1, de György Lukács, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 21/4, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
Traduzida diretamente do alemão, a obra representa um marco na filosofia contemporânea e faz reflexões acerca da criação artística, seu significado social e sua relação com outras formas de conhecimento humano.
Lançada pela Boitempo Editorial, a publicação preenche uma lacuna essencial no cenário editorial nacional, permitindo que estudiosos e interessados tenham contato com um dos tratados mais expressivos do século XX.
O volume faz parte de um projeto editorial que dividirá a obra completa em quatro volumes. Nesta edição histórica, é possível encontrar as elaborações teóricas de Lukács sobre a experiência estética como um fenômeno singular profundamente vinculado à totalidade da vida social.
O filósofo examina as conexões entre arte, ciência, ética e política, demonstrando como essas esferas emergem do cotidiano para depois nele se reintegrarem, transformando a realidade.
José Paulo Netto, personalidade responsável pela disseminação da obra de Lukács no Brasil e pela apresentação da edição brasileira, destaca que este trabalho constitui “a formulação mais desenvolvida de uma estética sistemática produzida no interior da tradição marxista”.
De fato, Lukács desenvolve uma análise minuciosa do fazer artístico como forma específica de apreensão e reprodução da realidade, diferenciando-a de outros modos de conhecimento sem isolá-la da prática social.
Como ele próprio escreve: “O comportamento cotidiano do homem é simultaneamente começo e fim de toda atividade humana”, comparando o fluxo da vida diária a um grande rio do qual se ramificam as formas superiores de consciência.
Com tradução cuidadosa, o livro oferece ferramentas teóricas valiosas para compreender o papel da arte em nossa sociedade.
Leia, logo abaixo, um trecho da apresentação da obra, escrito por José Paulo Netto. O trecho em questão aborda brevemente a questão de como se estrutura a estética enquanto categoria teórica no pensamento lukacsiano.
Boa leitura!
A Estética de György Lukács
Na abertura desta “Apresentação”, informou-se ao leitor que a Estética que Lukács publicou em 1963 constitui apenas a primeira parte de um extenso tratado que deveria desdobrar-se em mais duas outras – que o filósofo não redigiu, pelo que a obra vinda à luz em 1963 é também nominada Estética I, com o subtítulo de A peculiaridade do estético. Mesmo que o filósofo não tenha concluído a exposição do seu sistema estético nas outras partes que projetara, estou convencido de que a Estética que nos legou é a sua obra mais completa.
O cariz e o tônus da Estética lukacsiana (e esse é outro dos traços que a singularizam) têm o porte das elaborações clássicas do idealismo alemão, notadamente de Kant e, em especial, de Hegel, com as quais a Estética dialoga intensa e muito criticamente, superando-as também com a recuperação crítica de uma imensa massa de conhecimentos acumulados posteriormente em áreas/ciências particulares diversas (filosofia, história, economia, antropologia, arqueologia, etnografia, psicologia). Recuperação que – repita-se: sempre crítica – se opera numa perspectiva dialético-totalizante, dada a originalidade metodológica dos procedimentos analíticos do filósofo. A magnitude teórico-filosófica da Estética revela-se logo (e este é mais um traço a singularizá-la) na riqueza categorial que ela exibe, riqueza que dificulta – e até problematiza – as tentativas de formular uma síntese introdutória ao grande texto. Os parágrafos que se seguem pretendem, tão somente, sumariar o ordenamento das formulações lukacsianas e uns poucos dos seus traços fundamentais.
Suporte essencial do sistema estético de Lukács é a sua teoria do reflexo – é com base nela, como fica claro neste volume 1 da edição da Boitempo da Estética, a que voltarei adiante, que o filósofo expõe (no que serão os volumes 2 e 4 desta edição) as suas exaustivas elaborações sobre a mimese estética. Tais elaborações, que fundamentam e explicitam o caráter mimético da arte, envolvem todo o complexo das diferenciadas formas artísticas desenvolvidas pelos sujeitos humanos no curso de um larguíssimo movimento histórico (rastreado por Lukács sintética, mas cuidadosamente).
A originalidade e a argúcia da sistematização estética de Lukács flagram-se com evidência no volume 2 da edição da Boitempo – em andamento – que compreende a heterogênese da arte a partir da magia (capítulo 5), o mundo próprio das obras de arte e sua problemática (capítulo 6), a relação sujeito-objeto na estética (capítulos 7 e 10), a excelente formulação categorial inclusiva de meio homogêneo/homem inteiro/homem inteiramente e do trato do pluralismo da esfera estética (capítulo 8), a missão desfetichizadora da arte (capítulo 9) e a reconceituação da catarse como categoria geral da estética (capítulo 10).
No que será o volume 3 da edição da Boitempo, o filósofo detém-se nos fundamentos e princípios mais gerais do comportamento estético. Admitindo que não se sente qualificado para discutir as teses enunciadas pelos especialistas da psicologia, Lukács – recorrendo a sugestões das pesquisas materialistas de Pavlov – indica (capítulo 11) que se restringe a investigar as relações entre os “sistemas de sinalização” (os emergentes dos reflexos condicionados, o sistema de sinalização 1) e a linguagem (o sistema de sinalização 2), chegando à proposição, alternativa e instigante, de um sistema de sinalização distinto, estético, que designa como sistema de sinalização 1. Nesse mesmo volume 3, no capítulo 12, a categoria da particularidade é novamente objeto da análise de Lukács. E ainda, nesse volume, o capítulo 13 reveste-se de extrema importância: eis onde o filósofo resgata e instrumentaliza para o pensamento estético categorias axiais do legado hegeliano (p. ex., em si, para nós, para si), porém refundadas a partir da crítica a Hegel estabelecida inicialmente pelo jovem Marx; Lukács já examinara várias dessas categorias n’O jovem Hegel e n’O jovem Marx e elas, com outras elaboradas pelo próprio filósofo, serão imprescindíveis para a articulação da estética sistemática tal como Lukács a concebe.
No volume 4, com que se encerra a edição da Boitempo, Lukács começa por discorrer sobre as questões liminares da mimese estética nas várias artes. O capítulo 14, introduzindo a original ideia da dupla mimese para a perquirição da música e a noção do ciclo problemático do agradável, é revelador do domínio que o filósofo possui do amplo patrimônio artístico que investiga. No capítulo 15, Lukács não se ocupa apenas das questões da beleza natural, mas tematiza as fronteiras entre a ética e a estética. Enfim, no último capítulo da obra, a análise do que o filósofo designa como a luta emancipadora da arte articula-se a problematizações inéditas seja de tópicos fundamentalmente estéticos (alguns já tangenciados anteriormente, como alegoria e símbolo), seja de temas como pessoa privada e necessidade religiosa.
Mais um dos traços distintivos da Estética lukacsiana consiste no fato de a sua sistematização desnaturalizar (ou se se quiser, historicizar) as concepções existentes sobre a arte – da Antiguidade ao século XX – e, ainda, de circunscrever a posição da arte entre as expressões ideais que a sociabilidade humana apresentou no seu desenvolvimento ao largo do processo histórico de constituição da humanidade (fazendo recuar as “barreiras naturais”, como dizia Marx). O procedimento teórico-metodológico recorrente em toda a Estética de Lukács não coonesta quaisquer ideias de uma “natural” vocação humana para a arte, um “natural” evolver da emergência das atividades artísticas inscrita numa “essência humana” tomada abstrata e a-historicamente como eterna e imutável. Esse procedimento não exclui o reconhecimento de uma concepção histórica e determinada do ser social do homem; trata-se da concepção marxiana filosófico-antropológica, embasada ontologicamente, que pode até receber a designação de “essência humana”, mas que em Marx é referida sobretudo como “natureza humana” – que também nada tem de natural, eterna e imutável; essa concepção receberia, na evolução do Marx posterior a 1844, fundamentação mais sólida, porém nunca seria abandonada pelo autor d’O capital. À época em que ainda se vinculava ao pensamento de Marx, Heller, sumariando o estudo de Márkus há pouco citado em nota, dizia acertadamente que “a concepção do jovem Marx – que se mantém no período da [sua] maturidade –” compreende que “as componentes da essência humana são […] o trabalho (a objetivação), a socialidade, a universalidade, a consciência e a liberdade. A essência humana, portanto, não é o que ‘esteve sempre presente’ na humanidade (para não falar mesmo de cada indivíduo), mas a realização gradual e contínua das possibilidades imanentes à humanidade, ao gênero humano”.
Entre as categorias extraídas do legado hegeliano, outra – também examinada criticamente pelo jovem Marx – é de vital importância para a estética lukacsiana: a categoria de objetivação. A exaustiva análise que Lukács faz da problemática das objetivações, tomando o trabalho como modelo da práxis (práxis que não se esgota no trabalho), desdobra-se exemplarmente na Ontologia do ser social, mas já tem os seus fundamentos presentes na Estética. Nesta, Lukács tomará a arte como uma das mais altas e realizadas objetivações do espírito humano, assim como a ciência – ambas produzidas/resultantes no/do curso de um larguíssimo processo histórico posto em movimento com o evolver de atividades de natureza mágica (processo que o filósofo tratará no volume 2 da Estética na edição da Boitempo).
Dois parágrafos acima, anotei que a Estética lukacsiana se coloca a questão de circunscrever a posição da arte entre as expressões (objetivações) ideais que a sociabilidade humana produziu e desenvolveu no processo histórico de (auto) constituição da humanidade. Daí ser imperativo, para a economia interna da Estética e para a explicitação dos seus eixos elementares, relacionar a arte e a outra notável objetivação do ser social, a ciência, à vida dos indivíduos. Por isso, Lukács começa (justifica-se esse itálico: o volume 1 da Estética da edição da Boitempo atém-se expressamente a “questões preliminares e de princípio”) analisando a vigência e os limites do reflexo que se processam naquele nível insuprimível da vida em que todo indivíduo humano está imerso: a vida cotidiana. Dado o seu caráter imprescindível, esse começo leva-me agora, no pequeno excurso que se segue, a dedicar umas poucas linhas ao volume 1 da Estética que o leitor tem em mãos.
Permita-se-me, antes de mais, passar a palavra a Lukács:
O comportamento cotidiano do homem é simultaneamente começo e fim de toda atividade humana, isto é, quando se imagina o cotidiano como um grande rio, pode-se dizer que, nas formas superiores de recepção e reprodução da realidade, ciência e arte ramificam-se a partir dele, diferenciam-se e constituem-se de acordo com suas finalidades específicas, alcançam sua forma pura nessa peculiaridade – que emerge das necessidades da vida social para então, por consequência de seus efeitos, de suas incidências sobre a vida dos homens, voltar a desembocar no rio da vida cotidiana. Portanto, esse rio é constantemente enriquecido com os resultados mais elevados do espírito humano, assimilando-os a suas necessidades práticas cotidianas, e daí voltam a surgir, em forma de questões e demandas, novas ramificações das formas de objetivação superiores.
Reproduzo Lukács ipsis verbis porque nesse prefácio ele sintetiza a quintessência da argumentação que exara no volume 1 da Estética: a relação da vida cotidiana mormente com duas modalidades de objetivação humana, a arte e a ciência, cuja processualidade histórica – gênese e desenvolvimento e, logo, a sua diferenciação – será objeto dos capítulos 1 a 3 da obra. Vê-se: à partida, Lukács põe a vida cotidiana como o alfa e o ômega dos reflexos mediante os quais a realidade objetiva é apropriada pelos homens. Mais: assinala que tais reflexos, na sua diferencialidade, se transformam seguindo linhas específicas. Igualmente, também na abertura da Estética, o filósofo explicita que a sua argumentação, relativa à recepção e à reprodução da realidade pelo “espírito humano”, se embasa numa concepção alargada do reflexo, pertinente “a toda atividade humana”; afirma o filósofo:
Outras Palavras e Boitempo Editorial irão sortear dois exemplares de Estética: a peculiaridade do estético – Volume 1, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 21/4, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
Não só a realidade objetiva que aparece nos diferentes tipos de reflexo está sujeita a uma mudança ininterrupta como essa mudança apresenta rumos bem determinados, linhas evolutivas bem determinadas. Portanto, a própria realidade é histórica segundo seu modo objetivo de ser; as determinações históricas, tanto de conteúdo quanto de forma, que aparecem nos diferentes reflexos não passam de aproximações mais ou menos corretas desse aspecto da realidade objetiva. Porém uma historicidade autêntica jamais pode consistir em uma simples modificação dos conteúdos de formas que se mantêm sempre iguais, no âmbito de categorias sempre imutáveis, pois essa variação dos conteúdos terá necessariamente um efeito de modificar também as formas, devendo acarretar inicialmente determinados deslocamentos de função dentro do sistema categorial e, a partir de certo grau, até mudanças pronunciadas, ou seja, o surgimento de categorias novas e o desaparecimento de categorias velhas. A historicidade da realidade objetiva tem como consequência uma determinada historicidade da teoria das categorias.
Essas duas passagens de Lukács são cruciais: verifica-se que, para ele, a realidade objetiva (em si mesma histórica, efetiva e mutável) é apreensível – da sua aparência imediata na vida cotidiana ao seu conhecimento essencial, viabilizado em objetivações distintas e específicas, como a arte e a ciência – por diferentes modalidades de reflexo, cuja historicidade se estende às categorias pelas quais o espírito humano se apropria idealmente do mundo em que vive e se orienta para nele intervir praticamente. Eis por que o exame da cotidianidade e seu reflexo em objetivações que transcendem os limites da empiria imediata é absolutamente necessário para a compreensão da especificidade dessas mesmas objetivações – e é esse exame que Lukács apresenta no volume 1 da edição da Boitempo da Estética (que, no tratamento do reflexo estético, começa nele, prosseguindo ainda no volume 2). A síntese obtida com esse exame é antecipada pelo próprio filósofo:
os reflexos científico e estético da realidade objetiva são formas de reflexo cada vez mais diferenciadas que se constituem no decorrer do desenvolvimento histórico e encontram tanto sua base quanto sua realização plena e definitiva na própria vida. Sua peculiaridade reside justamente na direção exigida […] pelo exercício cada vez mais preciso e completo de sua função social. […] Se quisermos examinar o reflexo na vida cotidiana, na ciência e na arte quanto a suas diferenças, devemos entender sempre com clareza que todas as três formas retratam a mesma realidade.
Ainda antes de expor e apresentar os resultados das investigações em que se empenhou arduamente para compreender a diferencialidade básica entre os reflexos científico e estético, fundante das suas peculiaridades, o filósofo diz que sua argumentação deve:
mostrar que o reflexo científico da realidade procura se libertar de todas as determinações antropológicas, tanto das sensíveis quanto das intelectuais, e que se esforça para retratar os objetos e suas relações como são em si, independentemente da consciência [do pesquisador]. O reflexo estético, em oposição, parte do mundo do homem e está voltado para ele. Isso não implica, como mostraremos no devido momento, um simples subjetivismo. Pelo contrário, a objetividade dos objetos fica preservada, só que de modo que estejam contidas nela também todas as referencialidades típicas da vida humana, manifestando-se de um modo que corresponda ao respectivo estado de desenvolvimento interior e exterior da humanidade […]. Isso significa que toda configuração estética inclui, ordena dentro de si o hic et nunc histórico de sua gênese como fator essencial de sua objetividade decisiva.
Com essa passagem, já na abertura da Estética, Lukács antecipa a diferença absolutamente distintiva que, na sua perspectiva analítica, especificará as duas modalidades de reflexo: essencialmente, o científico é desantropomorfizador, o estético é antropomorfizador. Tudo isso posto, compreende-se sem dúvidas que a pesquisa da peculiaridade do estético – objeto da Estética (mais exatamente, da Estética I) – exige preliminarmente a análise dos problemas do reflexo na vida cotidiana e o seu desenvolvimento diferenciado, de que emergem os reflexos científico e estético. É essa análise preliminar que Lukács oferece nos quatro capítulos deste volume 1 da Estética; não cabe aqui um resumo da sua argumentação – extremamente rica, ampla e complexa –, mas tão somente um sumário, breve e esquemático, dos seus elementos centrais.
O capítulo 1 (“Problemas do reflexo na vida cotidiana”) consagra a sua primeira seção à caracterização geral do pensamento cotidiano. Esse pensamento, constituído pelo reflexo que é da vida cotidiana, expressa as condições em que se movem os agentes para atender às necessidades garantidoras da sua reprodução enquanto tais, o que implica uma determinada relação com a natureza, o trabalho; mesmo nos seus estágios históricos mais primitivos, essa relação vai demandar a produção de instrumentos materiais e de formas simbólicas de comunicação entre os agentes – desenvolver-se-á, pois, uma relação genética entre trabalho e linguagem. É no processo de trabalho que os agentes se tornam sujeitos que, atuando de início sobre elementos naturais, intencionalmente produzem objetos para satisfazer suas necessidades (que, uma vez satisfeitas, geram novas necessidades). No processo de trabalho, constitutivo compulsório da sua vida cotidiana, os sujeitos se defrontam com um mundo que existe material e objetivamente fora das suas consciências – o que confere ao seu pensamento um materialismo espontâneo (ainda que permeado por componentes mágicos) e tende a favorecer a percepção de um vínculo imediato entre as representações e as práticas dos sujeitos. Um desenvolvimento multimilenar fez com que o domínio e o controle da natureza exigissem e impusessem aos homens, para responder às demandas da sua reprodução vital, transformações substantivas nas suas relações com a natureza (o intercâmbio sociedade/natureza é operado através do trabalho) e nas suas próprias interações – e tais transformações desbordaram largamente o conteúdo e as formas do conhecimento propiciado imediatamente pelo exercício do trabalho. A partir de determinado grau a que se alçou o processo histórico-social, as limitações do pensamento acumulado (produzido com base no reflexo fundado na vida cotidiana) foram-se revelando progressivamente – mas o processo histórico-social mesmo pôs alternativas para ultrapassá-las: emergiu a diferenciação daquele acúmulo, configurando os modos específicos dos reflexos científico e estético. Como Lukács destaca, o pensamento cotidiano não desapareceu com o surgimento das duas novas modalidades de reflexo – permaneceu e permanece, alterando-se com a recepção de componentes derivados dos novos reflexos; de fato, o reflexo que o funda provém sempre da insuprimível cotidianidade, mantendo, entretanto, uma contínua interação com o desenvolvimento da ciência e da arte.
É na segunda seção desse capítulo 1 que Lukács abre a via para a análise da diferenciação que, por força de novas necessidades sociais, conduzirá do pensamento cotidiano às duas outras modalidades de reflexo. Recorrendo criticamente a estudos antropológicos e etnológicos, Lukács tematiza longamente questões extremamente relevantes acerca da ponderação dos elementos mágicos (Lukács admite a existência de um “período mágico” no curso inicial do pensamento cotidiano) e dos primeiros avanços nos estágios mais primitivos do reflexo próprio da cotidianidade (p. ex., a tendência da sua evolução no sentido de tornar conscientes seus componentes inconscientes). Discute ainda a emersão, na vida cotidiana, de comportamentos que, derivados da magia, apontam para a configuração de uma concepção religiosa do mundo; quando esta se desenvolve, cria-se, a partir da fé depositada na ideia de um demiurgo responsável pela existência do mundo, a base para uma apreensão antropomorfizadora da vida cotidiana – uma antropomorfização diversa daquela que marcará a arte, que é cismundana por excelência. Lukács procura demonstrar que tal concepção religiosa do mundo não colide com o pensamento cotidiano, mas é compatível com ele (o filósofo discorre sobre uma “proximidade estrutural” dessa concepção à vida cotidiana). A argumentação lukacsiana é toda direcionada para demonstrar a contradição – e, no limite, o antagonismo – que se instaura entre o reflexo antropomorfizador e as tentativas de obter um conhecimento científico e veraz da realidade objetiva. Dessa contradição resultarão mais tarde as lutas que os representantes da ciência haverão de travar contra as representações antropomorfizadoras corporificadas em concepções de mundo.
O objeto do capítulo 2 é precisamente o problema da desantropomorfização do reflexo na ciência. Segundo Lukács, a primeira diferenciação histórica entre o reflexo que funda o pensamento da vida cotidiana e o reflexo que embasa o conhecimento científico já é constatável na Antiguidade, precisamente na Grécia clássica – diferenciação estudada na primeira seção desse capítulo. Nela, depois de perquirir as posições expressas por filósofos gregos, dos pré-socráticos a Aristóteles, Lukács considera que se estabeleceram duas ideias básicas: a de que uma apreensão científica da realidade objetiva só é possível com a ultrapassagem de concepções antropomorfizadoras (tanto do objeto quanto do sujeito do conhecimento) e a de que essa apreensão só pode operar-se no marco de uma perspectiva filosófica materialista; considera, também, que os fundamentos metodológicos para operar essa apreensão científica já estão postos na filosofia grega. Fica clara a significação dessa conquista do pensamento grego, mas igualmente se evidenciam os seus limites – próprios de um materialismo filosófico ainda pouco desenvolvido.
É na segunda seção desse capítulo 2 que Lukács – depois de registrar que as tendências antropomorfizadoras predominaram no final da Antiguidade e imperaram no essencial do pensamento da Idade Média – constata que o “princípio antropomorfizador” voltará a ser atacado no Renascimento, inaugurando o que há de ser o pensamento próprio da Idade Moderna num período de desenvolvimento historicamente novo. Nesse período, emergente em consonância com as transformações postas em movimento pelas nascentes relações econômicas e sociais capitalistas, as tendências desantropomorfizadoras avançam e tendem a universalizar-se; concomitantemente, esse pensamento próprio da Idade Moderna vê-se imerso numa “situação peculiar”:
o princípio da cientificidade ter adquirido uma universalidade desconhecida até então e simultaneamente o antagonismo entre ela e a visão de mundo da filosofia nunca ter sido tão drástico […] explica-se exatamente pelo que expusemos até aqui: aquela imagem de mundo que impõe o reflexo desantropomorfizador da realidade ao homem mostra-se imprescindível no plano da prática econômica, mas cada vez menos sustentável para a burguesia e sua intelectualidade no plano ideológico.
Essa peculiar situação – já visível no curso do Renascimento e muito evidente nos seus desdobramentos ulteriores, agravada por novas variáveis postas pela dinâmica do capitalismo já consolidado, particularmente as implicações no processo econômico-social provindas da Revolução Industrial e no processo político provindas da Revolução Francesa –, essa peculiar situação é analisada por Lukács, nessa densa segunda seção do capítulo 2, em seus múltiplos aspectos. Para o filósofo, o “princípio da desantropomorfização” que funda a ciência moderna e acabou por se impor, ainda que de modo sumamente contraditório, é, essencialmente, um princípio de progresso e de humanização 272. Por outra parte, na exposição que oferece do processo de desantropomorfização que triunfa na ciência moderna, Lukács explicita com ênfase que ele estabelece uma clivagem em relação ao reflexo estético:
quanto mais a ciência avança com êxito na desantropomorfização de seu reflexo e na elaboração conceitual deste, tanto mais intransponível se torna o abismo entre reflexo científico e reflexo estético. Após estes se desvincularem {da} unidade indiferenciada do período mágico, seguem-se longos períodos de desenvolvimento paralelo, de fecundação recíproca imediata, de manifestação diretamente visível de que os dois campos refletem a mesma realidade. Naturalmente essa afirmação é válida ainda hoje; porém a ciência avançou por campos que não podem mais ser apreendidos pelo antropomorfismo da arte de nenhuma maneira. Desse modo, terminam a participação da arte nas descobertas científicas, como ocorreu na Renascença, e a passagem direta dos resultados científicos para a imagem de mundo da arte. […] Porém seria rigidez metafísica inferir disso uma cessação completa das inter-relações entre ciência e arte. […] Há muitas tendências em ação que as intensificam; a cessação de uma inter-relação imediata […] pode ser substituída por inter-relações mais fecundas, se bem que mais mediadas, ou seja, inter-relações que entram em vigor mediante a fecundação da imagem de mundo universal da arte pela ciência e vice-versa.
Uma vez posta à luz, mesmo que liminarmente, a problemática da separação do reflexo científico em face do pensamento próprio da vida cotidiana, Lukács passa à problemática da separação da arte relativamente à vida cotidiana – a ela dedica o capítulo 3 deste volume 1 da Estética. Todo esse capítulo volta-se para as questões prévias e de princípio concernentes a tal separação, extraindo, para sustentar a sua argumentação, insumos da herança cultural histórico-filosófica e literária que Lukács tão bem conhecia (de Vico a Goethe) e da tradição marxista (especialmente Marx e Engels). Nele, o filósofo mostra que, comparativamente ao processo de desenvolvimento do reflexo científico, o do reflexo estético foi mais lento, mais complexo e mais tardio – e diferente a sua orientação determinante. E, mesmo em relação à dinâmica histórica do trabalho, diz Lukács, o reflexo estético exibe a tardança da sua emersão. E também o filósofo não deixa de tangenciar a cismundanidade que caracteriza o estético. No entanto, o movimento analítico fundamental que se opera nesse capítulo 3 diz respeito à antropomorfização que é específica do reflexo estético e que nada tem de comum com aquela contra a qual enfim triunfaram, como se viu em parágrafos precedentes, no pensamento moderno a ciência e, mais tardiamente, a arte. No reflexo estético que então se desenvolveu, emergiu e se consolidou, como constitutivo necessário da obra de arte, uma outra modalidade de antropomorfização, estrutural e qualitativamente diferente daquela que imperou no fim da Antiguidade e por toda a Idade Média – e na qual o homem, como sujeito e objeto, estará sempre presente.
No capítulo 4, com que se encerra este volume 1 da edição da Boitempo da Estética, o filósofo discorre acerca de fenômenos e processos que, emergindo na vida cotidiana (e fundamentalmente vinculados ao complexo do trabalho), não possuem originalmente funções estritamente estéticas, mas que incidirão no desenvolvimento do reflexo especificamente estético. O primeiro dos fenômenos examinados por Lukács é o ritmo – que ele apreende como direta e geneticamente conexo ao trabalho. No curso desse exame, o filósofo retoma e aprofunda reflexões que envolvem a teoria filosófica do reflexo, e a sua argumentação demonstra que o ritmo, tal como se põe fisiologicamente ou determinado pela natureza, não é um elemento significativo para compreender a gênese do reflexo estético. Mas – e este é um aspecto importantíssimo da análise lukacsiana –, quando se trata especificamente de estética, o ritmo ganha enorme relevância, porquanto adquire a dimensão de componente viabilizador da evocação, traço necessário de toda verdadeira obra de arte. Em seguida, Lukács se detém na consideração dos problemas postos pela simetria e pela proporção; a sua fina argumentação, remetendo a filósofos (p. ex., Kant), a estudiosos da arte (p. ex., Burckhardt, Wölfflin, Riegl, Fischer) e a artistas (p. ex., Dürer, Leonardo), dá ênfase especial às questões da proporcionalidade – com o que ele passa à sua delicada (e excelente) análise da ornamentística. Então Lukács distingue a “arte puramente ornamental”, cujos elementos construtivos são as formas abstratas de reflexo (ritmo, simetria, proporção etc.), da “arte que reflete a realidade concretamente, conforme o conteúdo” – ressalvando que os limites entre elas frequentemente se esbatem e apresentam muitas transições. O filósofo desconstrói a tese que vê o gosto humano pelo adorno como extensão e/ou derivação do gosto animal e levanta a hipótese de que o adorno humano nasceu do desenvolvimento de técnicas do trabalho. A argumentação lukacsiana é realmente criativa, como se verifica na relação que estabelece entre a ornamentística e a arquitetura, e se desdobra no questionamento do que, em arte, se pode qualificar como profundo.
Logo no segundo parágrafo desta “Apresentação”, adverti o leitor da relativa autonomia deste volume 1 da Estética e, ao mesmo tempo, da sua imprescindibilidade para a compreensão de toda a obra. Espero que o breve excurso apresentado nestas páginas contribua em alguma medida para justificar aquela advertência – e, também e enfim, para que o leitor, municiado com um mínimo de informação, possa aproximar-se mais proveitosamente do longo texto de Lukács, complexo e difícil, porém admirável porquanto iluminador dessa objetivação humana fascinante que é a arte.
Lukács pensa a arte como um reflexo da realidade, construído histórica e socialmente, que produz uma modalidade de conhecimento tão legítima quanto a ciência; ele não estabelece entre esta e aquela nenhuma hierarquia valorativa e as compreende, a ambas, em interação sempre mediada com a vida cotidiana. O filósofo, porém, distingue o que cada uma delas entrega ao sujeito humano diretamente envolvido na sua criação e na sua recepção: a ciência oferece-lhe um conhecimento objetivo, sempre progressivo e revisável, que lhe permite o domínio e o controle do seu ambiente natural e social; a arte, com seu acervo crescentemente cumulativo, propicia-lhe um conhecimento sensível de si mesmo, um autoconhecimento do seu ser como expressão singular do gênero humano. As duas modalidades de conhecimento, relativas a uma única e mesma realidade objetiva, processam-se mediante meios específicos – e, sobretudo, têm funções sociais também específicas.
Lukács sustenta que a função social própria da ciência é potencializar as forças produtivas humanas para que a sociedade tenha asseguradas as condições (materiais e ideais) necessárias para otimizar os processos demandados pela totalidade da reprodução social. A função social específica da arte, que só ela pode desempenhar racional e fundadamente, é viabilizar aos indivíduos, que se inserem na vida cotidiana e nela se comportam necessariamente como homens inteiros, a alternativa para se elevarem ao nível do gênero humano, identificando-se com a causa e o destino da humanidade; essa elevação lhes possibilita a experiência catártica de se tornarem inteiramente homens – concretizando o projeto fáustico do homem total plenamente desenvolvido. De experiências catárticas – envolventes de cientistas e pesquisadores, de criadores de obras de arte e seus fruidores, que implicam uma suspensão temporária da imersão na vida cotidiana, uma vez que esta é insuprimível para todos os homens – pode (e deve) resultar uma individualidade consciente de si e da sua pertença ao gênero humano. Homens libertos dos fetiches que até hoje impedem a clara compreensão da vida cotidiana, homens absolutamente necessários para construir uma humanidade emancipada.
Compreende-se então por que Lukács, ao cabo do seu longo caminho até a Estética, atribuiu à arte uma função social desfetichizadora e confiou a ela a constituição da autoconsciência do desenvolvimento da humanidade.
Recreio dos Bandeirantes, 13 de abril de 2023
Em parceria com a Boitempo Editorial, o Outras Palavras irá sortear dois exemplares de Estética: a peculiaridade do estético – Volume 1, de György Lukács, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 21/4, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso! nosso Apoia.se para ter acesso!
Outras Palavras disponibiliza sorteios, descontos e gratuidades para os leitores que contribuem todos os meses com a continuidade de seu projeto de jornalismo de profundidade e pós-capitalismo. Outros Quinhentos é a plataforma que reúne a redação e os leitores para o envio das contrapartidas, divulgadas todas as semanas. Participe!
NÃO SABE O QUE É O OUTROS QUINHENTOS?
• Desde 2013, Outras Palavras é o primeiro site brasileiro sustentado essencialmente por seus leitores. O nome do nosso programa de financiamento coletivo é Outros Quinhentos. Hoje, ele está sediado aqui: apoia.se/outraspalavras/
• O Outros Quinhentos funciona assim: disponibilizamos espaço em nosso site para parceiros que compartilham conosco aquilo que produzem – esses produtos e serviços são oferecidos, logo em seguida, para nossos apoiadores. São sorteios, descontos e gratuidades em livros, cursos, revistas, espetáculos culturais e cestas agroecológicas! Convidamos você a fazer parte dessa rede.
• Se interessou? Clica aqui!
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

