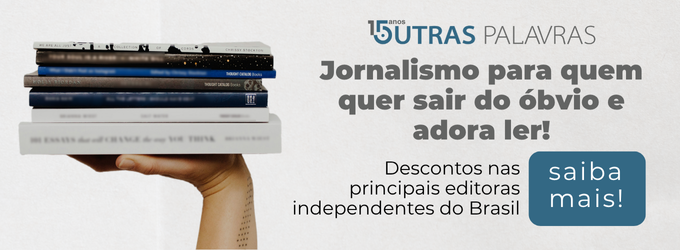Mares, caixas pretas da exploração capitalista
Eles são mais que peças-chave do comércio global. Opacos aos olhos da sociedade, distantes da regulação, tornam-se espaços perfeitos para a exploração predatória do trabalho, da pesca e do turismo. Superar o sistema exige disputá-los
Publicado 18/09/2025 às 18:51 - Atualizado 23/12/2025 às 16:56

Liam Campling e Alejandro Colás em entrevista a Xabier Gangoiti, na Jacobin América Latina | Tradução: Rôney Rodrigues
Em O capitalismo e o mar, os economistas políticos Liam Campling e Alejandro Colás mostram como o oceano emergiu como uma peça central da ordem capitalista globalizada: um espaço oculto, juridicamente ambíguo e fisicamente distante que permite extrair valor, esquivar regulamentações e reproduzir a divisão do trabalho. Do contêiner às bandeiras de conveniência, o mar é o palco onde o capital circula, acumula e se protege.
Longe de ser uma zona sem lei, os mares são profundamente regulados para servir ao comércio, enquanto a crise climática, a competição geopolítica e a financeirização reconfiguram suas rotas. Campling e Colás não propõem a retirada do sistema logístico global, mas a sua reapropriação: repensar a infraestrutura marítima como base para um planejamento democrático e pós-capitalista.
Nesta entrevista com Xabier Gangoiti para a Jacobin, eles explicam como o capital molda tanto as rotas oceânicas quanto a vida em terra firme, desde o turismo de cruzeiros até os iates dos “tech bros”. Se quisermos desafiar o capitalismo, também teremos que disputar o mar.
O Mediterrâneo continua sendo uma das fronteiras mais letais do planeta, com mais de 34 mil vidas perdidas e corpos desaparecidos desde 2015. No entanto, esta tragédia mal tem eco no debate público, e a Europa continua a endurecer suas políticas migratórias. O livro de vocês argumenta que o capitalismo se alimenta da invisibilidade do mar. Por que é tão fácil ignorar as dinâmicas espaciais marítimas? Até que ponto o capital depende dessa ocultação para seu funcionamento?
Interessam-nos especialmente as distorções ideológicas e as desigualdades materiais geradas pela circulação de mercadorias no mar. Há uma razão física fundamental pela qual o marítimo permanece out at sea, out of sight (em alto mar, fora de vista): muito poucas pessoas hoje têm uma experiência cotidiana do mar, e muito menos do transporte marítimo. Esta separação física e espacial de sete décimos da superfície do planeta permite aos capitalistas aprofundar a opacidade, a obscuridade e a mistificação inerentes à troca de mercadorias sob o capitalismo.
Isso se manifesta através de artimanhas legais como as bandeiras de conveniência ou a contabilidade offshore, e por meio de regimes de trabalho marítimos que mantêm marinheiros e pescadores fora do alcance dos órgãos reguladores e da proteção sindical. Em muitos aspectos, o contêiner de transporte é a mercadoria capitalista por excelência: um artefato padronizado e transnacional que atua como equivalente universal na produção de valor através do transporte, mas que pode conter qualquer coisa, desde patinhos de borracha até pessoas vítimas de tráfico.
A ideia de que o mar não tem lei é um mito conveniente para os capitalistas marítimos. Existem muitas normas legais, industriais, ambientais e humanitárias que se aplicam ao mar; o problema é que são aplicadas de forma desigual. Fatores geográficos e físicos influenciam, sim, mas em última instância, esta desigualdade na aplicação da lei é uma decisão política e econômica tomada pelos Estados e pelo capital. O fundo do mar Mediterrâneo tornou-se, de fato, uma vala comum para aqueles que tentam atravessá-lo em busca de uma vida melhor na Europa, reflexo de um racismo antinegro profundamente arraigado em todas as suas costas. Mas trata-se de uma catástrofe humanitária forjada principalmente em terra firme, por autoridades e atores políticos concretos, com nomes e sobrenomes.
O governo dos Estados Unidos gerou um alarme generalizado ao manifestar seu interesse em controlar espaços marítimos-chave como o Canal do Panamá — que continua sendo uma artéria estratégica do comércio global — e até mesmo a Groenlândia, onde prevê-se que o derretimento do gelo abrirá novas rotas marítimas no Ártico. Longe de serem movimentos isolados, estas ações refletem uma crescente consciência por parte das grandes potências sobre a importância estratégica dos corredores marítimos em um mundo alterado pela crise climática.
Essa fase de competição territorial oceânica e rivalidade geopolítica no mar já está em andamento há bastante tempo. A China foi admitida como observadora credenciada no Conselho do Ártico em 2013, porque Pequim — como outras potências econômicas não árticas — antecipou as oportunidades comerciais e extrativistas que surgiriam com o derretimento polar. Também foram administrações democratas nos Estados Unidos que impulsionaram o “pivô para a Ásia” e, mais recentemente, a “estratégia do Indo-Pacífico”.
A ordem executiva de Trump sobre a “Restauração do Domínio Marítimo dos Estados Unidos” combina uma política neomercantilista de construção naval e cabotagem com referências mahanianas à necessidade de revitalizar a frota estadunidense de águas azuis e assegurar o controle sobre os principais gargalos marítimos, com especial ênfase na segurança das rotas árticas.
É provável que, além do conflito com outras nações árticas — incluindo aliados da OTAN como Canadá e Dinamarca — resurjam tensões no mar da China Meridional e no estreito de Taiwan. No entanto, grande parte desta dinâmica poderia ser transitória (o último suspiro de um modelo falido de capitalismo fóssil e militarizado?).
O desafio intergeracional que sublinhamos no livro é outro: a combinação do aquecimento oceânico — já existente e em crescimento — com a acidificação, as zonas mortas do oceano e a inevitável subida do nível do mar. As respostas geopolíticas a estas dinâmicas continuam sendo, em grande medida, desconhecidas.
Desde as origens do capitalismo, governantes, empresas, trabalhadores e até mesmo romancistas imaginaram o mar como uma fronteira de oportunidades e, ao mesmo tempo, uma zona de perigo. Na seção final do livro, vocês exploram o offshore não apenas como uma construção legal ou financeira, mas também como uma fantasia utópica: um espaço livre de interferência política e de conflito de classes. Em um mundo cada vez mais marcado pelo colapso ecológico, pela agitação política e pela guerra, vocês acham que esses espaços offshore de lazer e evasão — iates, cruzeiros, ilhas privadas — adquirirão um papel mais central na forma como as elites imaginam a sobrevivência e a soberania?
Não abordamos este tema em profundidade no livro, mas certamente parece haver uma continuidade entre os iates, as plataformas marítimas e as ilhas privadas, e os refúgios pós-apocalípticos. Estes espaços não são apenas símbolos de status: também refletem um desejo de isolamento, evasão e controle por parte de certas elites. Não se trata apenas do oceano: o espaço exterior e regiões terrestres remotas também estão sendo apropriados por tech bros survivalistas e seus aliados de extrema direita.
Em suas fantasias masculinas e libertárias, estes atores são incapazes de compreender sequer os fundamentos básicos da civilização humana: organização social, produção coletiva, reprodução social e convivência com — e através de — a natureza. A dizer verdade, adoraríamos que todos esses tech bros se reunissem e embarcassem em um cruzeiro permanente em alto mar, ou diretamente se lançassem em um foguete rumo a Marte.
Cidades como Veneza, Barcelona ou Dubrovnik estão cedendo sob a pressão do turismo de cruzeiros. Milhares de pessoas desembarcam, inundam as ruas por algumas horas e retornam ao mar. Este não é outro exemplo de como o capitalismo marítimo não apenas extrai valor em alto mar, mas também transforma a vida em terra firme, muitas vezes em detrimento de quem vive lá?
Totalmente. Existe atualmente uma rica literatura interdisciplinar, em diferentes idiomas, que analisa os planos de “regeneração” de zonas costeiras associadas à expansão dos portos de contêineres. As ambivalências e distorções do capitalismo orientado para o mar tornam-se evidentes na maneira como as costas são valorizadas por promotores imobiliários e turísticos como paraísos exóticos, à margem da sociedade cotidiana — “mar, areia e sexo” no estereótipo popular anglo-saxão, ou “piscinas infinitas” em sua versão mais exclusiva —, ao mesmo tempo que concentram algumas das formas mais atrozes de exploração laboral.
Referimo-nos aqui a trabalhadores do setor hoteleiro, de lazer e hotelaria, em sua maioria precários e empregados de forma temporária ou sazonal. O trabalho de Francesca Savoldi sobre os portos de Valência ou do Pireu, por exemplo, documenta as consequências sociais e ecológicas da expansão portuária sobre bairros operários que durante décadas sustentaram essas comunidades portuárias.
Talvez não haja nada excepcional nestas experiências costeiras de exploração capitalista, especulação e destruição ecológica. Mas existe um contraste particularmente intenso entre a forma e a aparência destas paisagens, uma tensão que a liminaridade terrestre da costa não faz senão acentuar.
Uma transição verdadeiramente verde — uma que priorize as necessidades humanas acima da acumulação de capital — provavelmente exigiria formas de produção e consumo mais localizadas, especialmente em termos de energia renovável. No entanto, vivemos em um mundo profundamente moldado pelas vastas redes logísticas e tecnológicas construídas pelo capitalismo, em particular através do espaço marítimo.
Neste contexto, é possível “desvincular-se” da fábrica planetária sem cair no isolacionismo ou na austeridade? Como poderia ser construído um sistema de distribuição coletiva e planejamento democrático, globalmente conectado mas pós-fóssil?
Bem, essa não é a hipótese comunista? Como seria um contêiner comunista? Não vemos nenhum benefício real em uma desvinculação autárquica da economia mundial; há pouquíssimos exemplos históricos disso que nos pareçam atraentes. Mas existem formas de socializar e reutilizar a logística e a infraestrutura capitalistas para satisfazer necessidades mais democráticas. Um mundo pós-capitalista, presumivelmente, continuará precisando comercializar medicamentos e tecnologia, e quererá facilitar a livre mobilidade para o trabalho e o lazer.
A questão, então, passa a ser uma questão de escala e poder político: qual é a escala mais eficaz para socializar a distribuição coletiva? Regional, entre cidades, nacional, macrorregional? Toda sociedade que aspire a uma democracia significativa terá que consumir coletivamente menos e redistribuir mais.
Da mesma forma, os tempos serão distintos: viajar de trem ou de navio pode ser mais lento que voar, mas isso abre a possibilidade de viver, trabalhar e desfrutar de formas radicalmente distintas. Existem maneiras de prefigurar esse mundo, por exemplo, por meio de uma semana laboral de quatro dias, ou transformando profundamente as cadeias de suprimentos de alimentos e os padrões de consumo nas grandes cidades do Norte Global.
Mas estas devem ser mudanças estruturais e duradouras em nossas rotinas cotidianas, e isso só será possível com um amplo respaldo popular, que por sua vez requer organização política e poder democrático. O mundo marítimo, em muitos aspectos, é simplesmente um conduto ou um palco: não a causa dos desequilíbrios de poder e das lutas que os acompanham.
Embora escrito por economistas, O capitalismo e o mar está impregnado de literatura, cultura e até mesmo poesia. Foi um desafio integrar esses elementos em um campo acadêmico que costuma ser rígido? Ou foi uma aposta necessária para captar a profundidade política e simbólica do mar?
Provavelmente um pouco de ambas as coisas. Nenhum de nós dois tem formação em estudos literários ou culturais, então as referências mais estéticas do livro buscavam, por um lado, aliviar o texto e, por outro, mostrar até que ponto o mar — e as múltiplas formas humanas e naturais que transporta e contém — esteve profundamente arraigado na cultura de diferentes sociedades
Nosso objetivo era dar vida ao mar como um espaço socio-natural carregado de vitalidade, dinamismo e, é claro, crueldade e barbárie: tudo aquilo presente na experiência humana que, em nossa opinião, se refrata de forma particular através do poder específico do capitalismo.
O mar tem sido, dentro e fora do capitalismo, uma fonte potente de mitos, linguagem, narrativa, canções, música e poesia. Interessava-nos especialmente sublinhar o lugar da ficção, do crédito, das utopias e da fantasia no desenvolvimento capitalista através do mar: não para denunciá-las como meras ilusões ou encobrimentos, mas para assinalar que os imaginários marítimos também podem ser distorções materiais e concretas de uma realidade vivida em e através dos oceanos.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.