Cálculo, Capital e Ciência: os nexos reveladores
Em colagem de citações, cenas de uma evolução histórico-filosófica. Como moeda e mensuração, marcas da modernidade, repercutiram no pensamento e produção científica. Por que o neoliberalismo é o ápice desta relação. O que virá a seguir?
Publicado 28/11/2025 às 19:14 - Atualizado 23/12/2025 às 17:54
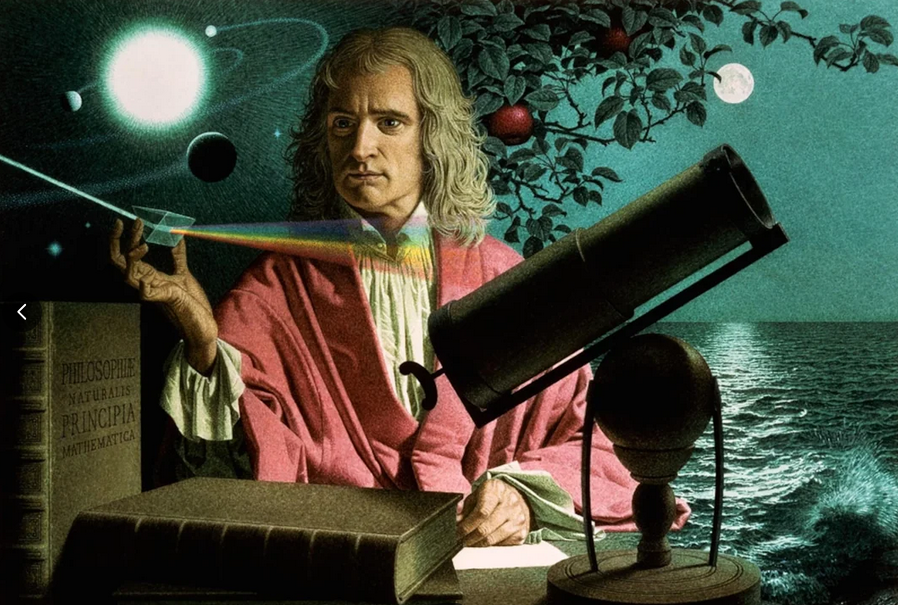
Título original:
Capitalismo e ciência moderna: uma colagem de citações
Este trabalho não constitui um artigo, mas sim uma colagem de citações (sendo algumas autocitações), entremeadas com um texto cujo objetivo é explicitar a linha de pensamento que as ordena.
O tema central, no plano mais abstrato é o par conceitual qualidade/quantidade. No mais concreto, trata-se de um estudo histórico sobre o processo de quantificação, presente tanto no capitalismo quanto na ciência moderna, impulsionado em ambos pelo uso do dinheiro, enquanto uma entidade essencialmente quantitativa. O capitalismo e a ciência moderna constituem, na modernidade, forças quantificadoras das sociedades e do autoentendimento das sociedades.
A seção 1 é um prolegômeno em que se definem os conceitos de quantificação, mensuração e matematização, os quais desempenham papéis centrais ao longo do trabalho. (Em vez de ‘mensuração’, usarei, ocasionalmente, ‘medição’, como sinônimo). As demais seções têm a forma de um recorte, uma sequência de períodos ou momentos históricos, como fotogramas de um filme, a saber, grosso modo:
- Séc. XIV (com algumas referências a Aristóteles). Quantificação do conhecimento pelos escolásticos. A exposição deste período é de longe a mais extensa, vai da seção 2 à 10.
- Séc. XVI-XVII. Invenção de métodos de mensuração (que permitem a matematização do conhecimento da natureza), por Galileu. Seções 11 e 12.
- Séc. XVIII. O utilitarismo como força quantificadora: as ideias de Bentham. Seções 13 e 14.
- Séc. XIX. O triunfo da matematização da ciência: o lema de Lord Kelvin. Seção 15.
- Séc. XX. A matematização da metaciência: a cientometria de Solla Price. Seções 16 e 17.
- Sec. XX-XXI. Neoliberalismo e quantificação Seção 18.
Sumário
- 1. Quantificação, mensuração e matematização
- 2. A quantificação da física pré-moderna
- 3. Internalismo e externalismo na história da quantificação
- 4. A monetização da sociedade europeia
- 5. Entram em cena os escolásticos
- 6. O dinheiro como medida de todas as coisas
- 7. O dinheiro mede qualidades
- 8. As contribuições do Merton College e da Universidade de Paris
- 9. Tomás de Aquino e a troca justa
- 10. A inexistência de medições
- 11. As mensurações de Galileu
- 12. A matemática de Galileu
- 13. O utilitarismo como força quantificadora; as ideias de Bentham
- 14. Marx contra Bentham
- 15. O triunfo da matematização; o lema de Lord Kelvin
- 16. A cientometria
- 17. Crescimento exponencial da ciência: evidências e implicações
- 18. Neoliberalismo e quantificação
1. Quantificação, mensuração e matematização
A definição dos três conceitos se faz por meio de uma autocitação, proveniente do livro A mercantilização da ciência (Oliveira, 2023; daqui por diante designado por MzC).
Tomando a quantidade como um conceito primitivo, definimos a quantificação como o processo de desenvolvimento da visão da realidade em termos de quantidade. A quantificação é um processo cognitivo, situa-se na esfera das ideias, na mente dos seres humanos. A mensuração situa-se na esfera da prática, é uma forma de interação com a realidade que torna mais definidos, mais precisos, aspectos da visão quantitativa. A quantificação pode existir sem a mensuração. Um bom exemplo dessa possibilidade é a Geometria Euclidiana. O teorema de Pitágoras refere-se, evidentemente, a quantidades: os tamanhos dos lados de um triângulo retângulo. Nada há de absurdo em pensá-lo enquanto uma lei empírica, que pode ser testada pela medição dos lados de triângulos reais, isto é, entidades materiais próximas da ideia do triângulo retângulo. Porém tal operação é exterior ao universo conceitual da Geometria Euclidiana. A mensuração, por outro lado, pressupõe a quantificação: para que algo seja medido, precisa primeiro ser quantificado. O termo matematização, por fim, designa as duas operações em conjunto (matematização = quantificação + mensuração). (MzC, p. 216)
2. A quantificação da física pré-moderna
Isso posto, o ponto de partida é a seguinte passagem de Marshall Clagett:
Com certeza, um dos mais significativos desenvolvimentos no surgimento da física pré-moderna foi sua quantificação. Com frequência tem sido sustentado que tal quantificação ou matematização ocorreu nos séculos XVI e XVII, sob a influência da introdução da matemática de Arquimedes e seu uso e aplicação por Galileu Galilei. É inquestionável que a divulgação das obras e do espírito arquimediano muito fizeram no sentido de moldar a forma que assumiu a investigação matemática dos fenômenos naturais. Porém tornou-se mais visível, na última geração, que o interesse do século XVI no tratamento matemático, quando não experimental, de questões naturais é pelo menos parcialmente produto de investigações seguindo a linha adotada nas universidades de Oxford e Paris no século XIV. Tal interesse na quantificação do físico nessas universidades manifestou-se particularmente no estudo quantitativo do movimento local. Pela primeira vez na história, os filósofos da natureza estavam pensando seriamente na cinemática, o estudo do movimento em termos das dimensões de espaço e tempo. (Clagett, 1950, p. 131-2)
3. Internalismo e externalismo na história da quantificação
Como explicar esse impulso quantificador do século XIV? Quais foram as circunstâncias históricas que levaram a seu surgimento? A resposta defendida a seguir provém de dois escritos do medievalista Joel Kaye: o artigo “The impact of money on the development or fourteenth-century scientific thought” (Kaye, 1988), e o livro Economy and nature in the fourteenth century: money, market exchange and the emergence of scientific thought (Kaye, 2004).
Segundo o autor, nos estudos históricos do movimento quantificador a que Clagett se refere, prevalece uma visão internalista, que busca explicá-lo situando-o na tradição do pensamento filosófico. Embora não excluindo esse aspecto como parte da explicação, Kaye trata do movimento também de uma perspectiva externalista, trazendo à tona características econômicas e sociais da época enquanto fatores que favoreceram seu surgimento. Entre tais fatores, o mais significativo é o que diz respeito ao dinheiro, e aí se encontra a conexão do capitalismo com a ciência moderna, em suas origens. Expondo o objetivo central da obra, diz o autor.
Neste livro sugiro uma explicação histórica, mais ampla do que as que têm sido propostas, para as novas direções tomadas na filosofia natural do século XIV. Argumento que a transformação do modelo conceitual do mundo natural, operada no interior de disciplinas técnicas das universidades de Oxford e Paris, aproximadamente de 1260 a 1380, foi fortemente influenciada pela rápida monetização da sociedade europeia que ocorria nessa época, fora da Universidade e da cultura livresca. Analiso o impacto do mercado monetizado no mais notável e característico interesse na filosofia natural do período: a preocupação com a mensuração, gradação e quantificação das qualidades. Investigo a transferência de insights provenientes do entendimento filosófico do mercado monetizado para o entendimento filosófico da natureza. E descrevo como as mudanças essenciais para a emergência da ciência moderna […] tinham suas raízes na experiência e compreensão da sociedade monetizada. (Kaye, 2004, p. 2)
4. A monetização da sociedade europeia
O aumento do volume da moeda em circulação e a frequência de transações monetárias são apenas dois dos muitos fatores em jogo. O processo de monetização era inextricavelmente ligado à chamada “a revolução comercial do século XIII”: o rápido crescimento do comércio, dos mercados e cidades; a aceleração da produção agrícola e artesanal; a evolução de empresas e técnicas comerciais especializadas; a penetração de valores comerciais em todas as áreas da vida social. Neste sentido, o processo de monetização aparece primeiro nas cidades italianas em fins do século XI e no século XII. Quanto à Inglaterra e à França, os historiadores identificam o “longo” século XIII – isto é, de aproximadamente 1180 a 1320 – como o período da monetização mais rápida. (Kaye, 2004, p. 15-16)
5. Entram em cena os escolásticos
A grande e crescente presença do dinheiro na vida social despertou o interesse dos escolásticos, tanto como elemento de seus estudos sobre a sociedade, quanto pelo envolvimento concreto em transações monetárias. Descrevendo esse envolvimento, diz nosso autor:
Os estudantes e mestres em Oxford e Paris viviam em ambientes urbanos onde os efeitos da monetização e comercialização podiam ser vistos e experimentados por toda parte. Caso o estudante passasse pela High Street em Oxford, ou a Grand pont em Paris, provavelmente se veria no meio de mercados cheios de gente, enquanto media o preço de uma desejada caneta, ou livro, ou caneca, comparando-o com as moedas em seus bolsos. Se fosse um estrangeiro na cidade, como era mais provável, entraria em frequente contato com cambistas e com as complexas equações para converter seu dinheiro na moeda aceita localmente. Ele teria que calcular e administrar seus recursos numa sociedade que fornecia numerosas oportunidades para gastá-los. É pouco surpreendente que as mais antigas cartas de estudantes preservadas refletissem a preocupação com a falta de dinheiro, registrando pedidos de ajuda financeira. (Kaye, 2004, p. 6)
É curioso como essa descrição, com os devidos ajustes, vale também para os estudantes universitários nos dias de hoje. O mesmo pode ser dito a respeito dos professores em suas atividades administrativas, como se lê nesta passagem:
Nas universidades, cada exame prestado, cada etapa cumprida e cada título conquistado tinha um preço. Os registros universitários preservados de Oxford e Paris testemunham a diversidade de taxas cobradas e a quantidade de esforço consciente exigido dos mestres escolásticos na estipulação e coleta de seu valor – uma vez que os professores eram quase sempre também administradores. A minuciosa regulação monetária e graduação da vida universitária era ainda mais complicada pelo hábito de ajustar a taxa cobrada em proporção com a capacidade de pagar de cada estudante. […] A evidência do permanente envolvimento burocrático contida nesses registros levou um estudioso moderno a concluir que os mestres do século XIV gastavam tanto tempo com deveres administrativos quanto escrevendo ou dando aulas. (Kaye, 2004, p.7)
A experiência da vida nessas sociedades monetizadas gerou o interesse dos escolásticos pela vida econômica, particularmente o dinheiro, como se constata pelos escritos que deixaram sobre o tema. Como eles se dedicavam também à Filosofia da Natureza, isso permitia que houvesse influências mútuas entre os dois domínios do conhecimento. Tais escritos consistiam em comentários sobre as ideias econômicas de Aristóteles que, por um lado as incorporavam, por outro desviavam-se delas, abrindo o caminho para a visão de mundo própria da modernidade. Entre os comentários mais destacados, encontram-se os de Alberto Magno (1193-1280), Tomás de Aquino (1225-1274) e Nicole Oresme (1323-1382). (MzC, p. 225)
6. O dinheiro como medida de todas as coisas
Uma concepção de Aristóteles não somente adotada, mas também desenvolvida pelos escolásticos é a que identifica três funções do dinheiro: ser meio de troca, medida do valor e reserva de valor. No presente contexto, a mais importante é a da medida do valor, e especialmente a proposição de que o dinheiro é a medida de todas as coisas (ou, mais precisamente, de tudo o que pode ser objeto de troca). O desenvolvimento introduzido pelos escolásticos foi a ampliação implícita da categoria de coisas que podem ser trocadas.
7. O dinheiro mede qualidades
A introdução das ideias econômicas em outros domínios do pensamento pode ser interpretada como tendo sua origem na seguinte linha de raciocínio, cuja conclusão consiste num aspecto em que os escolásticos se desviaram dos ensinamentos de Aristóteles. Muito esquematicamente: 1) tudo o que é trocável é mensurável pelo dinheiro; 2) o conjunto de coisas trocáveis inclui uma variedade imensa de elementos, que se distinguem uns dos outros por suas qualidades; 3) sendo assim, o dinheiro mede qualidades – o que significa que são mensuráveis, contrariando o que afirma a teoria aristotélica das categorias.
A possibilidade de quantificar qualidades representou uma libertação da visão de mundo qualitativa do sistema aristotélico, e deu origem ao que chamaríamos hoje de um vasto programa de pesquisa tendo por objeto a quantificação das qualidades. Kaye o caracteriza como uma tentativa frenética de estender a mensuração e a quantificação às mais variadas e subjetivas qualidades. (Kaye, 1988, p. 256) Os avanços no programa estimularam os escolásticos a introduzir a visão quantificadora na própria Teologia. (MzC, p. 226).
Logo, não apenas entidades que nunca haviam sido medidas antes, mas também as que nunca foram medidas desde então, eram submetidas a algum tipo de análise quantitativa. Questões teológicas a respeito das qualidades mais subjetivas e aparentemente imensuráveis, como a força da caridade cristã, ou a comparação do amor humano com o amor de Cristo, ou os meios pelos quais a qualidade da graça aumenta na alma, eram rotineiramente tratadas como problemas de quantificação, e sujeitas à análise de acordo com os últimos desenvolvimentos na lógica e na matemática da mensuração. (Kaye, 2004, p. 3)
8. As contribuições do Merton College e da Universidade de Paris
No que se refere à Filosofia Natural, os pensadores que contribuíram mais decisivamente para o movimento de quantificação foram os filiados ao Merton College, da Universidade de Oxford, e depois os da Universidade de Paris. Citando Kaye mais uma vez:
Nos primeiros anos do século XIV, filósofos da natureza associados ao Merton College, Oxford, iniciaram uma nova abordagem vital para o estudo do movimento e da mudança qualitativa. Tais estudiosos, agora conhecidos coletivamente como a “Escola de Merton” (Merton School), ou os “Calculadores de Oxford” construíram uma lógica e uma matemática da mensuração altamente técnicas. Eles aplicaram regras matemáticas e esquemas quantitativos a um amplo domínio de questões filosóficas referentes a qualidades e movimentos, incluindo a questão do movimento no espaço. Com o processo de refinar sua análise lógico-matemática da mudança qualitativa, os Calculadores estabeleceram os fundamentos de uma futura Física matemática.
Por volta do segundo quartel do século XIV, mestres da Universidade de Paris começaram a adotar os interesses e métodos dos Calculadores ingleses. Ao fazer isso, a paixão por medir e quantificar que caracterizava a protociência das calculationes rapidamente invadiu todos os setores do pensamento escolástico. (Kaye, p. 3)
Entre os escolásticos da Universidade de Paris, o mais destacado no que se refere à matematização da Física foi Nicole Oresme (c. 1323-1382). Do ponto de vista da história dessa tradição no pensamento escolástico, o pioneiro foi Pierre Duhem. Como diz Sylla em “Medieval quantification of qualities: the “Merton School” ”,
De acordo com a teoria aristotélica, quantidades e qualidades pertencem a categorias separadas. Seria possível supor, portanto, que teóricos aristotélicos não tentariam quantificar qualidades. Durante a Idade Média, entretanto, teóricos basicamente aristotélicos em sua abordagem tentaram quantificar qualidades. A abordagem medieval da quantificação de qualidades que até agora recebeu mais atenção de historiadores modernos é a de Nicole Oresme, que distinguiu claramente entre intensidade e extensão qualitativa e propôs métodos geométricos de representar as configurações de qualidades com base em tal distinção.
No período desde quando Pierre Duhem pela primeira vez tornou famosas as configurações de qualidades de Nicole Oresme, outros historiadores descobriram que o trabalho dele foi precedido e não seguido pelo trabalho, um tanto semelhante, de autores do Merton College, Oxford.” (Sylla, 1971, p. 9).
A relação desse movimento com o dinheiro é bem explicada nesta outra passagem:
O que é mais surpreendente nos Calculadores é sua tentativa “frenética” (frenzied) de estender a mensuração e a quantificação às mais variadas e subjetivas qualidades. Isso entretanto é precisamente o que estava ocorrendo em torno deles à medida em que sua sociedade tornava-se monetizada. O preço em dinheiro de uma mercadoria representava a extensão de um sistema de mensuração comum e objetivo a um domínio de valorização subjetiva. O preço de um objeto é, simplesmente, a expressão de seu valor numérico, a quantificação de sua qualidade. Como disse Karl Polanyi, “A característica específica do uso do dinheiro em pagamentos é a quantificação” (1968, p. 182). Na verdade, todo artigo no mercado é medido quantitativamente, e cada venda demonstra a eficácia dessa medida padronizada na superação de problemas complexos de valorização. (Kaye, 1988, p. 256)
9. Tomás de Aquino e a troca justa
As reflexões dos escolásticos são extremamente abstratas, logicamente muito sofisticadas e intrincadas. Uma exposição sobre seu desenvolvimento extrapola os limites deste trabalho. Vou apenas mencionar um conceito fundamental no debate, o de latitude das qualidades (latitudo qualitatum), ou das formas (latitudo formarum). A origem do conceito encontra-se nas ideias de Tomás de Aquino a respeito do preço justo.
A partir dessa origem o conceito foi se transformando e:
Por volta do segundo quartel do século XIV, nos escritos dos Calculadores e no trabalho de certos filósofos da natureza, a latitude passou de uma descrição de uma faixa abstrata de valores a algo tendo existência real enquanto um contínuo de mensuração fisicamente identificado como a intensidade num dado ponto. Passou a ser imaginado (nas palavras de Edith Sylla), no modelo da “linha geométrica”, como “um contínuo homogêneo” composto de partes qualitativas. (Kaye, 2004, p. 187)
Para substanciar suas teses referentes ao papel do dinheiro na matematização do conhecimento da natureza, além de proposições gerais, Kaye expõe e discute passagens de determinados autores. Como exemplos, vale a pena registrar duas delas.
Referindo-se a um texto de Henry de Ghent [1217-1293], diz Kaye
Uma das primeiras questões econômicas que provocaram esse reconhecimento de que o dinheiro mede e quantifica a indigentia [no sentido de ‘carência’] diz respeito ao preço justo e à permissibilidade do lucro do comerciante. Seria lícito revender alguma coisa por mais do que se havia pago por ela? Essa questão era crítica. Se assim for, de onde viria essa superabundantia – o valor acrescentado? Tal questão era crítica para a manutenção da ideia da igualdade na troca.
A partir do século XIII, a resposta em geral dada tem dois níveis: revender por mais é violar a “igualdade natural”, a não ser que a mercadoria revendida tenha sido melhorada pelo trabalho. Embora consciente do caráter tradicional de suas posições a respeito da economia, Henry de Ghent pertencia ao grupo de pensadores que permitia aos comerciantes expandir a igualdade aritmética entre o preço de compra e o de venda pela cobrança pelo trabalho de transporte, que ele considerava um melhoramento legítimo. Além disso ele reconhecia que havia qualidades mentais que o comerciante de sucesso empenhava nessa tarefa, as quais incrementavam o valor de seu trabalho. Sabendo onde e como comprar e vender, a “expertise” e o “cuidado” tinham um valor em si mesmos – valor que podia ser medido, traduzido em termos monetários, e legitimamente acrescentados ao custo de mercadoria. Até algo tão efêmero como a boa reputação do comerciante podia ser traduzido em termos monetários e legitimamente adicionados ao preço de revenda. (Kaye, 2004, p. 139-140):[1]
O segundo comentário refere-se a Jean Buridan (1300-1358), e impressiona pela sofisticação da análise desenvolvida.
Buridan esquadrinhou mais profundamente a questão: como poderiam dois serviços diferentes serem comparados e comensurados e, mais intrigantemente, como poderia uma quantidade monetária (o preço expresso em números) ser comensurável com uma entidade incorpórea tal como um serviço prestado? Ele inicia sua resposta observando que à primeira vista a medição de serviços parece impossível. A seguir, para ilustrar que tais medições eram tanto possíveis quanto comuns, ele escolheu (o que nos parece) um exemplo extremo desse fenômeno, que entretanto fazia sentido no contexto de sua sociedade.
Buridan apresentou seu argumento a um questionador imaginário: Suponha que alguém lhe deu dez libras e você em troca expressou o reconhecimento grates Domine. Você dirá, sem dúvida, que as dez libras que recebeu valiam mais que seu agradecimento e assim, que não houve igualdade na transação. Considere porém que todo valor no mercado é relativo, e estimado de acordo com as necessidades humanas. Imagine que o doador das dez libras é muito rico, e portanto tem pouca ou nenhuma necessidade do dinheiro, mas muita necessidade de honra. Imagine também que quem recebe o dinheiro é um homem de grande honestidade e bondade. Em tal situação, diz Buridan, o simples grates Domine do pobre constitui uma compensação correta e proporcional para as dez libras do rico. Nesse exemplo elegante, não apenas se encontra um preço para um serviço aparentemente imensurável, mas o preço é “justo”, isto é, representa uma equalização do valor entre o comprador e o vendedor. (Kaye, 2004, p. 143)[2]
10. A inexistência de medições
Um aspecto da maior importância no trabalho dos Calculadores é a ausência de medições. Como diz Anneliese Maier:
Vezes sem conta os filósofos do século XIV contentavam-se com entender a maneira de conhecer sem buscar o próprio conhecimento.
Tal atitude produziu – ou talvez tenha derivado de – uma deficiência incomum na “nova física” do século XIV: ninguém media coisa alguma. Os filósofos não apenas se recusavam, mesmo nos casos mais simples, a procurar maneiras e meios de fazer medições indiretas, mas também ignoravam a oportunidade de fazer medições diretas, quando isso era claramente factível. Contentavam-se com valores quantitativos aproximados em seus experimentos e induções, e em seus cálculos utilizavam magnitudes arbitrárias determinadas a priori ou ficavam no nível abstrato de computações usando apenas letras. (Maier, 1982, p. 168-9; MzC, p. 227-8)
Tendo em mente a distinção entre quantificações e mensurações exposta na seção 1, pode-se dizer que os escolásticos tudo quantificavam, mas nada mediam. A passagem de uma etapa à outra só veio a se realizar quase dois séculos depois, pelos fundadores da ciência moderna, com destaque para Galileu, Kepler e Descartes. A tarefa de executar mensurações nada tem de simples, ou óbvio; pelo contrário, além de conhecimento teórico exige do investigador grande dose de engenhosidade, de capacidade de inventar expedientes para resolver problema práticos, atributos dos quais Galileu era notavelmente dotado (Mariconda & Vasconcelos, 2020, p. 337). À guisa de ilustração, relaciono a seguir vários episódios das atividades de Galileu voltadas para a mensuração.
11. As mensurações de Galileu
Em 1586 Galileu inventa uma balança hidrostática, cuja função é medir o peso específico de corpos. Ele a denominou a “balancinha” (bilancetta). Nos anos seguintes, projetou e produziu para a venda o “compasso geométrico-militar”, que não era propriamente um instrumento de medição: não servia para medir, mas para facilitar os cálculos baseados nos resultados de medições, tendo em vista a solução de problemas práticos. O sucesso comercial do empreendimento atesta a eficácia do aparelho. As contribuições mais notáveis de Galileu para a matematização da física foram fruto de suas investigações sobre a queda dos corpos, o plano inclinado e o pêndulo, nas quais a medição de curtos períodos desempenha um papel essencial. O expediente inventado por ele envolvia um balde cheio de água, com um pequeno orifício no fundo, e tinha como pressuposto a proporcionalidade entre a duração dos períodos de tempo e a quantidade de água escoada nos respectivos períodos, medida por meio de uma balança. Além desses expedientes,
Galileu investigou também os fenômenos térmicos, inventando um aparelho para a medida da temperatura. Contudo, não se pode dizer que tenha inventado o termômetro, pois seu aparelho apresentava muitos defeitos: o nível do líquido no tubo em que devia ser feita a leitura da temperatura dependia, na verdade, não apenas da temperatura procurada, mas também da pressão atmosférica externa. Apesar disso, a tentativa de Galileu é considerada como o embrião a partir do qual Torricelli, um dos últimos discípulos de Galileu, chegou à invenção do barômetro (cf. Dijksterhuis, 1986, p. 359-64). Mesmo no final de sua vida, Galileu procurou construir, sem êxito, um relógio de pêndulo que fornecesse uma medida exata de pequenos intervalos temporais. Essas tentativas, apesar de malsucedidas, mostram claramente a consciência que Galileu tinha da importância, para a física clássica, dos instrumentos de medida, isto é, de aparelhos técnicos, de artefatos que permitissem observações e medições cada vez mais precisas (Mariconda & Vasconcelos, 2020, p. 337).[3]
12. A matemática de Galileu
A filosofia está escrita neste grandíssimo livro que continuamente nos está aberto diante dos olhos (eu digo o universo), mas não se pode entender se primeiro não se aprende a entender a língua e conhecer os caracteres, com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, meios sem os quais é impossível entender humanamente qualquer palavra; sem estes vaga-se em vão por um escuro labirinto. (Galileu, [1623] 1999, p. 46.[4]
Nos dias de hoje, pode causar estranheza que Galileu relacione como caracteres do livro da natureza “triângulos, círculos e outras figuras geométricas”, e não números, associados mais essencialmente à visão quantitativa da realidade. O que há de geométrico, p. ex., na mensuração da temperatura? A explicação encontra-se em Mariconda & Vasconcelos:
Para apreciar o uso que Galileu faz da matemática disponível em sua época, é preciso separar dois aspectos da matematização da física: de um lado, considerar a matemática efetivamente empregada por Galileu em suas investigações e na qual ele está obrigado a expressar os resultados; de outro, a matemática tomada como modelo de ciência e de exposição científica sistemática.
No caso da matemática efetivamente empregada por Galileu, a análise das observações e dos experimentos e, especialmente, as conceituações e usos de grandezas físicas, tais como as de espaço, tempo, velocidade e aceleração, estão formuladas na linguagem da teoria geométrica da proporcionalidade e da semelhança de figuras, exposta nos Livros V e VI dos Elementos de geometria de Euclides. Essa base na proporcionalidade geométrica será responsável por limitações da expressão matemática de Galileu, próprias de quem está trabalhando no alvorecer da adoção da álgebra, da geometria analítica e do desenvolvimento do cálculo. (Mariconda & Vasconcelos, 2020, p. 292)
13. O utilitarismo como força quantificadora; as ideias de Bentham
O programa matematizador de Galileu, Kepler e Descartes, como se sabe, foi extraordinariamente bem sucedido, particularmente na esteira da obra de Newton. A abordagem matemática foi gradativamente se estendendo, da Física para a Química, a Biologia, Geologia, etc., e depois, no campo das ciências humanas, para a Sociologia e a Psicologia. Por outro lado, é bom lembrar que a Astronomia já era matemática desde o início na Antiguidade. A Economia já nasce marcada pelo quantitativo, dada a centralidade do dinheiro, mas sua quantificação recebe um significativo avanço proveniente do Utilitarismo de J. Bentham, que merece uma menção, dada a influência que teve sobre a Economia Política.
O cerne do utilitarismo benthamiano, tal como exposto em Uma introdução aos princípios da moral e da legislação (Bentham [1789] 1979) pode ser analisado em três momentos lógicos: redução, quantificação, e maximização.
Redução: o utilitarismo reduz todos os sentimentos, emoções e valores humanos a uma única dimensão, a da polaridade felicidade/infelicidade, ou prazer/dor. Em suas palavras:
A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na verdade faremos. (Bentham, ([1789] 1979, p. 17).
Quantificação: O capítulo IV do livro em pauta tem por título “Método para medir uma soma de prazer ou de dor”. Cada prazer ou dor tem um valor, medido de acordo com um determinado método. O núcleo do método é descrito da seguinte maneira:
Para uma pessoa considerada em si mesma, o valor de um prazer ou de uma dor, considerado em si mesmo, será maior ou menor, segundo as quatro circunstâncias que se seguem:
- A sua intensidade.
- A sua duração.
- A sua certeza ou incerteza.
- A sua proximidade no tempo ou a sua longinquidade. (Ibid, p. 16).
Maximização: O termo “utilidade”, do qual deriva o nome da doutrina, figura na expressão “princípio da utilidade”, sendo tal princípio apresentado por Bentham como o fundamento da doutrina. Seu enunciado é o seguinte:
Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou comprometer a referida felicidade. (Ibid., p. 4)
Tempos depois da publicação do livro, Bentham passou a usar “máxima felicidade” (“greatest happiness or greatest felicity principle”) no lugar de “utilidade” – com isso deixando mais evidente o caráter maximizador do princípio. Este, por sua vez, reflete-se no nome dado por ele ao método para se obter a maximização da utilidade, a saber, Cálculo Hedonístico (Felicific Calculus) que ‒ para usar um conceito muito em voga nos dias de hoje ‒ constitui um algoritmo.
Há uma semelhança entre as concepções de Bentham e as ideias dos escolásticos, de medir entes como a força da caridade cristã, o amor humano, o amor de Cristo etc. O empreendimento que realizaram foi o de uma quantificação, formulada em termos tão abstratos que não se vê como poderiam ser colocadas em prática, chegando assim à mensuração. No caso de Bentham, essa deficiência não impediu que tivesse uma enorme influência, enquanto pai do Utilitarismo.
14. Marx contra Bentham
Como se sabe, Marx foi um ferrenho crítico de Bentham. No estilo agressivo-humorístico em que era mestre, diz ele: “Mas o preconceito só foi fixado em dogma pelo arquifilisteu Jeremy Bentham, o oráculo insipidamente pedante e fanfarrão do senso comum burguês do século XIX.” (Marx, Capital I, p. 684) e: “E foi com todo esse lixo que nosso homem, cuja divisa é nulla dies sine linea, encheu montanhas de livros. Tivesse eu a coragem de meu amigo H. Heine, chamaria o senhor Jeremy de gênio da arte da estupidez burguesa.” (Ibid, p. 685, nota de rodapé 63) Essa diatribe é muito citada ou mencionada, com admiração, pelos fãs de Marx. Vale a pena notar que, n’A ideologia alemã, (p. 448 ss.), Marx e Engels expõem uma crítica bem educada, e pertinente, do utilitarismo de Bentham. Mas essa crítica, a meu ver, não explica nem justifica os termos abusivos usados por Marx n’O Capital. Digo isso porque Bentham, além de filósofo, era um ativista, um reformador social, empenhado na defesa de políticas progressistas, avançadíssimas para seu tempo, incluindo:
- · Estado de Bem-Estar Social
- · Liberdade individual e econômica
- · Anti-imperialismo
- · Estado laico
- · Liberdade de expressão
- · Direitos das mulheres
- · Direito ao divórcio
- · Descriminalização do homossexualismo
- · Abolição da escravidão; da pena de morte; da punição física, inclusive das crianças
- · Direitos dos animais[5]
Fica a pergunta: como explicar a bronca contra Bentham que Marx expressa nessas passagens d’O Capital? Como a diferença de posições em relação ao utilitarismo por si só não a explica, que razões podem ter existido?
15. O triunfo da matematização: o lema de Lord Kelvin
Passando agora do fim do século XVIII para o do século XIX, na sumaríssima história da quantificação e mensuração que estou expondo, não pode ficar de fora a citação a seguir. Ela demonstra o enorme sucesso do projeto de mensuração que marcou o nascimento da ciência moderna.
Quando podemos medir aquilo de que falamos e expressá-lo em números, sabe-se algo a seu respeito; quando não podemos expressá-lo em números, nosso conhecimento é pobre e insatisfatório; pode ser o começo do conhecimento, mas em nosso pensamento, mal avançamos em direção ao estágio da ciência, seja qual for a questão” (Thomson (Lord Kelvin), 1891, p. 73; MzC p. 228).
16. A cientometria
Esta seção versa sobre o episódio em que a ciência volta-se a si própria, tomando-se como objeto de investigação, a ser empreendida por uma disciplina. Sendo a ciência moderna quantitativa, e sendo adotado o dogma de Lord Kelvin, segue-se que a nova disciplina deve ser quantitativa. O autor usualmente considerado seu fundador foi o físico e historiador da ciência e da tecnologia inglês Derek de Solla Price (1922-1983). O termo scientometrics, entretanto, foi cunhado pelo pensador russo Vasily Nalimov (1910-1997), que chegou a ideias semelhantes às de Price de forma independente. Foi introduzido como tradução do russo naukometriya, título da monografia Nalimov & Mul’chenko (1969). Durante o período inicial, usou-se também o termo science of science para designar a nova disciplina. Com o lançamento da revista Scientometrics, em 1969, entretanto, esse termo passou a preponderar (contrariando Price, que preferia science of science). O título do primeiro capítulo de Little science, big science é “Prologue to a science of science”. No prefácio, o autor pergunta: “Porque não aplicar as ferramentas da ciência à própria ciência? Porque não medir e generalizar, formular hipóteses, e derivar conclusões?” (Price,1963, p. v).
Nesta seção trataremos apenas da contribuição de Price. A história de como ele chegou a suas ideias no campo da cientometria é curiosa. Em suas palavras:
Em 1949, estava filiado ao Raffles College (agora Universidade de Singapura) quando a biblioteca, ainda não construída, recebeu uma coleção completa (1662-1930) das Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Ficando responsável pela guarda dos belos volumes encadernados em couro, arrumei-os em pilhas de dez anos nas estantes ao lado da cama. Durante um ano os li do princípio ao fim, obtendo assim minha formação inicial enquanto historiador da ciência. Como um resultado colateral, observando que as pilhas formavam uma nítida curva exponencial contra a parede, contei todas as coleções de revistas que pude encontrar e descobri que o crescimento exponencial, num ritmo surpreendentemente rápido, era aparentemente universal e notavelmente duradouro. (Price, 1986, p. xix)
Si non è vero, è bene trovato. Animado com sua descoberta, Price a apresentou no VI Congresso Internacional de História da Ciência, realizado em Amsterdam em 1950, mas a exposição e o texto publicado (Price, 1951) caíram no vazio. Desmotivado pela falta de interesse dos historiadores da ciência Price só retorna ao tema quase dez anos depois (já nos Estados Unidos, onde havia se radicado em 1957). Os frutos da retomada foram expostos na quinta e última conferência de um ciclo ministrado na Universidade de Yale em 1959. Dessa vez a repercussão foi bem animadora, sendo as conferências publicadas como um livro, Science since Babylon (Price, 1961; 1975). Avançando na realização de estudos cientométricos, o passo seguinte foi a publicação de Little science, big science, que veio a ser considerado o marco do nascimento da cientometria (Price, 1963; 1986).
17. Crescimento exponencial da ciência: evidências e implicações
No primeiro capítulo do livro mencionado, encontra-se uma passagem que dá uma boa ideia do desenvolvimento das investigações do autor que vieram na esteira do insight com as Philosophical Transactions:
Nosso ponto de partida será a evidência empírica estatística extraída de muitos indicadores numéricos dos vários campos e aspectos da ciência. Todos eles demonstram, com impressionantes consistência e regularidade que, se qualquer segmento da ciência suficientemente grande é medido de qualquer maneira razoável, o modo normal de crescimento é exponencial. Ou seja, a ciência cresce como um juro composto, multiplicando sua dimensão segundo um valor fixo em períodos iguais de tempo. Matematicamente, a lei do crescimento exponencial resulta da simples condição de que em qualquer momento a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população ou à magnitude total já alcançada – quanto maior é uma coisa, mais rapidamente ela cresce. […]
Pode parecer inicialmente que o estabelecimento de tal lei empírica do crescimento da ciência não seria inesperado, nem significativo. Ela tem, entretanto, várias características notáveis, e dela podem ser extraídas algumas poderosas conclusões. Na verdade, a lei é de tão longo alcance que não hesito em sugeri-la como a lei fundamental de qualquer análise da ciência. (Price, 1986, p. 4, itálico acrescentado)
A rapidez do crescimento exponencial de uma grandeza é função de uma constante. A maneira mais intuitiva de expressá-la é a que especifica o período de tempo necessário para que a grandeza dobre de tamanho. Dependendo do aspecto considerado, a constante de duplicação estimada por Price para a ciência variava entre 10 e 15 anos. Para ilustrar a rapidez avassaladora do crescimento da ciência, sendo essa a dimensão da constante, nosso autor vale-se de alguns exemplos. Um deles, muito citado, refere-se ao número de cientistas. Segundo seus cálculos aproximados, entre todos os cientistas que existem, e já existiram, de 80% a 90% estão vivos a cada momento. “Podemos sentir falta de Newton e Aristóteles, mas felizmente a maioria dos cientistas ainda está conosco!” (Price, 1975, p. 176). Outro exemplo diz respeito ao número de revistas:
A constante no caso é na verdade cerca de 15 anos para a duplicação, que corresponde à décima potência em 50 anos, e a um fator de 1.000 num século e meio. Nos trezentos anos que nos separam de meados do século XVII, isso representa um fator de um milhão. (Price, 1975, p. 169)[6]
Entre as implicações da lei do crescimento exponencial da ciência, a mais importante, a que tem consequências práticas mais sérias, é o reconhecimento da impossibilidade de que tal ritmo de crescimento seja mantido indefinidamente. No que se refere ao número de cientistas, p. ex., para manter o crescimento exponencial, num período de tempo não muito longo, todos os seres humanos precisariam tornar-se cientistas. A conclusão é a de que tal ritmo de crescimento deveria diminuir e, como se pode imaginar, tal redução acarreta problemas sérios para a comunidad e científica – como o desemprego dos recém-doutores, que não encontram mais vagas para ingresso na carreira acadêmica. Desde o início, Price esteve ciente do caráter insustentável do crescimento exponencial ilimitado, e não se furtou a prescrever medidas no campo das políticas científicas no sentido de administrar da melhor forma possível o ajuste que se fazia necessário.[7]
18. Neoliberalismo e quantificação
Na introdução acima foi dito que esta colagem consiste num “estudo histórico sobre o processo de quantificação, presente tanto no capitalismo quanto na ciência moderna, impulsionado em ambos pelo uso do dinheiro, enquanto uma entidade essencialmente quantitativa.” O capitalismo e a ciência moderna constituem, na modernidade, forças quantificadoras – mutuamente reforçadoras – das sociedades e do autoentendimento das sociedades.
O neoliberalismo pode ser caracterizado como a fase do capitalismo em que seus princípios são radicalizados, exacerbando a tendência em transformar tudo em mercadoria, com base no dogma da excelência do mercado como princípio regulador da vida econômica e social das sociedades. Nesse processo, intensifica-se também a força quantificadora do capitalismo.
David Harvey é um dos mais detacados analistas do neoliberalismo. Em A brief history of neoliberalism ele o caracteriza assim:
O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem promovido por meio do fomento às liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos de propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, policiais e legais requeridas para garantir direitos de propriedade privada e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos mercados. Além disso, se não existirem mercados (em domínios como a terra, a água, a educação, a assistência médica, a segurança social ou a poluição ambiental), estes devem ser criados, se necessário pela ação do Estado. Mas o Estado não deve aventurar-se para além dessas tarefas. As intervenções do Estado nos mercados (uma vez criados) devem ser mantidas num nível mínimo, porque, de acordo com a teoria, o Estado possivelmente não possui informações suficientes para prever os sinais do mercado (preços), e porque poderosos grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado (particularmente nas democracias) em seu próprio benefício. (Harvey, 2005, p. 2)
Um bom quadro do impacto do neoliberalismo sobre os indivíduos é esboçado é esboçado por Dardot e Laval em A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal.
O neoliberalismo não destrói apenas regras, instituições, direitos. Ele também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. Em outras palavras, com o neoliberalismo o que está em jogo é nada mais nada menos que a forma de nossa existência, isto é, a forma como somos levados a nos comportar, a nos relacionar com os outros e com nós mesmos. O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as sociedades que as seguem no caminho da “modernidade”. Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de competição generalizada, intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa.[8] Há quase um terço de século, essa norma de vida rege as políticas públicas, comanda as relações econômicas mundiais, transforma a sociedade, remodela a subjetividade. (Dardot & Laval, 2016, p. 16)
Referências
Bentham, Jeremy ([1789] 1979). Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. São Paulo: Abril cultural.
Clagett, Marshall (1950). Richard Swineshead and late medieval physics; I. the intension and remission of qualities. Osiris 9, p. 131-161.
Dijksterhuis, Eduard J. (1986). The mechanization of the world picture. Princeton: Princeton University Press.
Galilei, Galileu ([1623] 1999). O ensaiador. São Paulo: Nova Cultural.
Harvey, David (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Kaye, Joel (1988). The impact of money on the development or fourteenth-century scientific thought. Journal of Medieval History 14, p. 251-270.
Kaye, Joel (2004). Economy and nature in the fourteenth century: money, market exchange and the emergence of scientific thought. Cambridge: Cambridge U. P.
Kleinert, Andreas (2009). Der messende Luchs: zwei verbreitete Fehler in der Galilei-Literatur. NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin, 17(2), p. 199-206.
Maier, Anneliese (1982). On the threshold of exact science: selected writings of Anneliese Maier in late medieval natural philosophy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Mariconda, Pablo R. & Vasconcelos, Júlio (2020). Galileu e a nova física. São Paulo: Scientiae Studia.
Marx Karl. ([1867] 2013). O Capital: crítica da economia política, Livro I. São Paulo, Boitempo.
Meikle, Scott (1994). Aristotle on money. Phronesis, 39(1), p. 26-44.
Meikle, Scott (1995). Aristotle’s economic thought. Oxford, Clarendon Press.
Nalimov, Vasily V. & Mul’chenko, Z.M. (1969). Naukometriya. Moscou: Nauka.
Oliveira, Marcos B. de (2023). (MzC) A mercantilização da ciência: funções, disfunções e alternativas. São Paulo: Scientiae Studia.
Oliveira, Marcos B. de (2024). .Nota sobre o conceito marxista de Modo de Produção.Outras Palavras, 12/04/2024.
Price, Derek de Solla (1951). Quantitative measures of the development of science. Archives Internationales d´histoire des sciences, 4(14) p.86-93.
Price, Derek de Solla (1963). Little science,big science. Nova York: Columbia U.P.
Price, Derek de Solla (1975). Science since Babylon. Edição ampliada. New Haven, Yale U.P.
Price, Derek de Solla (1986). Little science, big science …and beyond. Nova York: Columbia U.P.
Polanyi, Karl (1968). Primitive, archaic, and modern economics: essays of Karl Polanyi. Nova York: Garden city.
Sylla, Edith (1971). Medieval quantifications of qualities: the “Merton School”. Archive for History of Exact Sciences vol. 8 , p. 9-39.
Sylla, Edith (1973). Medieval concepts of the latitude of forms: the Oxford calculators. Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, vol. 40, p. 223-283.
Tawney, Richard H. (1948) Religion and the rise of capitalism: a historical study. Londres: John Murray.
Thomson, William (Lord Kelvin) (1891). Popular lectures and addresses, vol 1. Londres: Macmillan.
Notas
[1] Em “Marx discípulo de Aristóteles” (MzC, p. 225, nota 33), menciono o epíteto “o último dos escolásticos”, atribuído a Marx pelo historiador da Economia Richard Tawney (1948, p. 36). O epíteto se justifica pelos elementos do pensamento de Aristóteles compartilhados por Marx e pelos escolásticos. Mas também há divergências, uma vez que, distinguindo esfera da produção e a da circulação ou seja, do comércio, Marx restringe a criação de valor à esfera da produção. (Cf. “Nota sobre o conceito marxista de Modo de Produção” (Oliveira, 2024).
[2] É possível que Marx tenha se inspirado nessa passagem ao escrever: “Assim, coisas que em si mesmas não são mercadorias, como a consciência, a honra etc. podem ser compradas de seus possuidores com dinheiro e, mediante seu preço, assumir a forma-mercadoria”. (Marx ([1867] 2013) (O Capital, Livro I) p. 177)
[3]. O empenho de Galileu em realizar medições deu origem a uma dessas citações que muitos autores repetem, sem que nenhum indique a fonte. Ao que tudo indica, a atribuição não é verídica. A frase é “Meça o que é mensurável, e torne mensurável o que não o é” (Kleinert, 2009).
[4] A tradução transcrita é de Mariconda & Vasconcelos (2020, p. 148).
[5] O verbete “Jeremy Bentham”, da Wikipedia, registra as fontes que abonam essa atribuição de posições a Bentham. (Acesso em 8/12/2023)
[6] Segundo estimativas recentes, (Larsen & von Ins, 2010; Bornman & Mutz, 2015) o período de duplicação do número de publicações nessa época foi cerca de 9 anos.
[7] Em outros artigos, tratei de um outro aspecto da quantificação da ciência, a saber, o que diz respeito à administração das atividades de pesquisa. Meus estudos me levaram à interpretação segundo a qual nas últimas décadas a administração foi objeto de processos de empresariamento, entendidos como os que introduzem princípios e métodos próprios de empresas privadas na administração da Academia. Uma das facetas desses processos é a atribuição de um papel central às avaliações quantitativas, tanto na Academia quanto em órgão públicos e, pioneiramente, nas empresas privadas. (Cf. MzC, cap. 9)
[8] Uma manifestação formal desse empresariamento do indivíduo, aqui no Brasil, é o processo de “pejotização” a que são forçadas muitas categorias de trabalhadores ‒ entre os quais a daqueles que adotam o empreendedorismo como estratégia de vida.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras



Um comentario para "Cálculo, Capital e Ciência: os nexos reveladores"