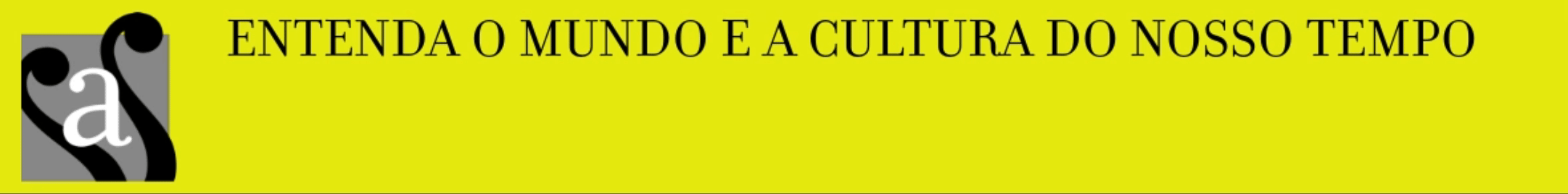Maurício Pereira: Poesia nos vãos da metrópole
Retrato lírico de um grande compositor brasileiro, visto pelo ouvido antes dos olhos. Entre sabiás insones, aviões, bater-pernas e frestas de calçada, uma cidade fora do cartão-postal, que se revela por seus excessos, intervalos e miudezas
Publicado 19/12/2025 às 19:08 - Atualizado 19/12/2025 às 22:47

87% da população brasileira vive em áreas urbanas. Ainda assim, o Direito à Cidade e a Reforma Urbana Popular seguem fora do centro do debate público. Quer pensar com a gente os rumos das cidades brasileiras, recebendo na sua caixa de e-mail informações essenciais e análises qualificadas sobre o tema? Inscreva-se na newsletter Outras Cidades. É grátis!
Ódio ao sabiá! Pois é. Muita gente comunga de tal desatino. Não por malvadeza, coração peludo, sangue de angu. É pelo maldito tuí-tuí do pobre bichinho com CEP paulistano! Sua melodia suave e ribombante, diferente do trinado de alvorada de seus compadres do interior. Um passarinho urbanizado que solta o gogó lá pelas cinco da madrugada pra anunciar que logo, loguinho, tocará o despertador. O dia raiará sob uma sinfonia automotiva, e aí é hora de pegar no batente, e pobre de você, amigo, que mal pregou os olhos de preocupação com os boletos, não pegou o trem do sono por enes razões. Ódio ao sabiá! Mas ódio desamargurado, ódio do bem, porque aqui a gente se ama com todo ódio e se odeia com todo amor, não é mesmo, Tom Zé?
“Quando se está sozinho em insônia, pensando merda, o sabiá dá um desespero”, diz o poeta e músico Maurício Pereira, 66 anos, numa manhã paulistana estranhamente amena. Uma média e a broa de milho quentinha estão sobre a mesa. E os olhos, pregados na janela de uma padoca na Vila Madalena, que emoldura a eterna correria da maior metrópole da América Latina, tão presente em suas canções.
“Sim, São Paulo é um assunto. Normal, eu vivo por aqui, já andei muito pela cidade. Olhando. Aqui a gente tem que achar a beleza onde não tem beleza (mas tem…). Achar o lírico no meio da pressa, das tarefas, do corre-corre, da violência. O tempo todo tem enredos rolando, né? Conflito, atrito. Isso vai pro texto, pro espírito, pra observação”, escreveu no livro Minha Cabeça Trovoa, seleta comentada de seu trabalho, prefaciada por seu brow Fernando Marcelino. Ele é um cara de texto, diz. O primeiro pensamento quando vai fazer uma canção, portanto, é literário. É o ponto de partida. Depois, vem a melodia, e Eros, e Dioníso, e Oxum… Na contracapa: “Um de nossos maiores letristas…” — foi um parente que escreveu, brinca.
Maurício parece descansado, a majestade sabiá não deve ter cantado pra ele esta noite. E ele nem é dado à boemia, diz. Gosta de ver o sol raiar, sim — mas do lado de quem se espreguiça e escova os dentes, não de quem desaba na cama sem tirar nem os sapatos. “Tenho um lado caipira. Por mim, acordava todo dia às cinco da manhã”. O varar-noite foi coisa só da época em que cursou jornalismo na USP e de quando foi revisor do Estadão, batendo ponto da meia-noite às seis da manhã por dois anos. “A gente se recupera mais devagar depois dos trinta anos. O sono é super necessário pra cantar, aí você vai pra noite, vai beber, falar, gritar… e aí a minha voz não volta”.
Sou um caipira, insiste o paulistano. Inclusive, tem outro habitat: Monte Alegre do Sul, estância paulista com quase nove mil habitantes, onde a noite traz somente o som de bacuraus, morcegos e chacoalhar de árvores com o vento, conta ele. Tá direto por lá.
Estranho flâneur
No janelão de vidro da padoca. Café pela metade. Broa já mordida. Automóveis, avenida, via de serviço, semáforo, prédio novo, prédio velho, uma pracinha — pititinha, porém verde, viva. Comenta que, em 2003, quando “tava ruim de trabalho”, fez um curso de jardinagem no Ibirapuera — e foi maravilhoso, inclusive pra compor. “Tá vendo essas graminhas aí? Tudo tem nome!”. E segue a brisa: “pedacinhos verdes na calçada, três árvores magrelas, que seja, um pouco de fotossíntese é vital pra a cidade”.
Afinal, é necessário refresco ao aço, vidro e asfalto.
Maurício Pereira conta que sua vida inteira foi de convívio íntimo com o canto de um pássaro que não é sabiá. Um pássaro grande, gigantesco, de toneladas e asas metálicas: o avião. Ele cresceu na Vila Olímpia, “uma Miami Beach de segunda classe”, pertinho do aeroporto de Congonhas. Depois, teve outros endereços com aquele mesmo ruído de fundo — Faria Lima, Itaim Bibi, Vila Madalena. Essa convivência gerou um conhecimento quase sensorial. “Avião, pra mim, é um som que, de ouvido, eu sei mais ou menos qual é”, explica. “Eu e os meus irmãos, a gente tinha isso.” E isso marcou sua vida; e ouvidos: “silêncio em São Paulo é o BUUU da noite. Quando o avião tá dormindo…”

A cidade, no entanto, tem aporrinhações estruturais. Um treco parece abalar alicerces subjetivos deste caipira metropolitano: sofre com a superinformação, mas dela extrai matéria poética, como quem transforma entulho em jardim, o que deve ter aprendido também de forma prática no curso de jardinagem.
“A poesia tá solta. Lembra que o John Lennon dizia ‘Deus tá solto’? É como se… acho que se ele dissesse ‘a arte tá solta’. Porque a expressão tá solta. Você pode estar numa ilha deserta, na Praça da Sé, voando num foguete… Ela tá solta. O lance aqui de São Paulo é assim. Pensa na Bossa Nova: o céu, o sol, a praia, a beleza do entorno. Em São Paulo, a gente tem que achar no meio da folhura o sublime. Tá cheio, mas você tem que olhar pro lado, às vezes pra frente. Pode estar até na violência — não por acaso a periferia é tão forte na poesia. Mas não é só relatar a crueza da cidade, não. O meu olhar pra São Paulo é um olhar quase desesperado… de achar mágica, viagem, assunto em qualquer lugar. Esse excesso, eu tenho… quase raiva. Se tem uma coisa pela qual quero resistir, é esse excesso de informação. Porque ele emburrece. E emburrecendo, ele ajuda qualquer ditadura a se instalar.”
A mente de Maurício deve funcionar como um sismógrafo urbano, tentando captar vibrações mínimas. Afinal, é poeta, é compositor, é artista. A cidade, pra ele, não é cenário, mas um sistema nervoso externo — e ele carrega o conflito silencioso entre velocidade e manhã cedo, ruído e escuta. O “caipira” que reivindica não é uma fuga romântica, é uma âncora prática. Serve, simplesmente, pra não se perder no próprio tumulto mental que o acompanha.
Maurício Pereira, não exatamente com todas estas palavras exatas, se define caipira urbano, um geógrafo amador de miudezas, um bicho do mato que é cronista da selva de concreto, pra usar uma expressão bem batida. Quando se tenta acrescentar um e flâneur, não?, a resposta é um encolher de ombros verbal: “É, também”.
Da época em que compôs Trovoa, no começo dos anos 2000, era o boêmio ao revés, como contou no livro, que “andava angustiado, uma insônia louca, todo dia umas quatro, cinco da manhã eu acordava. Tentava ler, tomar uma água, ver televisão, pra ver se resolvia. Nada. Chegou uma hora que eu achei que era melhor ir pra rua e andar. […] Andando por aí, bem cedinho, vendo o movimento começar, as pessoas saindo de casa, cheiro de café, de sono, gente no ponto esperando ônibus Aquela luminosidade alegre do nascer do sol.”
Portanto, vamos ser francos: o senhor, sinhô, seu Maurício Pereira não é o típico flâneur baudelairiano. Não é essencialmente um andarilho notívago, um espectador simbolista e apaixonado, cheirando as flores do mal, que “entra na multidão como se isso lhe aparecesse como um reservatório de eletricidade”, como definiu o poeta francês, pra assim decifrar, melancolicamente, a alma encantadora da modernidade. Poderíamos lançar essa aqui pra ele: vossa mercê, vosmecê, você, ocê, cê, Maurício, tem outra relação com a cidade, foda-se Baudelaire. Cê fala o idioma do frenesi junto com o do tempo-gotejante. Seu verdadeiro parentesco é com outro flâneur deslocado, conterrâneo lírico (embora nascido em Valinhos): João Rubinato, o Adoniran Barbosa, poeta do povo, cronista da pazzia paulistana.
O vagar caipira de mão dada com a correria da metrópole. O abraço da Pauliceia na Paulistânia; e vice-versa. O cotidiano épico: o despejo de três brothers da maloca no Bexiga, Iracema atropelada na São João, o namorador que não pode perder o trem, um Mané abandonado no escuro sem pavio pro lampião… Maurício concorda. “Sempre achei que minha música tem muito de Adoniran”. A assombração loira que tira a Caravan da estrada. O amante sem beijo na maldita rodoviária. O músico que volta tarde da labuta e beija filhos e esposa já dormidos. O cara com biscoito quebrado na mão pra dar ao cachorro. O errante que tira pestana em sofá-amigo, botequinho fuleiro do Largo da Batata e até na cadeira. O boêmio que fuma “um Marlboro na rua como todo mundo”…
Todas essas histórias voam leve, muito leves, como plumas em seus shows. É bicho do mato e cidadão estressado, dois em um, comungando do olhar atento e da força grandiosa das palavras simples e certeiras. O palco é um dos lugares onde ele encontra mais paz. “Cinco minutos depois que começa o show, a adrenalina encaixa”, diz. Pra ele, o show é um ambiente comum e amigável, onde conta histórias pra gente como a gente. Onde busca estremecer um pouco o espírito das pessoas com afetos. Uma partilha! O oposto da solidão que sente na cidade, diz, mesmo no meio do enxame de gente. “Às vezes nem percebo a multidão. Nela, sou mais um”. O palco, em contraste, é um refúgio íntimo: “Uma espécie de útero. Uma caverna… um ambiente muito suave”. É ali, naquela energia de entrega mútua, que a mágica, a poesia, acontecem. “O cara vai lá pra comungar com você. É por aí”.
Um Brasil do Trópico de Capricórnio
Maurício Pereira é cobra da Vila Olímpia. “Tento não ser nostálgico. Não ficar com saudade. Mas o que me amargura é ver os bairros perderem as raízes”. E aí, conta sua infância nos anos 60… Bairro de casinhas. Famílias jovens, classe média, começando longe dos pais. Fala do menino Maurício que cresceu na rua. Brincando. Jogando bola. Da rua, sem luz. A casa, e quase o bairro todo, sem telefone. Da casa dele, sem esgoto. Tinha fossa. Pra qualquer coisa, rememora-se, ia-se “pra cidade”. Pro centro. Tirar documento. Revelar filme. Comprar livro. Cortar o cabelo, ônibus pra a Cleveland. Ver o Papai Noel, Mesbla. Médico na Sete de Abril. “Os bairros eram roças. Minha memória afetiva: o bairro muito solto e o centro muito importante. Centro, pra mim, era entre a Sé e a República”.
Maurício Pereira tornou-se músico tardiamente. Quer dizer, músico remunerado. Quer dizer, remunerado de certa forma, pois músicos independentes não costumam encher estádios — “Às vezes pra ninguém porque é ensaio/ Às vezes pra ninguém mesmo não sendo ensaio/ Mas sempre junto com meus amigos músicos”, canta na conhecida “Um Dia Útil”. Mas, vá lá, começar com 25 anos é tarde mesmo?
A vida não é fácil quando se trabalha como artista. Ser alternativo, independente, underground, cult, sei lá, pra ele significa enxergar grandes perigos. A “bolha” artística, por um lado, é um espaço protegido pra criar o complexo, o complicado, o ousado. Por outro lado, esse isolamento tem um preço: o afastamento da vida comum da calçada, do sujeito que acorda ao amanhecer pra trabalhar, do assalariado que busca na música uma canção romântica e simples, que ecoe sua própria existência. Assim, a bolha cumpre um duplo papel: protege e, ao mesmo tempo, distancia. “Ainda sou muito ‘alternativo’. Só rolei um pouco mais porque a cena musical brasileira se instalou em São Paulo, pois antes tudo era Rio”.
E, por falar em Rio e São Paulo… Maurício Pereira, em suas andanças sonoras, chegou a uma tese inusitada — uma espécie de Breve Sociologia da Música Paulista. Seu ponto de partida: até os anos 90, o Rio era o centro inconteste da canção brasileira. Tinha a Rádio Nacional, depois a Globo. As grandes gravadoras — Philips/PolyGram, Odeon, CBS, Som Livre — estavam todas lá. Era o polo do dinheiro e da legitimidade. Toda música precisava passar pelo Rio. Isso forjou um “modo tropical” de ver o Brasil. E São Paulo, ele lembra, fica 20 quilômetros abaixo do Trópico de Capricórnio. O Brasil não é só o que está acima desta linha; ela é imaginária, como todos sabem.
“O fato de eu ser paulista, escrever no dialeto da gente e refletir esse ambiente me botava meio à margem da linha evolutiva da MPB”, conclui. Maurício explica um pouco do português à moda paulistana: evita o plural, simplifica as flexões verbais, é crivado de gírias. Dos italianos no sotaque-Mooca, meu ao “tá ligado?” e “e aí, velho” importados do rap — usado até por ele, alguém da classe média — a cidade absorve tudo.
“Pra mim, São Paulo é pós-moderna, por excelência. É desenraizada”. Explique melhor esse negócio aí, Maurício. Lá vai ele. Um apud. A fumaça das fábricas, que começou a rodo nos anos 20, no fim das contas, não era só poluição. O progresso veio com manual de instruções — “acumular é preciso; partilhar não é preciso” — e slogan na lata: “São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo”, “São Paulo não pode parar”, “A locomotiva do Brasil”. Daí vieram com tudo raízes italianas, libanesas, japonesas” — além das nordestinas, indígenas e latino-americanas, claro. “São Paulo é um liquidificador de influências”, empolga-se. Mas na cultura… Bem, o Rio imperava, apesar de a terra da garoa ter abrigado a Semana de Arte Moderna.
Até que veio uma virada.
O grande pulo cultural de São Paulo aconteceu nos anos 90, segundo a observação participante do compositor. Esse foi o caldeirão: a explosão do rap nacional, uma cena eletrônica nascendo com DNA mundial, a efervescência da noite LGBTI. A prefeitura, com Erundina, atiçou o fogo. A Fórmula 1 — grande injetor de grana — veio pra cá. Surgiu a Mostra de Cinema e a Parada Gay. Pela primeira vez, o Brasil inteiro não só olhou pra cá, como veio. Desse caldo, brotou o rastro underground. De 2005 em diante, uma cena indie poderosa tomou conta de casas de espetáculo com uma nova linguagem. Foi ali que a cidade selou de vez sua vocação: São Paulo se consolidou como o polo, em especial com um rap de potência máxima e uma eletrônica autoral que abriu as portas da produção independente pra o mundo.
Ele já falou, uma vez, do “capitalismo poético” de São Paulo. Um lugar onde, necessariamente, se tem de buscar flores, luz e inventividade no próprio showbiz, do comércio, da indústria, do varejo — de quase tudo.. Maurício é um produto típico disso — um paulistano de classe média da segunda metade do século XX, sem estilo ou raiz definidos. “Se precisar fazer um samba, faço. Se precisar fazer um rap, faço”, afirma. Sua canção reflete essa cidade que cresceu rápida e misturada. “Pra mim, São Paulo não é de 1554. É de 1990. É pós-moderna, por excelência. É desenraizada. E então, estão aqui a raiz italiana, a libanesa, a japonesa. A cidade desenraizada é esta. Precisei entender esta São Paulo melhor, pra me sentir mais à vontade com o meu trabalho.”
Não é estranho, então, que a cidade apareça melhor quando dita em outra língua.
“Uma canção resume bem São Paulo: Salviamo il salvabile — Salvemos o Salvável, do italiano Edoardo Bennato. Diante deste mundo louco, da barbárie urbanística, da corrupção e da legislação ineficiente, é uma cidade habitável porque, de vez em quando, nos damos as mãos. No fim das contas, acho que São Paulo se vira bem”.
(Com colaboração de Ana Pipper)
MAURÍCIO PEREIRA E A CIDADE-PERSONAGEM: 7 CANÇÕES ONDE SÃO PAULO É A MUSA, O ALVO E O ABRIGO.
“Juniors, curumins e mirins / que a cidade constrói.” Dá pra chamar de crítica social foda à uberização? Talvez. Mas calma lá. O próprio Maurício prefere outro caminho: “é uma ode pra energia dessa molecada paulistana, pra cultura da periferia da cidade, que eu observava com atenção, dali do burgo onde eu morava (da ponte pra lá, em relação aos Racionais”, escreveu em Minha Cabeça Trovoa.
Uma das canções mais conhecidas de Maurício Pereira. Aqui, o amor aparece como força física: empurra pro rolê, pro flanar, pra rua. É calmaria possível em meio ao caos urbano. Ou não? Regravada pelo Metá Metá, ganha na voz de Juçara Marçal uma melancolia linda; na de Maurício, é um conto duro e lírico. Ele conta que a música nasceu do “nascer do sol visto da Vila Ipojuca”, num momento de carreira atravancada — a cidade amanhecendo junto com a dúvida.
Uma reflexão íntima disparada num lugar típico de transição urbana: o aeroporto. A partida aciona memórias familiares e sonhos grandiosos — de presidente a jogador de futebol — que se misturam ao barulho do voo. O esquecimento repetido do destino final diz tudo: não saber pra onde vai é efeito colateral de quem carrega passado demais, fantasia demais e um futuro ainda em suspenso.
Rodoviárias são feitas de despedidas e chegadas —é um bilhete que se paga, mas não em dinheiro. Aqui, temos um coração partido esperando um beijo que não vem. Raiva, frustração, cansaço. E a sensação de que só a estrada liberta. O desejo por “algum ônibus” vira busca por um abrigo anônimo e provisório, capaz de carregar o peso da saudade por algumas horas.
Baratas, geladeiras, pequenos sons da noite urbana. Tudo é ouvido, tudo é registrado. E, ainda assim, algo não encaixa. O narrador percebe o mundo funcionando ao redor, mas permanece deslocado. A frase final dói baixinho: “Acho que só eu não tinha sentido”. A cidade faz barulho — quem silencia é quem vive nela.
Uma paixão intensa e fugaz, vivida no compasso da errância pelas ruas de Pinheiros. A “linda moça”, como a cidade, fascina — e também passa indiferente. Acasos, desencontros, pequenas epifanias urbanas. A sequência de ruas (Henrique Schaumann, Benedito Calixto, Dr. Arnaldo) não é trilha de stalker, mas mapa afetivo: o caminho exato da casa de Maurício até a de seu amigo e parceiro Theo Werneck, como conta no livro.
“Tem a ver com meu parceiro Tonho Penhasco, uma pessoa pra quem a palavra ‘especular’ tem a ver com arriscar ideias sobre o mundo, e não com jogar no mercado financeiro” (revelação também do livro Minha Cabeça Trovoa). A cidade paga o compositor para que ele se afaste dela e tente entendê-la de fora, na madrugada. Ir até o limite — o mar, o penhasco — parece promessa de resposta. Mas o que vem são perguntas que não viram refrão fácil. A cidade quer soluções simples; ele volta com um vazio cheio de eco. No fim, é uma conversa íntima e exausta com a cidade: relação amorosa, desgastada, impossível de resolver — mas impossível de abandonar.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.