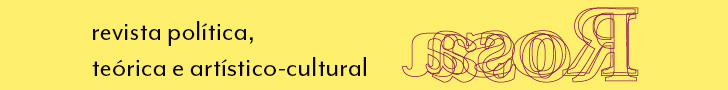Ética em pesquisa: brasileiros são descartáveis?
Entre outros retrocessos, nova lei de estudos clínicos limita fornecimento de medicamentos a participantes de estudos. GTPI se soma a ação judicial contra a lei e questiona: vidas vulneráveis servirão de combustível para as farmacêuticas?
Publicado 17/12/2025 às 13:21

Por Susana van der Ploeg e Erly Guedes, para a coluna Saúde não é mercadoria
O Brasil vive um momento decisivo na política de pesquisa clínica e, sobretudo, na ética em pesquisa. A aprovação da Lei nº 14.874/2024, apresentada como modernização, desburocratização e incentivo a inovação, foi impulsionada pelo lobby da indústria farmacêutica no congresso nacional. Vale lembrar que o PL 7082/2017 já havia acendido um alerta entre organizações históricas do campo da saúde coletiva.
Em audiência pública realizada em setembro de 2017, Jorge Beloqui, representando o NEPAIDS-USP, o GIV, a ABIA e a RNP+, foi direto ao ponto: a proposta deveria incorporar as Resoluções de Ética em Pesquisa já construídas no país, fruto de anos de prática e reflexão coletiva, com participação de pesquisadores, usuários, filósofos, lideranças religiosas e associações científicas. Em outras palavras, não se tratava de “inventar do zero”, mas de preservar um acúmulo social e institucional que protege participantes e fortalece a confiança na pesquisa.
Leia também: Brasil será um país de cobaias?, uma reportagem de Outra Saúde
A Lei nº 14.874/2024 foi aprovada e regulamentada sem incorporar o acúmulo das Resoluções do CNS, consolidando retrocessos graves na proteção de participantes e no controle social. Na prática, a lei desmonta o Sistema CEP/CONEP, que, por mais de três décadas, garantiu controle social, fiscalização descentralizada e revisão independente de protocolos, uma conquista arrancada pela sociedade justamente após abusos e violações que exigiram resposta institucional. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB) ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7875, questionando pontos centrais da nova legislação.
Em apoio a essa iniciativa e como parte da resistência democrática a tais retrocessos, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) e o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI/Rebrip), protocolou o pedido de ingresso como amicus curiae. “Trata-se de um retrocesso ético, científico e sanitário, com impacto direto sobre os corpos mais vulnerabilizados da população brasileira, pessoas que historicamente carregam os riscos da pesquisa clínica enquanto grandes indústrias colhem os benefícios”, afirma Veriano Terto Jr., vice-presidente da ABIA.
O que está em disputa no STF não é “burocracia” versus “inovação”. É o pacto ético básico: quem participa de pesquisa não pode ser tratado como meio descartável para fins privados. Um relato histórico de participante de ensaio clínico em HIV explicita essa dimensão de solidariedade: “Gostaria de fazer alguma coisa em prol das pessoas que sofriam pela Aids. Minha esperança era a de que a vacina pudesse ser a cura da doença.” A participação em estudos — sobretudo em contextos de medo, estigma e ausência de alternativas — envolve risco assumido em nome de um benefício coletivo. Quando a lei abre espaço para interromper cuidados e deslocar custos ao SUS, ela rompe a reciprocidade e transforma solidariedade em exploração.
Leia também: Ética em pesquisa: uma vitória do atraso, por Marisa Palacios, Márcia Bandini e Reinaldo Guimarães
Por isso, o eixo central da ADI 7875 é o acesso pós-estudo — enquanto ele lhe for benéfico e necessário. Esse era o sentido ético da regra: quem assumiu riscos em nome do interesse coletivo não pode ser “descartado” quando o estudo termina. A Lei nº 14.874/2024 coloca barreiras a essa continuidade: limita por quanto tempo o medicamento deve ser fornecido, cria condições para interromper o tratamento e abre espaço para transferir responsabilidades. Na prática, pode acontecer o seguinte: o patrocinador encerra o fornecimento alegando que o medicamento “já existe no mercado” ou que “há outra forma de acesso”.
Só que isso, na vida real, não garante nada. Um remédio pode até estar à venda e, ainda assim, não ter sido incorporado ao SUS, não estar disponível na rede pública, ou ser simplesmente inacessível para quem precisa por conta do preço. Para quem participou do estudo, isso pode significar interrupção abrupta de um tratamento indispensável; para o SUS, pode significar a conta chegando depois, por meio de judicialização e compras emergenciais — sem previsão orçamentária adequada. E quando falamos de novas terapias, especialmente na oncologia, estamos falando de custos que podem chegar a centenas de milhares de reais por paciente por ano.
O segundo eixo também é grave: a flexibilização do consentimento em emergências. A lei admite a inclusão de participante “em situação de emergência e sem o seu consentimento prévio”, deixando para “a primeira oportunidade possível” a informação e a coleta de decisão. Não dá para falar disso sem lembrar a pandemia: quando o excepcional vira rotina, cresce o risco de capturar o desespero — e normalizar o inaceitável. Consentimento livre e esclarecido não é obstáculo burocrático; é a linha que separa cuidado de exploração.
O terceiro eixo é quem controla a ética em pesquisa — e a serviço de que interesses? A própria regulamentação e o novo desenho do sistema substituem o arranjo histórico CEP/CONEP por um sistema com instância nacional e CEPs, reorganizando a governança ética. O problema não é “modernizar”: é remover controle social e independência.
E quando a instância nacional fica sob coordenação da área de ciência, tecnologia e complexo industrial, instala-se um conflito institucional de interesses: quem tem como missão fomentar desenvolvimento e incorporação tecnológica passa a coordenar a avaliação ética — justamente o campo que deveria estar blindado da pressão econômica. Isso esvazia, na prática, a diretriz constitucional de participação da comunidade na gestão do SUS (art. 198, III): a própria ADI sustenta que a previsão legal é insuficiente para assegurar controle social efetivo.
A ideia de que “mais pesquisa clínica” automaticamente “traz inovação” confunde etapas distintas do ciclo tecnológico. Ensaio clínico não é sinônimo de inovação. Antes do medicamento chegar às prateleiras das farmácias, ele atravessa uma sequência de testes em que a maioria falha: primeiro em laboratório e animais (pré-clínica), depois em humanos em estudos pequenos (fase I), em seguida em estudos que colocam à prova dose, estratégia e sinais de eficácia (fase II), e, por fim, em comparações amplas com o padrão de cuidado (fase III). Ensaios clínicos são, muitas vezes, a fase de validação e registro de produtos desenvolvidos fora do país — e não o núcleo onde a inovação (molécula, plataforma, know-how produtivo e capacidade industrial) é gerada.
O Brasil já é um campo atrativo para pesquisa clínica por razões estruturais que nada têm a ver com “flexibilizar” direitos: capilaridade do SUS, hospitais e universidades, centros públicos (como Fiocruz e Butantan), pesquisadores qualificados, população numerosa e diversa — fator frequentemente citado como vantagem para pesquisa, além de alta carga agravos de saúde.
Além disso, a internacionalização de ensaios clínicos é influenciada também pela redução de custos, disponibilidade de infraestrutura e mão de obra comparativamente mais barata, o que aumenta o risco de instrumentalização de populações vulneráveis se as salvaguardas forem enfraquecidas. Em outras palavras: o país já oferece condições para sediar estudos; o que está em disputa é se isso ocorrerá com soberania, proteção e repartição de benefícios, ou como simples “plataforma barata” para acelerar mercados.
Lenacapavir, cabotegravir e a lógica da exclusão
O problema não é “atrair pesquisa”; é permitir pesquisa sem garantias, em que o país oferece infraestrutura, dados e gente, mas não recebe acesso, transferência de tecnologia, transparência de preços, nem compromisso duradouro com quem participou. O caso das tecnologias em HIV torna isso concreto: há estudos em curso no Brasil com produtos de longa duração como lenacapavir (Gilead), cabotegravir (ViiV/GSK) e o MK8527, medicamento experimental da Merck para prevenção e tratamento.
O desenvolvimento desses medicamentos e seu lançamento no mercado contou — ou contará — com a participação direta de brasileiras e brasileiros nos ensaios clínicos. Ainda assim, o país e as comunidades que contribuíram com o desenvolvimento são recorrentemente excluídas dos arranjos de acesso propostos pelas empresas, como as licenças voluntárias. Essas licenças são acordos privados em que o “dono do medicamento” autoriza alguns fabricantes de genéricos a produzir e vender o medicamento — com ou sem pagamento de royalties.
Na prática, a licença vem com uma lista de países incluídos e excluídos, que define quem terá acesso mais rápido e barato e quem continuará preso ao monopólio e aos preços altos. O Brasil, por ser considerado um mercado lucrativo, costuma ficar de fora. O resultado é perverso: o país – o povo brasileiro – participa como campo de pesquisa sem colher os benefícios em forma de acesso amplo, capacidade real de produção local e autonomia tecnológica.
Se a regra do jogo permite que patrocinadores decidam, em última instância, sobre continuidade e que o SUS seja pressionado a cobrir o que o mercado não entrega, o resultado é previsível: judicialização, desorganização da política pública e aprofundamento da desigualdade — com o orçamento público “absorvendo” riscos que geraram valor privado.
No STF, portanto, discute-se se a pesquisa clínica continuará sendo política pública orientada pela dignidade, ou se será rebaixada a plataforma de extração: de corpos, dados e recursos do SUS, em troca de promessas vagas de inovação. A pesquisa clínica trará então mais inovação? O que é uma inovação sem acesso? A resposta constitucional necessária é simples: não existe ciência ética com retrocesso de direitos.
Pesquisa com seres humanos exige controle social forte, consentimento inegociável, acesso pós-estudo sem descontinuidade e responsabilidade do patrocinador pelos custos e danos. Porque nenhuma “inovação” justifica tratar vidas como descartáveis — e nenhum país soberano deveria aceitar que sua população seja meio para fins que não retornam em cuidado, acesso e justiça social.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.