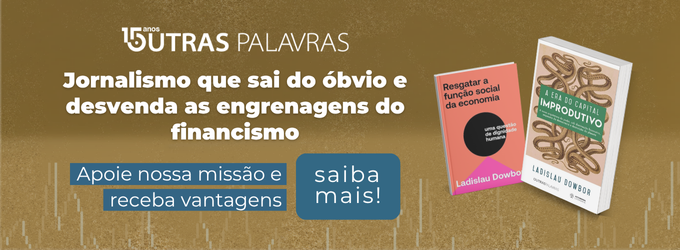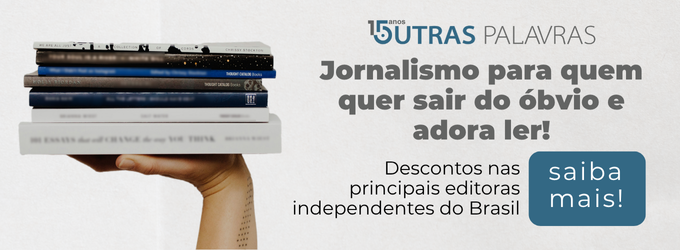Segurança: o medo como projeto político
Quando ele vinga, não é preciso oferecer um futuro; basta prometer proteção contra um presente caótico. O político se apresenta como um escudo, não como alternativa. O voto se reduz a um gesto de autopreservação, marcando o triunfo da política como reflexo condicionado
Publicado 11/11/2025 às 18:08 - Atualizado 11/11/2025 às 18:09

O medo é o principal ativo político da extrema direita e o motor da distinção que Carl Schmitt, o jurista artífice do nazismo, definiu como fundadora da política: a separação entre amigo e inimigo. Longe de ser um mero subproduto da crise, o medo é um deliberado instrumento de governo. Onde o Estado se retira das garantias sociais, ele preenche o vácuo, oferecendo um inimigo no lugar de um direito. É a emoção que substitui o debate e converte a insegurança cotidiana em poder.
De fato, com a ascensão das campanhas digitais, essa lógica schmittiana foi levada à sua máxima potência. A função da retórica do medo não é convencer através do debate, mas recrutar soldados para um lado da fronteira. Ao estabelecer a distinção fundamental entre o “amigo” (o “cidadão de bem”) e o “inimigo” (a “ameaça”), a política abandona o campo das ideias e se reconfigura como um campo de batalha existencial. Nesse cenário, quem define o inimigo e promete seu aniquilamento assume, por consequência, o comando.
O Brasil tornou-se um caso exemplar. A retórica da “guerra ao crime”, historicamente alimentada pelo sensacionalismo midiático, foi reembalada como uma poderosa estética eleitoral. Cada manchete sobre violência é usada como prova da falência social, legitimando a repressão como única saída. O eleitor, acuado, muitas vezes endossa a violência estatal acreditando proteger a si mesmo.
A extrema direita compreendeu a natureza performática do medo: sua eficácia independe da veracidade dos fatos. A notícia distorcida, o vídeo descontextualizado ou o pânico moral sobre costumes não visam informar, mas provocar uma reação visceral. Cada reação é uma adesão; cada onda de pânico consolida um poder que se alimenta da ansiedade coletiva.
Esse ecossistema opera em eixos complementares. O midiático sustenta a sensação de insegurança permanente através de telejornais e redes sociais. O econômico se manifesta na expansão do mercado de segurança privada, armas e condomínios-fortaleza. Já o eixo político utiliza o discurso do pânico para justificar cortes sociais em favor da expansão do orçamento policial. A sociedade é, assim, induzida a aceitar a violência como remédio.
O medo também assume uma dimensão moral. Quando o inimigo fabricado transcende o criminoso comum, ele se torna o defensor de direitos humanos, o acadêmico crítico ou o opositor das políticas de encarceramento em massa. A política social é substituída pela guerra de costumes, a fé é instrumentalizada como raiva, e a gestão do Estado se transforma em uma cruzada. O medo é o elo que une a teologia da punição à economia do abandono.
Há uma pedagogia em curso nesse processo. O cidadão é instruído a desconfiar do vizinho, a naturalizar a letalidade policial e a ressentir o pobre em nome da ordem. É uma educação emocional que forja uma cultura política punitiva. Quem domina a narrativa do medo, domina o imaginário, definindo o que é ameaça, quem deve ser contido e quem merece proteção.
Na retórica eleitoral, o projeto é o medo. Não é preciso oferecer um futuro; basta prometer proteção contra um presente caótico. O político se apresenta como um escudo, não como um gestor. O voto deixa de ser uma escolha programática para se tornar um gesto de autopreservação, marcando o triunfo da política como reflexo condicionado.
Esse uso calculado do medo conecta o Brasil a um eixo internacional de líderes que encontraram no pânico social sua principal linguagem. Trump, Meloni, Orbán, Milei: todos operam com a mesma gramática emocional, ainda que com sotaques locais.
No contexto latino-americano, essa gramática se materializa na figura do “narcoterrorista”, um inimigo híbrido que funde o medo do crime urbano com a ameaça existencial do terrorismo, legitimando uma resposta de guerra. O medo, seja do imigrante, do “subversivo” ou do criminoso, torna-se o idioma comum da nova direita global — o instrumento que converte incerteza em obediência.
Enfrentar essa lógica exige, antes de tudo, abandonar a negação. É preciso reconhecer a legitimidade dos medos que afligem o cidadão comum — o medo da violência que bate à porta, da instabilidade econômica que corrói o presente e da incerteza que apaga o futuro. Ignorar essa angústia primária não é apenas um erro estratégico; é abandonar o diálogo com a própria sociedade que se deseja transformar, deixando-a refém de quem oferece as respostas mais simples.
A verdadeira tarefa política começa, então, na distinção crítica entre o medo que é sintoma e o medo que é arma. Uma vez validada a insegurança real, torna-se imperativo desmascarar como ela é cinicamente instrumentalizada para fabricar pânicos morais e bodes expiatórios. O adversário a ser nomeado não é um suposto inimigo da moral e dos bons costumes, mas o mecanismo que converte a polarização social em capital eleitoral. A crítica se torna potente quando expõe que a guerra cultural não resolve a criminalidade, apenas a distrai, e que o pânico moral não gera empregos, apenas consolida poder.
Portanto, o desafio final não é prometer um mundo utópico sem medo, mas forjar uma política onde as ameaças são enfrentadas com a seriedade da gestão, e não com a performance do autoritarismo. Trata-se de devolver o medo à sua dimensão original: não como um projeto de poder, mas como um conjunto de problemas complexos que demandam inteligência, investimento e, acima de tudo, instituições funcionais. A única resposta à altura da política do medo é a construção de um Estado que inspire mais confiança do que temor.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras