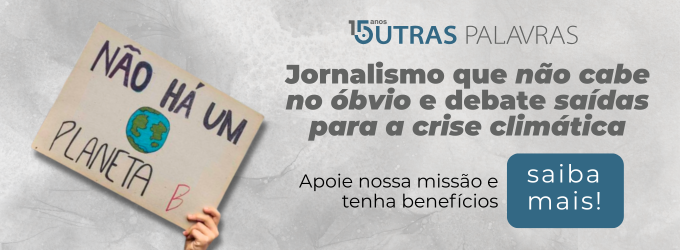Agroecologia, um campo para a justiça climática
Às vésperas da COP30, Congresso de Agroecologia, reforça: agendas alimentar e ambiental caminham juntas. Diversas experiências, inclusive o local que a sediará, mostram que uma produção sustentável é possível. Mas depende de investimentos robustos do Estado
Publicado 14/10/2025 às 19:23 - Atualizado 14/10/2025 às 19:49

A emergência climática e a necessidade de se conquistar a segurança e a soberania alimentar fizeram com que a discussão sobre A agroecologia ultrapassasse os muros da academia e começasse a ganhar corpo no espaço público. E se, como conceito, ela nasceu como proposta de ciência critica, pouco a pouco foi ganhando a participação de pequenos agricultores, quilombolas e indígenas que transformaram sua prática e seu conhecimento, estabelecendo uma nova dinâmica que pode ser fundamental não só para o futuro do Brasil, mas como do próprio planeta, cada vez mais em risco.
O 13º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai ser realizado em Juazeiro, na Bahia, entre os dias 15 e 18 de outubro, tem como uma de suas missões consolidar a união entre os saberes tradicionais e a inovação científica. se a última edição teve como um dos objetivos questionar a construção ideológica do agronegócio, contestando o lema de que o “agro é pop”, agora, o momento político propicia outros tipos de reflexões.
“Nós costumamos fazer o Congresso no final do ano, mas desta vez optamos pela realização nas vésperas da COP-30 [30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima], e também para coincidir com o Dia Internacional da Alimentação (16 de outubro). O objetivo é vincular a agroecologia com essas duas agendas: a alimentar e a climática. E mandar uma mensagem pra COP: não existe uma solução pra uma ou para outra. Ou conjuga as duas ou não serão solução”, explica o agrônomo Paulo Petersen, coordenador executivo da AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia, membro do núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia), organização que realiza o evento.
Segundo Petersen, trata-se de uma oportunidade para posicionar de forma mais assertiva a agricultura familiar na agenda climática. “O Brasil tem que mudar seus sistemas alimentares. O agronegócio não está feliz com a ideia de que ele é o grande responsável pelas emissões de gases que causam o efeito estufa, já que o Plano Clima, que aprofundou suas metas, atribui uma parcela dessa responsabilidade a ele”, pontua.
Agronegócio e colapso climático
O Plano Clima mencionado por Petersen é o guia das ações de enfrentamento à mudança climática empreendidas pelo Brasil até 2035, sob o acordo de Paris. Tendo como pilares a mitigação e a adaptação dos sistemas naturais e humanos aos efeitos da crise do clima, o país se comprometeu com a redução de 59% a 67% das emissões líquidas de gases de efeito estufa, na comparação aos níveis de 2005. Isso equivale a alcançar um corte de emissões entre 850 milhões e 1,05 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente no período.
Em 2023, a emissões brutas totais de dióxido de carbono (CO₂) somaram 2,3 bilhões de toneladas, segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima (SEEG), divulgados no ano passado. Isso representou uma redução de 12% em relação ao ano anterior, a maior queda desde 2009, resultado impulsionado, principalmente, pela queda de 24% nas emissões por desmatamento. A maior parte das emissões totais, 46%, se refere ao setor de mudanças no uso da terra. Em seguida, vêm as do setor agropecuário, representando 28% do total; energia, processos industriais e uso de produtos, respondem por 22%, e resíduos, por 4% das emissões.
Se a redução do desmatamento trouxe o total de emissões para baixo, a agropecuária fez o contrário, com seu quarto recorde consecutivo e uma elevação de 2,2%, devida principalmente à expansão do rebanho bovino. A maior parte das emissões nesta área vem da fermentação entérica, o “arroto” do boi, com 405 milhões de toneladas em 2023, superando, por exemplo, toda a produção de gases de efeito estufa da Itália.
Contudo, essa análise só aborda o volume produzido pelas atividades em si e não sua possível vinculação com o desmatamento e as queimadas, por exemplo. E o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, realizado pelo Mapbiomas e divulgado em 2025, apontava que o agronegócio era o principal responsável pelo desmatamento ilegal no país, pontuando que a produção agropecuária em larga escala havia provocado 97% de toda a perda de vegetação nativa entre 2019 e 2024.
“Somando as emissões por desmatamento e outras mudanças de uso da terra com as do setor agropecuário, conclui-se que a atividade agropecuária em sentido amplo responde por 74% de toda a poluição climática brasileira”, concluía um relatório sobre a análise das emissões de gases de efeito estufa lançado em 2023, avaliando dados de 1970 a 2021. Em outras palavras, sem mudar o modelo predatório do agronegócio, o Brasil vai continuar emitindo gases de efeito estufa em grande quantidade e pode ter dificuldades para cumprir seus compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris.
Integrantes do próprio governo já reconheceram esta necessidade. Durante plenária na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, realizada em setembro, o secretário nacional substituto de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Aloisio Melo, afirmou que, para cumprir a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) apresentada pelo governo brasileiro no final de 2023, o país terá que frear o desmatamento não apenas nas áreas públicas, mas também na utilização do solo pela agropecuária.
A resiliência do povo do Semiárido
O local escolhido para a realização do Congresso Brasileiro de Agroecologia representa o sucesso do modelo agroecológico tanto na produção de alimentos como na relação equilibrada com o meio ambiente, ilustrando alternativas reais ao agronegócio. Juazeiro fica no Semiárido brasileiro, região fundamental para que comida de verdade chegue à mesa das pessoas.
Segundo o Censo Agropecuário de 2017, aproximadamente 48% dos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil estão localizados no Semiárido. Isso significa que, dos cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos classificados como agricultura familiar no país, aproximadamente 1,86 milhão ficam na região. Esses estabelecimentos são um dos pilares da economia local, já que representam 81% de todas as propriedades rurais dali, produzindo culturas como feijão, milho, mandioca e a criação de caprinos e ovinos.
“A agroecologia é uma estratégia fundamental para a convivência com o semiárido. Sem ela, forjada a partir dos territórios históricos e das práticas ancestrais dos povos da região, o semiárido não seria o que é hoje, um território vivo e produtivo”, conta Leila Santana, da direção Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). “Afirmar isso é reconhecer que o semiárido atual se sustenta justamente na agroecologia desenvolvida por essas populações, mesmo antes de o termo existir. Foi a partir dessas práticas que se consolidou um modo de vida capaz de lidar com as adversidades climáticas, criando sistemas produtivos alternativos e sustentáveis.”
Leila destaca ainda que a prática agroecológica articula conhecimentos locais e científicos para fortalecer a resiliência do bioma Caatinga na região. “Essa integração de práticas e saberes não apenas garante a produção de alimentos e a preservação ambiental, mas também representa uma forma de resistência territorial e de produção contínua de conhecimento”, aponta. É uma mudança da lógica do “combate à seca” para a convivência com o semiárido.
O projeto “Mapeamento de Sistemas Agrícolas Familiares Resilientes às Mudanças Climáticas e Desertificação no Semiárido Brasileiro”, financiado pelo CNPq, conseguiu detalhar como se dá essa o desenvolvimento dessa capacidade de adaptação dos camponeses à realidade local. “Os resultados mostraram que muitas famílias no semiárido brasileiro têm respondido positivamente aos desafios das mudanças climáticas e da desertificação. Elas demonstraram grande capacidade de inovação e resiliência, baseadas na intensificação da produção por meio da valorização dos recursos locais, do uso de tecnologias apropriadas e da diversificação dos sistemas produtivos. Essas famílias criaram redes de manejo integrado, utilizando sistemas complementares para a formação de estoques de água, forragens, alimentos e sementes, o que resulta em uma maior circulação de nutrientes, biomassa e energia dentro dos agroecossistemas”, apontam o pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), Aldrin M. Pérez-Marine, e o professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Jonas Duarte, em artigo.
Eles ressaltam a importância do desenvolvimento de tecnologias sociais e de políticas públicas para dar suporte às famílias. “A adoção de tecnologias sociais, como cisternas e poços, tem garantido uma importante segurança hídrica para consumo doméstico e produção. A reciprocidade ecológica e social observada nas iniciativas agroecológicas foi alta, com mais de 80% de eficácia, o que fortaleceu a capacidade das comunidades de lidar com a escassez de água e melhorar sua produtividade”, pontuam. “Além dos benefícios produtivos, os sistemas agrícolas familiares de bases agroecológicas contribuíram para a geração de renda. As famílias comercializam seus produtos em diversos mercados locais, como feiras, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Isso resultou em uma renda estável e crescente, que, somada à renda não agrícola, garantiu uma economia familiar mais robusta, com lucro entre 2 a 3 dólares para cada dólar investido, e uma maior soberania econômica.”
Desafios e contradições
Além da COP30, o Congresso busca também colocar o tema da agroecologia como prioritário no cenário político-institucional, em vista das eleições de 2026. Como lembra o texto da programação do evento, ao longo das últimas décadas foram institucionalizados no país diversos instrumentos de políticas públicas que incorporam estratégias de conservação da biodiversidade, do manejo sustentável e da justiça alimentar. Mas se avanços foram conquistados, os desafios, diante de um quadro persistente de desigualdade em diversos aspectos e das mudanças no clima, permanecem.
“O Brasil é um exemplo para o mundo de como implementar políticas públicas capazes de fazer a diferença. Quase metade da agricultura familiar do país está concentrada na região do semiárido, que se tornou uma referência justamente por isso — por mostrar caminhos concretos para a convivência sustentável com o clima e o território”, observa Paulo Petersen. “No entanto, as contradições são grandes. A maior parte dos recursos públicos ainda se concentra na produção de commodities, o que gera impactos profundos, inclusive sobre os sistemas alimentares. Enquanto isso, as políticas voltadas à agroecologia continuam subfinanciadas.”
Nesse sentido, seria necessário dar um salto em termos de investimentos e priorização de recursos por parte do Estado. “Apesar de haver algum apoio público — até porque vivemos um governo de coalizão —, os incentivos continuam desiguais. Há subsídios significativos para o agronegócio, para a produção de alimentos ultraprocessados, o uso de agrotóxicos e transgênicos, enquanto a agricultura familiar e a agroecologia recebem menos investimentos. É preciso inverter essa lógica e reorientar a destinação dos recursos públicos”, defende o agrônomo.
As experiências de políticas públicas voltadas para a agroecologia também trazem outros aprendizados e despertam outras necessidades, como pontua Leila Santana. “As políticas e programas voltados ao semiárido deixaram um legado importante: o de pensar a segurança e a soberania alimentar dentro das próprias políticas públicas. Isso passa por compreender a necessidade de territorializar essas políticas. Ou seja, adaptá-las às condições naturais, sociais e culturais de cada região, para que seus impactos sejam concretos e sustentáveis”, explica.
Dentro desse cenário, as iniciativas que mais se territorializaram foram justamente aquelas que se moldaram às realidades locais, respeitando o bioma e incorporando metodologias próprias de construção territorial. “Esse é um aprendizado essencial deixado pelo conjunto de programas implementados no semiárido, como os sistemas de acesso à água para consumo e produção”, diz Leila. Esses exemplos mostram, segundo ela, que não existem políticas eficazes quando atuam de forma isolada.
A encruzilhada brasileira (e mundial) se torna mais nítida, persistir em um modelo agropecuário que aprofunda a crise climática e social ou abraçar práticas como a da agroecologia como um caminho rumo à soberania alimentar e à justiça ambiental. A COP30 se aproxima, e com ela a oportunidade de o Brasil ir além da apresentação de metas, demonstrando que a verdadeira potência reside na capacidade de alimentar seu povo e preservar seu território, honrando a resiliência de quem faz da terra um espaço de vida, e não de lucro predatório.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.