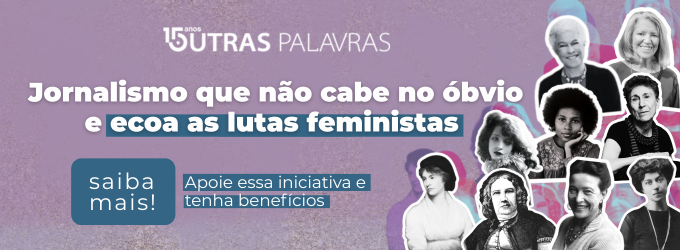Considerações sobre a economia da atenção
Não tenho simpatia pela Teoria do Valor Trabalho, nem concordo com uma concepção de mercadoria que julgo essencialista. Penso ser necessário examinar com mais atenção a natureza dos bens intelectuais – e indispensável uma Teoria Marxista das Redes Sociais.
Publicado 10/10/2025 às 19:28 - Atualizado 10/10/2025 às 19:51

Resposta a “Crítica da teoria do valor-atenção” de Jorge Nóvoa & Eleutério Prado (A Terra é Redonda, 4/9) e “Uma mercadoria “sui generis parte 1” e Uma mercadoria “sui generis parte 2”, de Marcos Dantas (A Terra é Redonda, 11/9 e 18/9).
Para evitar mal-entendidos, achei de bom alvitre – usando o termo hoje em dia tão na moda – caracterizar meu lugar de fala, dizendo, para começar, que não tenho simpatia pela Teoria marxista do Valor-Trabalho (TVT). E, se subscrever a TVT é condição necessária para que uma pessoa seja marxista, então não sou marxista. Em conversas com amigos/as adeptos/as do marxismo, costuma ocorrer que eles/as assumem a premissa segundo a qual se alguém não aceita a TVT, então deve necessariamente aceitar a teoria neoclássica do valor, conhecida como subjetiva, e alicerçada no valor de uso. Minha posição, entretanto (adotando neste ponto ideias de Marx e Aristóteles), é a de que, sendo o valor um substrato do preço − ou, em outras palavras, atribuindo a uma teoria do valor a função de explicar os preços −, o valor de uso não funciona como alicerce, uma vez que não é mensurável. Por outro lado, sustento a tese de que o estudo dos fenômenos econômicos prescinde de uma teoria do valor como fundamento.1
1. Atenção
Qualquer pessoa que entenda o imperativo “preste atenção” sabe o que é a atenção. Mas para alguém que considere necessária uma definição, pode-se dizer: a atenção é o estado mental em que os sentidos e capacidades de processar informações de uma pessoa são focalizados num domínio limitado.2 O outro da atenção é a distração. A atenção é tema de estudo principalmente da Psicologia, mas também da Filosofia, Educação, Neurociência e suas subdisciplinas: a Neurociência Cognitiva e a Neuropsicologia.
São incontáveis as situações em que a mente fica em estado de atenção. Numa conversa, um interlocutor presta atenção no outro. Resolver um problema, ou realizar uma tarefa, requer atenção, etc., etc. Crianças pequenas são ávidas pela atenção dos pais. Entre as mais crescidas, assiste-se atualmente a uma proliferação das diagnoses de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).
Esse prolegômeno é necessário para esclarecer que a atenção no campo da Economia das redes sociais não é qualquer atenção, mas sim um tipo bem específico, a saber, a atenção a peças publicitárias a que os internautas são forçados a dedicar. Há trechos no artigo de Nóvoa e Eleutério em que tal especificidade não é levada na devida conta, gerando confusão. Para não me alongar demais sobre o tema, vou me limitar a um exemplo:
Veja-se: a captura da atenção não é algo novo, já que toda mercadoria ontem, hoje e amanhã “deseja” intensamente a atenção. Pois, a atenção vem a ser, simplesmente, a contrapartida do valor de uso. Logo, a atenção não é vendida ou comprada. Ela se dirige para os valores de uso das mercadorias, os quais podem vir a satisfazer necessidades que vêm do “estômago ou da fantasia”.
2. Mercadorias e direitos de propriedade
Em sua teoria do capitalismo, Marx parte da análise da mercadoria. Proponho aqui um esboço, muito sumário, de uma alternativa, que consiste em adotar como ponto de partida o direito de propriedade. Obviamente, na ordem lógica, a propriedade vem antes da mercadoria. Sem o de propriedade, o conceito de mercadoria não faz sentido. Como todos os outros, o direito de propriedade pressupõe uma forma de organização social dotada de uma instância à qual o cidadão pode recorrer para fazer com que seus direitos sejam respeitados. Em geral, e tipicamente nas sociedades modernas, tal papel cabe ao Estado Como diz Macpherson:
Que a propriedade é política é evidente. A ideia de uma reivindicação que pode ser imposta implica a existência de algum órgão que a imponha. O único órgão amplo o suficiente para isso é toda a sociedade organizada, ela própria, ou sua organização especializada, o Estado; e nas sociedades modernas (isto é, pós-feudais) o órgão de imposição sempre foi o Estado, a instituição política da idade moderna. Portanto, a propriedade é um fenômeno político.3
A propriedade não é uma relação entre uma pessoa e um bem: é uma relação entre pessoas, que diz respeito aos bens. A propriedade de uma bicicleta de que sou dono não é uma relação entre mim e a bicicleta, é uma relação entre mim e a sociedade, referente à bicicleta. Quando se compra um bem, o que se adquire é o direito de usar, consumir, vender ou alugar o bem. Alugar, vale dizer, é transferir para outra pessoa o direito de propriedade de um bem, durante um determinado período de tempo. O bem pode ser o próprio dinheiro, e neste caso trata-se do empréstimo a juros.
Esta abordagem que parte da propriedade tem pelo menos uma vantagem em comparação com a de Marx, que se inicia com uma análise abstrata da mercadoria. O direito de propriedade é uma instituição que emerge de um contexto cultural-social, de tal modo que fica rejeitada de saída a concepção de Adam Smith, que funda o capitalismo numa suposta natureza humana, mais precisamente, na propensão inata a negociar, permutar e trocar (truck, barter and exchange). Em contraste, na abordagem marxista, a integração da economia no todo social só aparece mais tarde, ao longo do desenvolvimento da teoria.
Na falta de uma alternativa melhor, vou chamar de Troca (com T maiúsculo) uma operação em que dois bens trocam de proprietários: o que era meu agora é seu, o que era seu agora é meu. Há três tipos de Troca. O primeiro é o escambo, ou permuta – em que nenhum dos bens Trocados é o dinheiro. O segundo, − denominado aqui ‘troca’ com t minúsculo − é uma operação de compra-e-venda, nos moldes da forma mercadoria. E o terceiro é o da Troca de presentes, correspondente à forma dádiva.4
Ambas as formas envolvem obrigações e direitos – o que é direito para um é obrigação para o outro e vice-versa. A troca de mercadorias é uma relação contratual, entendendo o contrato no sentido canônico, de um acordo formal entre indivíduos, que estabelece direitos e obrigações mútuos. A troca de presentes também envolve obrigações – como indica a forma de agradecimento da língua portuguesa, o “obrigado” – porém tais obrigações são apenas de ordem moral: pode-se processar o comerciante que não entregou a mercadoria pela qual pagamos; pode-se censurar, mas não levar à Justiça o amigo que não retribuiu o presente de aniversário que lhe demos.
A ideia da dádiva como princípio organizador da sociedade deve-se a Mauss, fruto de suas investigações a respeito de sociedades por ele denominadas “primitivas”. Apesar da hegemonia do sistema capitalista, subsistem nos dias de hoje inúmeras modalidades de dádiva, incluindo, além da mais evidente, isto é, as trocas de presente propriamente ditas: o trabalho voluntário; as práticas de caridade e filantropia; a dádiva nas relações familiares, amorosas, de amizade e de companheirismo; a doação de sangue e de órgãos humanos para o transplante; os serviços prestados na forma de favores no dia a dia, etc. Em seu conjunto, essas práticas constituem uma esfera de interações humanas de enorme importância, porém ignorados pela linhagem dominante na Economia de hoje.
Na teoria de Marx, uma mercadoria é um bem, produzido pelo trabalho humano, para ser trocado. O fato de ser produzido pelo trabalho humano para ser trocado é concebido como um pecado original, do qual o bem só se livra quando deixa de existir. A referência à origem é um aspecto do caráter essencialista da teoria marxiana, em que um bem é ou não é mercadoria. Na visão aqui proposta − mais dialética, a meu ver −, a questão não é ser ou não ser mercadoria, mas funcionar ou não funcionar como mercadoria, em cada Troca de que o bem participa. Considere-se um pai que compra um computador para presentear o filho. No momento da compra, o computador funciona como mercadoria; quando é dado de presente, funciona como dádiva. Se o filho não gosta do presente, e resolve vendê-lo, o computador volta a funcionar como mercadoria. Essa concepção se adapta melhor à multiplicidade de Trocas pelas quais um bem pode passar entre a produção e o consumo.5
Há uma categoria de bens que difere das demais em vários aspectos − os bens intelectuais. Sendo bens abstratos, eles têm certas peculiaridades, em contraste com os bens materiais, as quais são responsáveis pelo fato de que a instauração da propriedade em relação a eles requer um dispositivo jurídico específico – a saber, os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI). Note-se que o próprio nome, por incluir o termo ‘direitos’, é evidência da superioridade da abordagem aqui proposta, em que o ponto de partida não é a mercadoria, mas o direito de propriedade. No que se refere aos bens em geral, excluindo, os intelectuais, pode-se dizer que constituem os Direitos de Propriedade Material.
Os DPI dividem-se em dois grandes ramos: o da propriedade industrial – que inclui vários tipos de patente, marcas, desenhos (designs) industriais, softwares, etc. – e o dos ‘direitos autorais e direitos conexos’.
A diferença mais importante entre os bens intelectuais e os materiais diz respeito à distinção feita pelos economistas entre bens rivais e não-rivais. Por definição, a posse, consumo, ou usufruto de um bem rival por alguém elimina, ou no mínimo reduz, a possibilidade de que ele seja também possuído, consumido ou usufruído por outras pessoas. Por exemplo, se sou dono de um pão, posso comê-lo todo, e posso também reparti-lo, porém quanto maior o pedaço de cada um dos comensais, menor o dos outros. Dado seu caráter abstrato, os bens intelectuais são bens não-rivais por excelência, já que quem dá uma ideia a alguém continua num certo sentido a possuí-la. O fato de alguém ler um livro não impede que outras pessoas façam o mesmo. Quem compra um livro compra na verdade o direito de acessá-lo, e respeitados certos limites, de fazer com ele o que bem quiser. Os DPI desempenham papéis importantes na informática, incluindo os direitos autorais referentes ao software, a conteúdos divulgados em redes sociais, a patentes relacionadas ao hardware, etc. Os recentes avanços da IA deram origem a novas disputas, no caso, entre jornais tradicionais e as plataformas conhecidas como chatbots, pelo uso que fazem de matérias jornalísticas no treinamento na modalidade large language models.
Aproveito esta oportunidade para complementar a descrição do modelo de negócios das big techs exposta em meu artigo sobre a atenção, com duas observações. A primeira é a de que o uso da publicidade como fonte de renda é também aspecto do modelo de negócios dos influenciadores. A segunda, muito mais importante, é a de que o faturamento das big techs compreende, além dos ganhos com publicidade, os ganhos com a venda do acesso, a bancos de dados, extraídos das interações com os internautas.
Na segunda parte de seu artigo Dantas trata desse tema, mas sem levar em conta os DPI, o que me parece uma falha, que prejudica o entendimento de suas ideias. Ao abordar a venda do acesso a bancos de dados, p. ex., Dantas afirma que ela se dá por meio de leilões. Como não sou especialista na matéria, posso estar enganado, mas me parece que, sendo bens intelectuais, os bancos de dados são não-rivais: A venda do acesso a um comprador não impede a venda a outros, e assim, a ideia de um leilão perde o sentido.
3. Serviços
O primeiro aspecto dos textos em pauta que me interessou foi a ausência de menção ao conceito de serviço. Sendo o tema de grande importância, convém lembrar que, como se sabe, há duas maneiras de integrar os serviços no todo social. Numa delas, os serviços constituem uma esfera ao lado das mercadorias (como no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços6). Na outra maneira, os serviços pertencem à esfera das mercadorias (e assim são tratados na mensuração do PIB). Cortes de cabelo e consultas médicas são exemplos de serviço bons para ilustrar uma diferença entre as duas categorias: num serviço, a produção e o consumo são simultâneos, numa mercadoria (no sentido estrito), a produção dá origem a uma coisa, um objeto externo, que só posteriormente é consumido, ou usado como meio de produção. Um tipo muito importante de serviço é o correspondente às atividades comerciais; na terminologia marxista, à circulação de mercadorias. 7
Independentemente de teorias, o que as big techs vendem são principalmente serviços de divulgação de peças publicitárias, responsáveis pela maior parte de seu faturamento, e pela enorme dimensão dos capitais envolvidos, que dão uma medida de sua importância no panorama econômico atual. Como menciono em meu artigo, na lista da Forbes das dez maiores fortunas do mundo, sete são de donos de big techs.
Essas são as razões que me levaram a estranhar a ausência do conceito de serviço nos textos em pauta. No de Nóvoa e Eleutério, o termo ‘serviço’ só ocorre uma vez, num papel secundário; no de Dantas, nenhuma vez. Confesso não ter achado uma explicação para o que me parece uma falha.
4. Escassez
O tema da escassez é abordado na quarta seção da crítica de Nóvoa e Eleutério. Eles citam a seguinte frase de meu artigo: “a escassez é um atributo que, na Economia ortodoxa, é considerado essencial para que um bem possa funcionar como mercadoria”, alegando a seguir que “A ideia da escassez da atenção é enigmática”. A dificuldade deve-se, creio a uma questão terminológica. No sentido usual, o termo escassez aplica-se a faltas ocasionais, provocadas por circunstâncias como, p.ex., em relação a um alimento de origem vegetal, a falta ou excesso de chuva, no caso de medicamentos, um excesso de procura, resultante de uma epidemia, no caso de mão de obra, o superaquecimento da economia, e assim por diante.
Na Economia, por outro lado, o significado do termo é muito mais abstrato, e muito mais importante, a ponto de constituir uma lei, a lei da escassez. Como diz Samuelson,
No próprio cerne da Economia encontra-se a indubitável verdade que denominamos a lei da escassez. Ela afirma serem os bens escassos porque não existem recursos suficientes para produzir todos os bens que as pessoas querem consumir. Toda a Economia decorre deste fato central. Sendo os recursos escassos, precisamos estudar como a sociedade escolhe de um cardápio de possíveis bens e serviços, como as diferentes mercadorias são produzidas e precificadas, e quem vem a consumir os bens que a sociedade produz.8
Em outras definições da lei, afirma-se explicitamente a premissa segundo a qual os desejos e necessidades humanos são ilimitados.9 Vale a pena observar que a premissa é firmemente negada por Aristóteles. Como diz Meikle, a noção de limite (peras) desempenha um papel essencial no pensamento de Aristóteles, não só na Economia, mas também na Metafísica.10 Discordando de Solon, quando este afirma “Não foi fixado para o homem um limite de riquezas”, diz Aristóteles: “As coisas passíveis de acumulação necessárias e úteis à comunidade composta pela família ou pela cidade […] parecem constituir a verdadeira riqueza, pois a necessidade desses bens necessários por si mesmos a uma vida agradável não é infinita.” (Politica, 1256a14) Um aspecto em que adeptos e críticos do capitalismo concordam, é o de que o sistema valoriza essencialmente o crescimento ilimitado dos lucros, das riquezas, e da acumulação do capital. Sem a premissa em pauta, a Lei da Escassez não se sustenta.
Por outro lado, no caso da atenção no domínio das redes sociais, a escassez refere-se simplesmente ao fato de que é limitado o tempo que uma pessoa tem à disposição para se dedicar à interação com as redes (em cada dia, 24 horas menos o tempo de sono, de alimentação, etc.). Essa escassez salta aos olhos pelo acirramento da competição. Praticamente, é impossível acessar um blog ou canal no YouTube ou em outras plataformas sem ser obrigado a assistir a pedidos, às vezes súplicas, dos/as influenciadores/as, para que os internautas se filiem aos respectivos sites, ou contribuam para o aumento dos likes.
Concluo com a seguinte observação. Como explico no parágrafo introdutório, minha convicção é a de que no estudo da Economia é dispensável o conceito de valor, enquanto substrato dos preços. Isso vale também para o estudo econômico das redes sociais. A busca de uma teoria marxista do valor-atenção, que constitui o título de meu artigo, não é algo que eu tenha razões para empreender. Tal busca cabe, naturalmente aos marxistas. Havendo discordância quanto ao próprio conceito de valor-atenção, a busca pode ter por meta uma teoria marxista das redes sociais.
Notas:
1 Em Karl Marx discípulo de Aristóteles tratei da questão do valor no contexto da oposição qualitativo/quantitativo, desenvolvendo a seguinte linha de raciocínio. Conceber o valor como substrato dos preços equivale a atribuir a uma teoria do valor o objetivo de explicar os preços. O conceito de preço pressupõe o de dinheiro, e o dinheiro é uma entidade essencialmente quantitativa. Sendo assim, o valor também precisa ter natureza quantitativa. Esse requisito figura claramente nas concepções econômicas, tanto as de Marx quanto as de Aristóteles. Ambos consideram, mas rejeitam, a possibilidade de uma teoria do valor baseada no valor de uso, levando em conta que os valores de uso são qualitativos, e incomensuráveis.
2 A definição de William James é mais complicada: “A atenção é a tomada de posse pela mente, em forma clara e vívida, de um entre os que parecem vários objetos ou linhas de pensamento simultaneamente possíveis. A focalização e a concentração da consciência fazem parte de sua essência”. No original, “Attention is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of its essence.” William James, The Principles of Psychology, vol. 1. Nova York: Henry Holt, 1890, p. 403–404.
3 C. B. Macpherson, “The meaning of property”, em C. B. Macpherson (org.), Property: mainstream and critical positions. Toronto: University of Toronto Press, 1978, p. 4.
4 Tratei dessa temática em A dádiva como princípio organizador da ciência. Estudos Avançados, 28(82) p. 201-223, 2014.
5 Polanyi compartilha com Marx a concepção essencialista da mercadoria. Ele trata da mercantilização da terra, do trabalho e do dinheiro, mas os caracteriza como mercadorias fictícias, por não terem sido produzidos para serem trocados. Em suas palavras: “O ponto crucial é o seguinte: trabalho, terra e dinheiro são elementos essenciais da indústria. Eles também têm de ser organizados em mercados e, de fato esses mercados formam uma parte absolutamente vital do sistema econômico. Todavia, o trabalho a terra e o dinheiro obviamente não são mercadorias. O postulado de que tudo o que é comprado e vendido tem de ser produzido para venda é enfaticamente irreal no que diz respeito a eles. Em outras palavras, de acordo com a definição empírica de uma mercadoria, eles não são mercadorias. […] A descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadorias é inteiramente fictícia.” (K. Polanyi, A grande transformação: as origens de nossa época. 6ª edição. Rio de Janeira: Campus, 2000, p. 94). Numa visão não-essencialista, uma mercadoria pode ser definida como um bem (algo dotado de valor de uso) que pode ser comprado-e-vendido, não importando como foi produzido ou, no caso da terra, se é pré-existente.
6 O nome oficial do ICMS é ‘Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação’.
7 Desde Aristóteles , e passando pelos escolásticos, discute-se a questão: é ou não ético, da parte dos comerciantes, o procedimento de comprar por um preço e vender por um preço maior? Ou, na simbologia criada por Aristóteles e adotada por Marx, é justo o procedimento D-M-D’?
8 Samuelson & Nordhaus, Economics, 14ª edição. Nova York, McGraw,1921, p. 8.
9 A “visão geral criada por Inteligência Artificial” fornecida pelo Google, na versão em inglês, inclui a afirmação de que “os desejos humanos são ilimitados.”
10 Scott Meikle, Quality and quantity in economics: the metaphysical construction of the economic realm. New Literar History 31(2), p. 247-268, 2000.)
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.