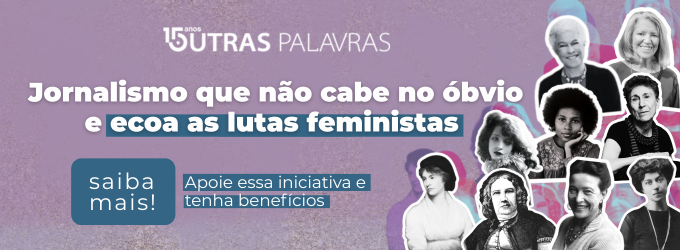“Sem titulação da terra não há Saúde Quilombola”
Em breve, o Brasil contará com uma política de saúde voltada para estes povos tradicionais. Membro do Coletivo Nacional de Saúde Quilombola frisa: a defesa dos territórios é indispensável para seu êxito – assim como o respeito aos saberes ancestrais
Publicado 06/10/2025 às 11:33 - Atualizado 06/10/2025 às 18:14

Após muitos anos de luta das comunidades negras rurais de todo o país, o Brasil parece estar prestes a contar com uma Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola, a PNASQ. Trata-se de uma vitória histórica, mas ainda restam importantes etapas de pactuação política antes de sua implementação, em meio a uma difícil conjuntura de ataques aos territórios dos povos tradicionais. “O que nós temos defendido é que não existe saúde sem o território. Ou seja, não tem como a população quilombola ter saúde, ou existir uma Saúde Quilombola, se o território quilombola não está titulado e preservado”, defende o fisioterapeuta Mateus Brito.
Membro do Coletivo Nacional de Saúde Quilombola da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Brito tem sido uma figura-chave nos processos de construção da PNASQ. Entrevistado pela equipe de Outra Saúde durante o Seminário SUS 35 Anos, onde participou da mesa sobre Desigualdades na Atenção à Saúde, ele explicou o andamento desse trabalho, que envolve instâncias de Estado e da população organizada.
O doutorando do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA também traz detalhes sobre o 1º Seminário Nacional de Saúde Quilombola, recentemente realizado no Maranhão, que resultou na publicação da Carta de Alcântara. O documento reúne as principais avaliações e reivindicações das entidades quilombolas para a Saúde, sintetizadas coletivamente durante o evento. Além de defender a criação da PNASQ, as organizações pedem ações afirmativas e financiamento para programas que garantam a formação de mais profissionais de saúde quilombola, medida que ajuda a garantir o respeito às demandas específicas dessas comunidades no Sistema Único de Saúde (SUS).
Em uma conjuntura marcada pela proximidade da COP-30, o membro da Conaq chamou atenção para os desafios da crise climática. Os megaprojetos já não são os únicos a atingir duramente os povos tradicionais: as alternativas vendidas como “ecológicas”, como as usinas eólicas que se espalham pelo Nordeste, têm afetado principalmente essas comunidades, trazendo problemas de saúde física e mental. “O desenvolvimento e a busca de energias limpas não pode ocorrer sacrificando os povos tradicionais”, alerta.
Confira a seguir a entrevista completa com Mateus Brito, conduzida por Luiza Brazuna e editada por Guilherme Arruda. O texto foi levemente editado, para garantir sua clareza.
Conte um pouco sobre como foi o 1º Seminário Nacional de Saúde Quilombola, realizado em agosto na cidade de Alcântara (MA).
O 1º Seminário Nacional de Saúde Quilombola foi um momento marcante, até então o Ministério da Saúde nunca tinha realizado um evento como esse.
A escolha de organizá-lo em Alcântara se deveu ao fato de que esse é o município com o maior número de comunidades quilombolas em todo o Brasil. Além disso, é um território muito emblemático porque há pouco tempo o Estado brasileiro foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelas violações contra os direitos dos quilombolas ocorridas a partir da década de 1980. A instalação de uma base de lançamento de foguetes na região levou à expulsão de muitas pessoas de suas terras. Recentemente, o presidente Lula foi até Alcântara e assinou um novo acordo, que decreta o interesse social do território quilombola.
No total, nós tivemos a participação de 400 pessoas no evento, ao longo dos três dias. Foram várias oficinas, mesas redondas e debates sobre vários temas ligados à saúde da população quilombola. Mais de 100 territórios de todas as regiões do Brasil estavam representados por suas lideranças, inclusive os de Alcântara, que participaram fortemente.
O Seminário também contou com atendimento médico gratuito. Foram ofertadas vacinas, testagens rápidas, exames de retinografias e uma série de consultas médicas para a população quilombola de Alcântara.
O evento buscou fortalecer a economia solidária. Os kits de materiais entregues aos participantes foram confeccionados por mulheres quilombolas. As artesãs da Comunidade Quilombola de Itamatatiua produziram moringas de barros que foram distribuídas para que os participantes tomassem água. Já as artesãs do quilombo de Santa Maria produziram as bolsas de palha de buriti.
Ao longo da programação, também ocorreram apresentações de várias manifestações de cultura popular quilombola, como o Coco Marajá do Quilombo Cajueiro, o Tambor de Crioula, os caixeiras de Santa Maria, o Cortejo do Divino Espírito Santo, entre outras.
Foi lançado o Zé Gotinha Quilombola, que traz um turbante nas cores do pan-africanismo e um tambor de crioula, símbolo da cultura dos quilombos do Maranhão. Ele também traz um punho cerrado, que representa a resistência do movimento negro e quilombola.
Ao fim do Seminário, como resultado das discussões, também foi lida a Carta de Alcântara, que traz 18 pontos e tem como principal eixo a defesa da criação de uma política nacional de saúde quilombola. Ela foi assinada por mais de 60 organizações, movimentos sociais e instituições nacionais e internacionais que estiveram presentes no evento. A carta está endereçada ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
Leia “Cinco motivos para defender o SUS Quilombola“, artigo de Mateus Brito publicado em Outra Saúde.
Em que pé está a discussão da Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola?
Agora mesmo foi finalizada uma consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil, com mais de 600 contribuições de todo o país para a formulação da Política. O relatório final da consulta mostra que os principais pontos abordados foram saúde mental da população quilombola, promoção de saúde, segurança alimentar e doença falciforme, que resultaram em alterações no texto da minuta. Hoje, já existe uma minuta final da Política, que foi apresentada e qualificada no Seminário de Alcântara, então o processo de formulação está concluído.
Nós entramos agora num estágio que é de pactuação e negociação política. O Ministério da Saúde senta com o Conass e o Conasems para chegar a um consenso entre as esferas federal, estadual e municipal e lançar a política. Não temos exatamente uma previsão para quando isso se conclui. O “sonho” seria lançar na COP-30, devido à ligação do tema com a questão ambiental, mas não dá pra prever. Nossa experiência anterior é que esses processos podem demorar anos. A Política de Saúde da População Negra demorou 4 anos, a Política de Saúde da População do Campo, da Floresta e das Águas demorou 2 anos, então é um pouco imprevisível.
Queria explorar um pouco a sua fala aqui no Seminário SUS 35 Anos, em que você participou da mesa sobre Desigualdades na Atenção à Saúde. Você refletiu sobre a importância dos territórios para a saúde física e mental das comunidades quilombolas. Conte um pouco mais sobre como você entende essa questão, quais são os acúmulos da população quilombola organizada.
O que nós temos defendido é que não existe saúde sem o território. Ou seja, não tem como a população quilombola ter saúde, ou existir uma Saúde Quilombola, se o território quilombola não está titulado e preservado.
Nesse ponto, é fundamental o encontro entre o direito à saúde e o direito à terra – mas não qualquer terra. Lutamos pela territorialidade dos nossos ancestrais, aquela terra que tem a trajetória da resistência dos mais velhos e antigos. Nela, é preciso ter educação, saúde, emprego, floresta de pé, o que envolve também a luta por políticas públicas.
Também temos nos aproximado cada vez mais dos debates sobre crise climática e mudança do clima, que historicamente foram protagonizados por grandes empresas e governos do Ocidente. A nossa articulação se ampliou com a criação da Coalizão pelos Direitos Territoriais e Ambientais dos Povos Afrodescendentes da América Latina e do Caribe, com a participação da Coordenação Nacional de Quilombos do Brasil (Conaq). Nessa COP-30, Pela primeira vez, nós conseguimos inserir em um documento da COP o termo “afrodescendentes”, no contexto de um debate que estamos fazendo sobre a Amazônia também ser negra e que as comunidades quilombolas têm um papel fundamental na preservação da sociobiodiversidade. Nós defendemos que a melhor forma de combater a crise climática é a preservação de territórios, e não simplesmente soluções como o “crédito de carbono”.
Os conflitos socioambientais têm um impacto direto na saúde mental dessas comunidades, porque os conflitos desembocam em violências que adoecem os quilombolas, especialmente as mulheres.
Nesse sentido, os megaempreendimentos e a instalação de usinas eólicas nos territórios quilombolas e tradicionais são outro tema que estamos dando bastante prioridade. Isso tem adoecido as pessoas com a “síndrome da turbina”, trazendo impactos físicos e mentais. Todo o ecossistema é afetado por essas usinas, que estão sendo criadas principalmente no Nordeste, onde estão muitos territórios tradicionais e quilombolas. O desenvolvimento – ou a busca de “energias limpas” – não pode ocorrer sacrificando os povos tradicionais. É um processo muito violento, que inclusive tem muito de racismo e continuidade da colonização.
Um estudo recente do Instituto Socioambiental (ISA) mostrou que 98% dos territórios quilombolas estão ameaçados. Mas é importante dizer que não são todos. Enquanto existirem territórios quilombolas e aldeias indígenas que não foram engolidas pelas entranhas do capitalismo e do neodesenvolvimentismo, podemos ter esperança para resistir e lutar, como lembra o Nego Bispo. São comunidades que lutam pela posse e o uso coletivo da terra, uma terra que não se compra e não se vende. Eu penso que isso é o que a gente tem mais de revolucionário no Brasil, e é preciso buscar inspirações nessa resistência.
Quais são os desafios para que o SUS ajude a garantir saúde para os quilombolas respeitando as práticas e saberes tradicionais dessa população?
Um dos principais desafios para garantir saúde para a população quilombola é que muitos profissionais não querem ir para esses territórios. Muitas vezes, quando vão, é porque foram “punidos” pelas gestões municipais. O profissional tem algum conflito onde trabalhava anteriormente, aí é enviado para a zona rural e ele chega na unidade de saúde completamente contrariado e despreparado para atuar ali. Muito dificilmente isso vai gerar bons resultados.
Nós defendemos mais ações afirmativas e cotas, para que quilombolas que são médicos e enfermeiros possam atuar nos territórios. O Estado precisa ter uma linha de financiamento para que esses profissionais se formem, fiquem no SUS e consigam continuar nos territórios. Nós precisamos de uma política pública nesse sentido.
O programa Mais Médicos foi o que chegou mais perto. Os médicos cubanos foram os que mais conseguiram adentrar os territórios quilombolas e se aproximar da população, e existem pesquisas que demonstram o impacto e a importância que o programa teve (1, 2, 3). Nós defendemos o Mais Médicos e defendemos que dentro dele haja estratégias para termos mais profissionais quilombolas.
Também defendemos que a formação desses médicos inclua mais conteúdo que garante um mínimo de preparo para que atuem de forma respeitosa junto a essas comunidades, o que significa valorizar os fazeres, saberes e práticas da medicina quilombola, tradicional e ancestral. É preciso encontrar o equilíbrio muito tênue que permita contemplar esses saberes no SUS sem institucionalizá-los, porque sabemos que existe o risco de eles serem desfigurados. O que o sistema precisa fazer é se relacionar com eles – respeitar, valorizar, dialogar.
Isso é um grande desafio não só no sentido de encontrar esse equilíbrio tênue. Vou explicar a partir de um exemplo. O meu território de origem era muito conhecido pelas parteiras, que iam para várias comunidades ao redor “apanhar menino”, fornecendo cuidado para vários territórios quilombolas e não-quilombolas em toda a região. Mas a última parteira viva, a Dona Maria Senhora, morreu recentemente. Os jovens não querem assumir esse lugar, e alguns saberes das medicinas quilombolas podem acabar morrendo. As mulheres agora têm que ir até a zona urbana para poder parir, e acabam sofrendo violência obstétrica nas maternidades. As mulheres indígenas, quilombolas e negras sofrem muita violência obstétrica. Em um certo sentido, isso é uma forma de colonização que persiste dentro do próprio SUS, entende?
A gente pretende mexer nisso, lutar para mudar os parâmetros e enfrentar essas múltiplas violências. Garantir uma forma dessas pessoas terem acesso a seus direitos nos próprios territórios.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras