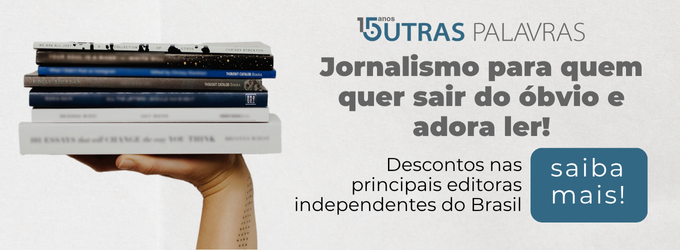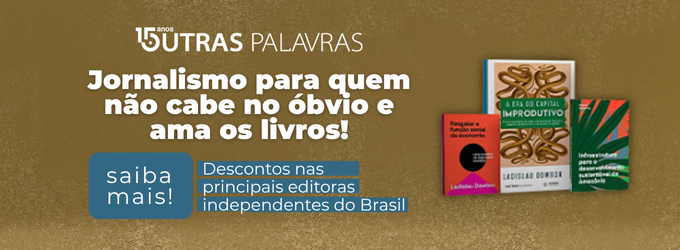Miséria, desespero e suicídio no capitalismo
É somente uma escolha pessoal tirar a própria vida? Quando isso se torna epidêmico, não revelaria um sistema opressor, que impõe o produtivismo e o fetiche da felicidade ao mesmo tempo, gerando um sofrimento coletivo? Haveria aí um recorte de classes?
Publicado 26/09/2025 às 16:04 - Atualizado 23/12/2025 às 16:45

O suicídio se manifesta como um fenômeno social complexo, como expressão do sofrimento ao qual as pessoas estão submetidas, especialmente em relação à exploração de classe. Leva-se em conta que
“[…] o grosso dos homens e mulheres que se suicidam são da classe trabalhadora. Quem se suicida não é um indivíduo abstrato que, na melhor das hipóteses, é homem ou mulher, tem uma certa idade e vive em determinadas condições socioeconômicas. O porquê de ele estar em tais condições é ocultado ou, simplesmente, dado como natural, em vez de explicado”.1
O adoecimento mental é produto das contradições da sociedade capitalista, que se materializa em ansiedade, estresse, depressão, fobia social, desordens alimentares, automutilação, insônia, entre outras coisas. O massivo adoecimento se dá em meio a um cenário no qual se fala muito na necessidade do “sentir-se bem”, mas o fetiche de uma vida feliz, vendido pela classe dominante e baseado num certo entendimento de sucesso profissional e de família estável, além de pressionar as pessoas para que almejem alcançar conquistas muitas vezes irreais, esconde as contradições que levam os trabalhadores a situações de desgaste físico e mental, de sofrimento e adoecimento.
Na sociedade capitalista, os trabalhadores se veem pressionados pela manutenção ou ampliação da produtividade, ao mesmo tempo exigindo-se que sejam o que se convencionou chamar de profissionais “bem-sucedidos” e, ao mesmo tempo, devendo ter uma vida feliz em âmbito privado. Contudo, no sistema capitalista até mesmo essa vida pessoal está nas mãos do capital, que não pode permitir que qualquer coisa atrapalhe a produtividade do trabalho. Exige-se que o trabalhador alcance a “felicidade”, desde que se mantenha o funcionamento da economia e a exploração sobre a força de trabalho.
O tema da saúde mental deve ser entendido como parte da realidade concreta da exploração capitalista. Associar a saúde mental apenas a fatores biológicos de indivíduos isolados implica em excluir o seu caráter histórico e social. Os fatores biológicos, que podem concorrer para o adoecimento, não se explicam sozinhos, devendo estar articulados à compreensão da dinâmica histórica e das contradições da sociedade. O ciclo vital do ser humano varia em diferentes épocas, a partir das condições materiais em que produz sua existência. Pode inclusive ter particularidades no interior das diferentes classes sociais em uma mesma época e sociedade, ou seja, em última instância, a forma de produção e reprodução da vida em sociedade determina a existência de diferentes transtornos físicos e mentais.
Nesse sentido, para pensar a saúde e a doença, é fundamental compreender as formas como se organiza o processo de trabalho e de produção de mercadorias e como isso impacta na vida das pessoas; essa compreensão permite entender como se adoece e se morre nas diferentes classes em determinada sociedade. No capitalismo, a burguesia precisa de trabalhadores aptos a produzirem em suas fábricas, ou seja, na lógica capitalista, o que determina ser saudável ou não é a capacidade do sujeito de trabalhar e manter-se produtivo. Marx destacava que o capital não tem “a mínima consideração pela saúde e duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração”.2
Neste modo de produção, ser ou não saudável está relacionado ao desgaste da força de trabalho. Esse desgaste aponta elementos que extrapolam as análises focadas apenas nas causas imediatas do adoecimento, devendo abarcar também os impactos físicos e psicológicos do processo de trabalho, no médio e no longo prazo, que afetam a vida e até mesmo o cotidiano do trabalhador. Marx comentava que o capital
“[…] usurpa o tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção saudável do corpo. Rouba o tempo requerido para o consumo de ar puro e de luz solar. Avança sobre o horário das refeições e os incorpora, sempre que possível, ao processo de produção, fazendo com que os trabalhadores, como meros meios de produção, sejam abastecidos de alimentos do mesmo modo como a caldeira é abastecida de carvão, e a maquinaria, de graxa ou óleo”.3
Engels, em seu clássico estudo sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra no século XIX, associava o adoecimento às adversidades “a que os operários estão expostos em razão das flutuações do comércio, do desemprego e dos salários miseráveis em tempos de crise”.4 Segundo o estudo de Engels, essa situação trazia graves consequências para a saúde dos trabalhadores:
“Acontece com frequência que, acabando o salário semanal antes do fim da semana, nos últimos dias a família careça de alimentação ou tenha apenas o estritamente necessário para não morrer de fome. É claro que semelhante modo de vida só pode originar toda sorte de doenças; quando as enfermidades chegam, quando o homem — cujo trabalho sustenta a família e cuja atividade física exige mais alimentação e, por conseguinte, é o primeiro a adoecer —, quando esse homem adoece, é então que começa a grande miséria”.5
Nos últimos séculos, o capitalismo passou por mudanças na forma de organização do trabalho, como respostas às suas crises cíclicas, garantindo a manutenção da extração de mais-valia. Essas formas de organização têm impacto também no cotidiano do trabalhador, como a perspectiva de controle inclusive sobre a vida privada, como foi o caso do fordismo. Nas últimas décadas, o que marca mais profundamente o processo de organização do trabalho é o chamado toyotismo. Essa forma de organização da produção tem como uma de suas características o chamado trabalho flexível, exigindo do trabalhador um maior engajamento no processo de produção, também afetando a sua subjetividade.
Diante do desgaste físico e mental, os trabalhadores sofrem com o medo de serem descartados. Suas condições física e psicológica, como a idade ou o desenvolvimento de doenças crônicas, podem se tornar um problema para a permanência no trabalho ou para encontrar um novo emprego, correndo o risco de ficar sem qualquer ocupação. Marx comentava que, para o capital, “as forças de trabalho retiradas do mercado por estarem gastas ou mortas têm de ser constantemente substituídas, no mínimo, por uma quantidade igual de novas forças de trabalho”.6
O adoecimento mental pode se manifestar por meio de diversos sintomas e transtornos, tendo relação com as diferentes formas de organização do processo produtivo. Uma doença comum entre os trabalhadores é a depressão, associada ao desânimo em relação à realidade e à própria vida, fazendo com que a pessoa perca a vontade não apenas de agir, mas até mesmo de ter qualquer interação com o mundo que a cerca. Outro transtorno mental comum é a ansiedade, relacionada ao sentimento de angústia, em que a pessoa se vê impotente diante de uma realidade que a oprime.
Um elemento que se relaciona a todos esses sintomas e transtornos é o estresse. Trata-se de um conjunto de reações do indivíduo diante dos problemas com os quais precisa lidar em seu cotidiano, provocando nervosismo, tristeza, apatia, entre outras coisas. O acúmulo desses sentimentos pode provocar uma diversidade de reações fisiológicas e psíquicas, que levam ao esgotamento.
Fenômenos como a depressão, a ansiedade e o estresse e outras formas de adoecimento estão relacionados entre si, podendo ser não apenas a causa de uma ou outra, como uma possível manifestação de agravamento. Esses não são fenômenos que surgem ao acaso, como um problema individual causado por uma crise momentânea, mas produto do vivenciar a sociedade e do estar no mundo. Diante dessas formas de adoecimento, ainda prevalece uma certa percepção da saúde mental que “individualiza o fracasso, na forma de culpa”, fazendo com que se isole “a dimensão política, das determinações objetivas que atacam nossas formas de vida, redimensionando trabalho, linguagem e desejo, do sofrimento psíquico”.7
O suicídio não escapa a esse tipo de interpretação simplista, prevalecendo a ideia de que se trata de uma escolha subjetiva ou de uma vontade individual. Essa percepção lembra a polêmica de Marx em seu escrito de 1846 sobre o suicídio, quando critica a perspectiva dos socialistas utópicos. Para Marx, o número de suicídios deveria “ser considerado um sintoma da organização deficiente de nossa sociedade”, afinal, segundo sua compreensão, “na época da paralisação e das crises da indústria, em temporadas de encarecimento dos meios de vida e de invernos rigorosos, esse sintoma é sempre mais evidente e assume um caráter epidêmico”.8
O suicídio é um ato que nunca se pode ter total certeza de quais são as suas causas. Especula-se sobre os motivos que teriam levado a pessoa ao suicídio, normalmente procurando em questões imediatas um gatilho que a teria levado a esse extremo. Contudo, dificilmente se consegue chegar a uma plena compreensão das motivações. Na medida em que o senso comum considera o suicida alguém fraco e desprotegido, possivelmente a vítima opta por esconder a profundidade de seu sofrimento, escondendo parte de suas motivações, seja numa carta de despedida ou mesmo numa sessão de psicoterapia.
Sabe-se que o suicida, de alguma forma, perde suas esperanças em estar no mundo. O ato suicida parece ser uma escolha equivocada, afinal, segundo o senso comum, bastaria continuar lutando contra tudo e contra todos e ter a vontade de se erguer. Contudo, isso ignora as condições materiais a que essa pessoa foi submetida ao longo de sua vida. Soma-se a isso uma realidade em que as relações pessoais são afetadas pelos problemas sociais e, portanto, paixões e sonhos de futuro acabam não encontrando a satisfação que se espera de uma vida em comum.
Portanto, se uma pessoa chega ao limite de tentar tirar a própria vida, não significa apenas uma escolha ou ação pessoal, mas a expressão do esgotamento diante de uma realidade opressora, exploradora e cheia de dores e adoecimento. O suicídio muitas vezes é associado à depressão, ainda que não seja a única explicação possível. Diante da depressão, parece que “o sujeito interpreta adversidades como sinal e permissão para a desistência. Os triunfos são sentidos como derrotas e as realizações, como sinais de insuficiência”.9
Para começar a resolver o problema do adoecimento físico e mental, não resta outra coisa que não seja atacar sua causa, ou seja, é preciso construir uma nova sociedade. Contudo, um primeiro obstáculo para que se possa caminhar no sentido dessa solução passa justamente pelo fato de que uma das consequências do adoecimento físico e mental das pessoas é o abandono de quaisquer perspectivas de futuro, optando não por saídas complexas e de longo prazo, mas por soluções mais imediatas, como o consumo de drogas, entre outras coisas. Certamente não se trata de um erro procurar amenizar os sofrimentos provocados pela sociedade capitalista e sua fábrica de misérias. Contudo, ao mesmo tempo, é preciso lutar contra uma das mais cruéis consequências do capitalismo, que é a perda do senso de coletividade e a busca de soluções baseadas no individualismo.
Uma nova sociedade, em que o lucro não esteja no centro de tudo e que o trabalho não seja um pesado fardo carregado pelas pessoas, pode ser um primeiro passo para que se possa viver uma vida mais saudável. Um novo mundo, em que seja possível superar a miséria e o adoecimento, precisa ser construído, mas, para tanto, é fundamental que os trabalhadores transformem a realidade e se coloquem na luta pelo socialismo, superando, assim, as sequelas que a miséria capitalista impõe cotidianamente.
Notas:
1 COSTA, Paulo Henrique Antunes; MENDES, Kíssila Teixeira. Sobre o suicídio (no Brasil contemporâneo): um retorno a Marx. Brasília: Editora UnB, 2024, p. 36-7.
2 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 342.
3 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2013, Livro I, p. 337-8.
4 Engels, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 141.
5 Engels, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 115.
6 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2013, Livro I, p. 246.
7 DUNKER, Christian. A hipótese depressiva. In: Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. São Paulo: Autêntica, 2021, p. 190.
8 MARX, Karl. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 24.
9 DUNKER, Christian. Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano. São Paulo: Ubu, 2017, p. 225.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.