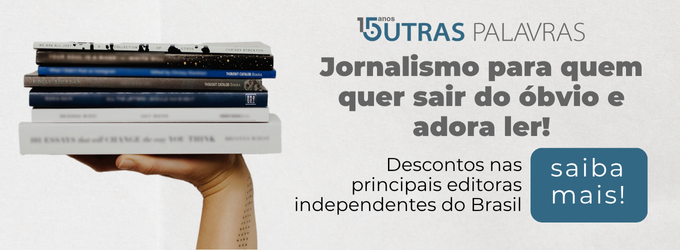Economia da Atenção: O que Marx diria
As audiências midiáticas são passivas ou trabalham? Ela troca o acesso aos conteúdos gratuitos pela “energia” despendida nas telas? Qual o valor produtivo da circulação de publicidade? Nova resposta à polêmica sobre o valor-atenção
Publicado 24/09/2025 às 18:03 - Atualizado 24/09/2025 às 18:42
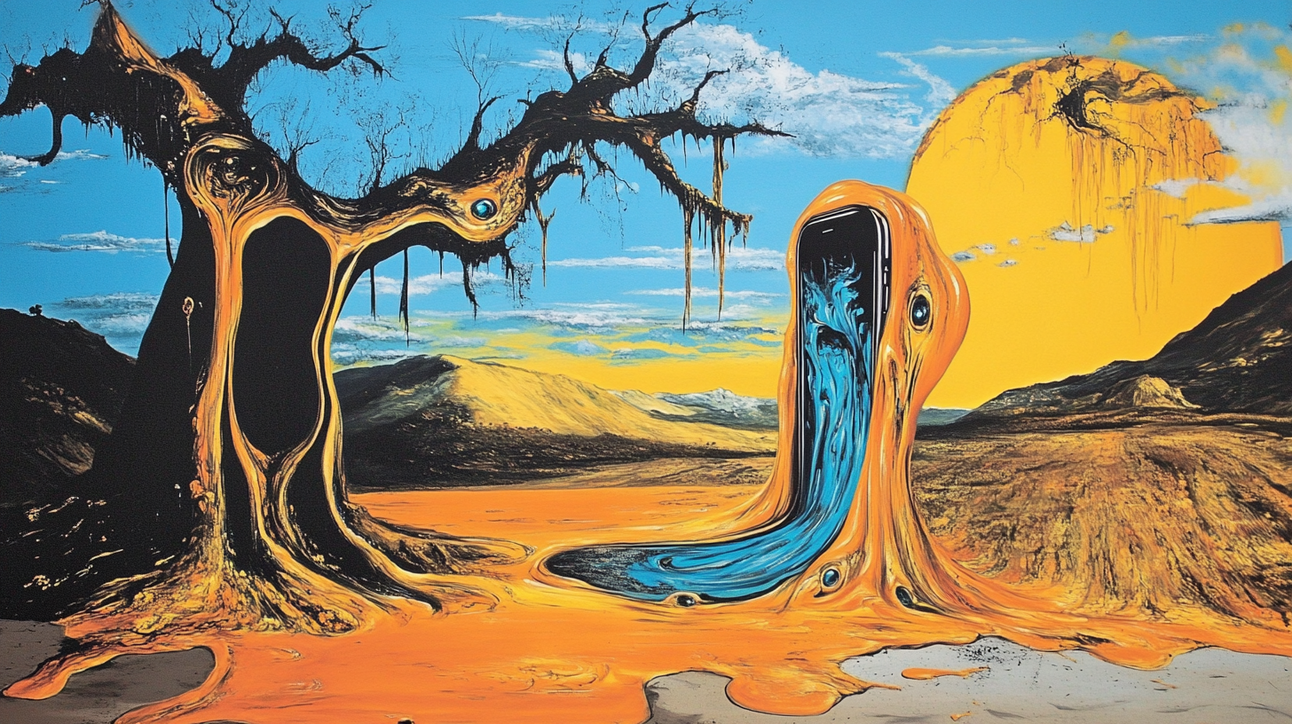
Outras Palavras publica uma nova resposta sobre debate teórico da extração de lucro na era das big techs. Leia também o primeiro texto Em busca de uma teoria do valor-atenção, de Marcos Barbosa de Oliveira; a resposta de Eleutério Prado e Jorge Nóvoa, em Crítica da teoria do valor-atenção; e a tréplica de Marcos Dantas em Economia da Atenção: Exame de um ponto cego.
Breve nota bibliográfica
As recentes críticas de Eleutério Prado e de Marcos Dantas a um texto de Marcos Oliveira sobre economia da atenção, neste portal, repercutem de alguma forma a velha polêmica inaugurada com a publicação do célebre artigo de Dallas Smythe (1977), reconhecido como fundador do campo da economia política da comunicação na América do Norte. Smythe pretendia, nada mais nada menos, que resolver o problema dos estudos de comunicação, vistos como o “buraco negro do marxismo ocidental” (ou o ponto cego na tradução literal). A própria expressão “economia política da comunicação”, que seria adotada urbi et orbi nos anos noventa do século passado, é obra do autor, criador do primeiro grupo de trabalho sob esse título na International Association for Media and Communication Research (IAMCR), principal entidade internacional do campo acadêmico da comunicação.
Em que pese o mérito da formulação e o pioneirismo na identificação do problema, a solução proposta pelo autor era essencialmente inconsistente e suas fragilidades foram apontadas no que ficou conhecido como o blindspot debate. Carlos Figueiredo (2022) apresenta uma valiosa resenha desse debate original e da sua retomada nos anos 2010, à qual retornarei em seguida. Na América Latina, o texto passou em geral desapercebido, salvo no México, onde Patrícia Arriaga (1980) apresentou uma objeção que tive a oportunidade de retomar em minha própria crítica – a primeira, salvo melhor juízo, publicada no Brasil, originalmente na tese de doutorado defendida em 1993 (Bolaño, 2000), que saiu como livro em inglês apenas em 2015. Figueiredo faz a seguinte avaliação geral do debate original:
As ideias de Smythe sofreram poucos desafios por teóricos de língua inglesa. As respostas foram tímidas como as apresentadas por Murdoch (1978) ou Garnham (1979). Lebowitz (1986) ataca o que consideramos o cerne da questão que é a afirmação equivocada de que as audiências trabalham. Todavia consideramos equivocado seu entendimento sobre como os meios de comunicação obtém suas receitas. A resposta de Bolaño (2000) não só é a que melhor responde aos problemas gerados pelo debate do ponto cego, mas também oferece uma teoria que considera a totalidade do problema: o Estado, classes sociais, ideologia, trabalho e a lógica econômica do setor (Figueiredo, 2022, p. 114).
De todo modo, todo o debate permaneceu quase esquecido até a segunda década do século XXI, quando foi retomado a partir do trabalho de Christian Fuchs (2012). Este, não apenas ressuscita o velho Smythe, adaptando-o ao estudo da economia da Internet, mas o reelabora, incorporando o conceito de prossumidor do futurólogo Alvin Tofler (1980) em uma perspectiva supostamente marxista mas que na realidade mostra-se incompatível com Marx, como facilmente verifica quem leu a Introdução à Crítica da Economia Política (Marx, 1857), texto canônico do pensamento marxista, que Dussel (1985) analisou de forma esclarecedora no primeiro capítulo do seu estudo sobre os Grundrisse.
Eu tive a oportunidade de fazer uma crítica a Fuchs, que suscitou um intercâmbio nas revistas Television and New Media (Bolaño e Vieira, 2015; Fuchs, 2015) e TripleC (Bolaño, 2015a; Fuchs, 2015a), mas o que ficou mais conhecido no debate dos anos 2010 foi a crítica autonomista de Arvidsson e Colleoni (2012), que Sorensen (2024), em uma extensa e meritória resenha, embora ao final acabe por adotar ele próprio uma perspectiva alinhada àquela de Fuchs, toma como eixo principal dessa segunda onda do debate. Rigi e Prey (2015) também partem desse eixo para fazer uma análise crítica numa perspectiva marxista, alinhada a outra tendência, que vê as redes e plataformas digitais como setor improdutivo, obedecendo a uma lógica rentista, ligada ao pagamento por acesso a dados, espaço publicitário etc.
Esta última parece ser a tendência mais aceita no debate atual, adotada, no Brasil, por intelectuais como Leda Paulani (2016), ou Oliveira e Filgueiras (2020) e, em nível internacional por autores muito citados como Nick Srnicek (2016) e Ursula Huws (2014). Ambos também criticam Fuchs, embora de modos distintos: Srnicek de forma mais consistente e Huws de maneira mais vacilante. Excluídos esses dois, o trabalho mais influente, em nível nacional e internacional, dessa corrente é o artigo de Rotta e Teixeira (2012), que podemos tomar aqui como paradigmático da hipótese do rentismo.
É interessante notar que sua formulação parte de uma crítica a um trabalho anterior de Eleutério Prado (2006), que apresenta uma perspectiva diferente tanto da minha quanto da deles, definindo a economia digital não pela categoria da renda, mas juro. Da minha parte, devo esclarecer que, embora a teoria que desenvolvi para o estudo da Indústria Cultural (Bolaño, 2000) seja válida em geral, com as devidas adaptações, para o novo sistema global de cultura, este constitui uma totalidade mais complexa, envolvendo múltiplas lógicas sociais, modelos de financiamento e funcionalidades que não recomendam a adoção de explicações gerais apressadas.
Em todo caso, embora reconhecendo pontos fortes nos argumentos da corrente que defende a hipótese do rentismo, há três limitações nesse enfoque que merecem ser destacadas ainda que brevemente: (a) como demonstrou Fabrício Zanghelini (2024) em sua crítica a Huws, o conceito de renda da terra de Marx não se aplica a esses setores; (b) é arbitrário e não condiz com as evidências – como no caso bem conhecido das indústrias culturais – definir todo trabalho intelectual ou informacional como improdutivo por princípio; (c) a ideia, central no argumento de Rotta e Teixeira e amplamente aceita pelos demais autores da corrente, de justificar o argumento do caráter improdutivo do trabalho informacional pelo fato de a informação apresentar custo de reprodução zero, apoiando-se na conhecida observação de Marx de que o que determina o valor é o tempo de reprodução e não de produção, é equivocada.
O sentido do raciocínio de Marx naquele ponto era o refinamento categorial na passagem do plano mais abstrato do livro primeiro d’O Capital ao nível mais concreto, do terceiro volume, envolvendo, entre outras questões, os complexos problemas relativos à dinâmica da relação entre valor e preço. O conceito de reprodução, em Marx, remete à produção continuada (recorrente) da mercadoria e não à mera reprodução de cópias a partir de um protótipo – como seria o caso, por exemplo, na noção, relevante para a economia política da comunicação, de reprodução técnica da obra de arte (Benjamin, 1936). Na verdade, dada a rápida obsolescência que caracteriza também a economia da informação, a reprodução, no sentido de Marx, envolve sempre a produção de nova informação pelo trabalho vivo (informacional), a partir do nada do capital, como diria Dussel.
Textos recentes publicados na Outras Palavras: embrião de um novo debate?
O debate iniciado nas páginas deste portal a partir do texto de Marcos Oliveira (2025) há de referir-se inevitavelmente a esse outro, já antigo, mas ainda em plena vitalidade, que o autor parece desconhecer, pois formula uma proposição absolutamente original, apoiado basicamente na chamada “economia da atenção”, até aqui estranha ao pensamento marxista. Nóvoa e Prado (2025), em texto curto e despretensioso, mas preciso na crítica, apontam o risco embutido na proposta de Oliveira de uma “teoria marxista do valor atenção”, que se move, digo eu, fora do terreno que estamos cultivando ao longo dos últimos 48 anos.
É preciso reconhecer, contudo, que o autor formula sua proposta, também despretensiosa, em termos metafóricos: “a atenção é metaforicamente a moeda com a qual os internautas pagam pelo acesso aos conteúdos que lhes interessam. Obviamente, quanto mais atenção um anúncio recebe, maior é o seu valor” (Oliveira, 2025). Obviamente, a formulação nada tem a ver com a teoria do valor de Marx e o próprio Oliveira reconhece isso quando adota a ideia da economia da atenção como alternativa. Ele avalia a tradição marxista nos seguintes termos:
O conceito marxiano de mercadoria envolve o de mais-valia, por sua vez associado ao de exploração. O capitalismo é condenado por constituir uma forma de exploração, a mais-valia é caracterizada como um roubo. Essa crítica pode ser aplicada às redes sociais, na qualidade de um caso particular da crítica geral cujo cerne é a exploração. Por outro lado, crucial é que existe uma outra estratégia de crítica, fundada num outro princípio de natureza ética (idem).
Esse princípio seria o da igualdade, que o autor define por oposição à crítica radical do capitalismo que caracteriza o pensamento marxista, defendendo assim a sua alternativa: “a crítica em termos de desigualdade, por ter como fundamento um princípio amplamente aceito de justiça social, leva vantagem sobre a crítica baseada na mais-valia, que supõe uma sofisticada teoria econômica” (idem). Se a solução pode fazer algum sentido do ponto de vista de uma ação política reformista, é essencialmente incompatível com o pensamento de Marx.
Oliveira acerta ao destacar o aspecto ético da teoria marxiana,1 mas a alternativa que propõe mutila a unidade do pensamento de Marx e da sua práxis revolucionária, que caracteriza aquela “sofisticada teoria econômica”. Não cabe seguir na crítica ao texto de Oliveira, do qual Nóvoa e Prado (2025) dão conta perfeitamente, como, aliás, Marcos Dantas (2025) também reconhece, ao dizer que “ao desmontar, sem muita dificuldade, os argumentos daquele, apenas reproduzem paradigmático discurso da tradição marxista”, o que mereceria um reparo, mas o interessante é a conclusão de que “ambos incorrem num mesmo equívoco: ignoram, por completo, meio século pelo menos, de investigação e debate sobre a lógica capitalista dos meios de comunicação” (idem).
Isso é verdade, embora no caso de Eleutério Prado seja preciso reconhecer que sua contribuição ao campo vem pelo menos do início do século XXI (Prado, 2005), tendo apresentado insights interessantes e muito inspiradores. Mas o próprio Dantas não leva isso em consideração, limitando-se a apresentar em poucos parágrafos a perspectiva de Dallas-Smythe, mencionando apenas a existência de um debate, ilustrando-o, em nota, por uma lista bibliográfica bastante lacunar.2
Nóvoa e Prado (2025), além da crítica marxista à proposta de Oliveira, sugerem acertadamente o enquadramento da questão nos marcos da crise do capital, algo de que nem Dantas, nem Fuchs teriam como dar conta, dadas as limitações dos seus referenciais teóricos centrados apenas na ampliação (e não na crise) das condições de exploração na dinâmica capitalista, chegando ao ponto de considerar como trabalho produtivo toda a humanidade usuária de redes sociais. Nóvoa e Prado, da sua parte, considerando que desde a publicação d’O Capital, “aquilo que ali se previu, aconteceu, pois já ocorreu a mundialização do capital”, apontam que “a questão então que se coloca para a teoria do valor é saber porque o advento de novas tecnologias e da robótica não está conseguindo fazer crescer a lucratividade social média mundial do capital” (idem).
Essa é de fato uma das duas questões essenciais que movem, ou deveriam mover, o debate no campo marxista. A outra é a do que no marxismo se conhece como o problema do fator subjetivo (Bolaño, 2002, 2025; Starosta, 2023) e que traz hoje para o primeiro plano a problemática da informação, da comunicação e da cultura. Não encontraremos, entretanto, respostas a elas no breve artigo de Nóvoa e Prado.
A contribuição de Marcos Dantas: uma coleção de equívocos
Na sua contribuição, esta sim, bastante pretensiosa, ao debate, Marcos Dantas (2025), ao apresentar a teoria de Dallas-Smythe, afirma que “não é a ‘atenção’, mas a dimensão da audiência aquilo que as emissoras negociam. Além disso, a audiência não é um objeto passivo, mas um sujeito ativo: faz suas escolhas, emociona-se, vibra, chora… Em suma, trabalha” (Dantas, 2025). Voltarei ao ponto em seguida, mas vale desde já esclarecer, primeiro, que o que as emissoras negociam não é simplesmente a dimensão da audiência em termos quantitativos, pois a produção da mercadoria-audiência envolve processos de classificação e segmentação que incluem tanto elementos de ordem qualitativa quanto quantitativa e, segundo, mais importante, não é essa a definição de trabalho da audiência de Smythe.
Para este, esse trabalho consiste, não nas escolhas, atividades e emoções dos espectadores, mas em aprender pautas de consumo, o que efetivamente envolve o problema da “atenção” – questão central no importante debate no interior do mercado publicitário brasileiro nos anos oitenta (Bolaño, 1987). Todo o desenvolvimento, aliás, da indústria da publicidade desde então é marcado pela necessidade de resolver o problema da atenção. Quem acompanhou o debate no mercado publicitário sabe que a solução dada afinal pela economia da internet e das plataformas digitais já estava sendo prevista desde as últimas décadas do século passado. O estudo do mercado brasileiro de televisão (Bolaño, 1988; Brittos, 2001; Bolaño e Brittos, 2005, 2007) conta essa história.
Mas isto evidentemente não serve para referendar a proposta de Oliveira, pois a atenção, em todo caso, não é a mercadoria, mesmo sendo o recurso básico para a produção da mercadoria-audiência, na minha definição (Bolaño, 2000), pelos trabalhadores assalariados dos setores da Indústria Cultural que produzem também os bens simbólicos que funcionam como atrativo para o público. A ideia de Oliveira de que este último troca atenção pelo acesso gratuito ao sistema não está errada, mas gera confusão quando se pretende considerá-la como fundamento de uma relação econômica. Afirmar que o público compra publicidade com atenção, é um despropósito. Trata-se antes, pode-se dizer, de uma espécie de dom-contra-dom, muito assimétrica, em que o acesso gratuito tem como contrapartida a obrigação de dar atenção à publicidade. Esta não é vendida, mas antes impingida ao público.
Por outro lado, a definição de Dantas – segundo a qual trabalho é qualquer atividade, e atividade é qualquer coisa que gaste energia – não deriva de Smythe, mas da termodinâmica e da cibernética, sendo rigorosamente incompatível com a definição de Marx, seja no sentido geral, de eterno metabolismo entre o homem e a natureza, seja no específico, de trabalho abstrato, fonte de valor e de mais-valia para o capital. A base teórica que poderia dar mais consistência à posição do autor é a semiótica, que ele adota, de Umberto Eco,3 notório opositor da EPC no campo da comunicação. Mas Dantas (2025) banaliza o problema:
Seja falando, seja ouvindo, seja escrevendo, seja lendo, seja ouvindo ou executando música, seja apreciando um quadro, seja pintando o quadro, seja representando na telenovela, seja assistindo a telenovela, em qualquer situação de comunicação, estamos sempre empregando (e “gastando”) nervos, músculos e tempo na produção semiótica. Comunicação é um processo de trabalho no qual participam e colaboram todos os agentes envolvidos na atividade comunicativa durante a qual compartilham signos (palavras, imagens, gestos).
Essa definição fisiológica de trabalho, própria do materialismo vulgar, que contrasta em essência com a perspectiva dialética de Marx, embora distinta, pode ser claramente incluída, entre as perspectivas classificadas na primeira parte deste artigo, na corrente fuchsiana.
A leitura que Dantas apresenta sobre a produtividade do setor de transportes e comunicações, por outro lado, é em geral correta. Eu mesmo já revisei com cuidado os escritos de Marx sobre esse tema (Bolaño, 2000) e percebo que a interpretação de Dantas incorre em alguns deslizes relevantes. Primeiro: o argumento de que Marx não poderia ter visto os avanços tecnológicos do século XX nos setores considerados é inócuo. Segundo: dizer que Marx se refere em geral ao setor fabril é irrelevante. Terceiro: os conceitos de consumo produtivo e improdutivo estão mal caracterizados no texto, onde se encontram embolados com uma definição simplista de trabalho produtivo, sem considerar os longos estudos de Marx sobre o tema n’O Capital, no Capítulo VI Inédito ou nas Teorias sobre a Mais-valia.
Quarto: embora seja correto afirmar que o setor de transportes e comunicações – assim como o setor de manutenção de estoques, que ele não cita – é produtivo, seria preciso esclarecer que sua particularidade vem do fato de que se trata de custos de circulação produtivos, ou seja, exceções entre os custos de circulação. No caso dos transportes, por exemplo, o seu produto é de fato o próprio deslocamento, mas o valor produzido fica plasmado na própria mercadoria transportada, ou na mercadoria força de trabalho no caso do transporte de passageiros. Por outro lado, as comunicações, nos trechos do livro segundo d’O Capital citados por Dantas, são basicamente, o telégrafo, ou seja, as telecomunicações, ou ocasionalmente os correios, mas não os setores de produção de bens simbólicos tal como os conhecemos hoje. Marx se refere sim a estes últimos, em outros momentos, sobretudo quando discute o problema do caráter produtivo do trabalho, mas essa já é outra questão.
Eu mesmo tratei de ampliar a definição de produtividade do setor de transportes e comunicações, cuja particularidade é definida por Marx pelo fato de constituírem um processo produtivo que se estende no momento da circulação, ao setor publicitário, considerando que, no capitalismo monopolista, a colocação do produto no mercado exige a publicidade da parte dos capitais produtores de “bens de consumo diferenciado ampliado” (Bolaño, 2000). Nesses termos, defino como produtivo o trabalho em publicidade, mas é preciso considerar também os limites disso, pois uma parcela significativa e crescente do trabalho nessa indústria é improdutiva, mero gasto de circulação, como ocorre no caso do trabalho do comerciário ou dos bancários nas definições de Marx no livro terceiro.
Esse tipo de consideração serve aqui apenas para ilustrar a complexidade do fenômeno em uma situação como a atual em que todo o sistema global de cultura se transforma a partir do desenvolvimento da economia da internet e das plataformas digitais, exigindo da nossa parte um cuidado redobrado na categorização e um programa de investigação de amplo espectro para entender os meandros da mudança em curso, evitando conclusões apressadas. Nesse sentido, o recurso a Marx é fundamental, mas é preciso tomá-lo na sua totalidade.
Marcos Dantas parece não ter compreendido o estatuto do livro segundo d’O Capital,4 ao qual se aferra, de passagem necessária do plano mais abstrato do capital em geral, onde ainda se situa, para aquele mais concreto (mas ainda abstrato, diria Dussel) do livro terceiro, onde se considera o capital como multiplicidade de agentes. Em vez de situar aquelas descobertas no conjunto da obra, de acordo com o método, realiza um esforço eclético, sem as devidas mediações, que prejudica o resultado. Assim, ao final do texto reduz toda a complexidade do problema ao tema do tempo de rotação do capital para afirmar que “o mais-valor não é apenas o resultado de tempo não pago de trabalho no ciclo produtivo, mas, também, o produto de múltiplas rotações no ciclo total da circulação” (Dantas, 2025) – o que precisaria ser bem explicado para não dar a entender que o valor é produzido na circulação –, para em seguida aplicar a fórmula ao célebre trabalho de Adorno e Horkheimer (1947), onde se define o conceito de Indústria Cultural.
Segundo Dantas, os autores teriam entendido que “o capitalismo estava se apropriando da produção artística, reduzindo-a também a processos industriais de produção”, o que não é correto. O que Adorno e Horkheimer apontam é que o trabalhador, explorado no momento da produção, continua dominado pelo capital no mundo da vida, sob o controle da Indústria Cultural, mas não se voltam ao estudo dos processos de produção de bens simbólicos, que é justamente o projeto da economia política da comunicação, em suas diferentes escolas, embora, ao final da sua vida, Adorno tenha explicitado – segundo informam Beaud, Flichy e Sauvage (1984) –, em conferência à Universidade Radiofônica e Televisiva Internacional, em 1962, a necessidade de dar esse passo.
Nota conclusiva
Quando este texto estava sendo finalizado, recebi a segunda parte do artigo de Dantas, publicado em A Terra é Redonda, sobre a chamada economia dos dados. Decidi, para respeitar limites de tempo e espaço, não comentar aqui essa nova contribuição, mas sugiro, a título de eventual comparação, um artigo anterior sobre o tema (Bolaño e Zanghelini, 2024).
Referências
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max (1947). Dialética do Esclarecimento. Petrópolis: Vozes, 2006.
ARRIAGA, Patricia (1980). Publicidad, economía y comunicación masiva (México-Estados Unidos). México DF: Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM)/Nueva Imagen.
ARVIDSSON, A.; COLLEONI, E. (2012). Value in information capitalism and on the internet. The Information Society, v. 28, p. 135-150.
BEAUD, R.; FLICHY, P.; SAUVAGE, M. (1984). La télévision comme industrie culturelle. In: Sociologie de la télévision. Paris: CNET, 1991.
BENJAMIN, Walter (1936). A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Obras Escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1985.
BOLAÑO, César (1987). A questão do público de TV no Brasil: reflexões sobre a pesquisa Lintas. Revista Brasileira de Comunicação, n. 56. São Paulo: INTERCOM.
BOLAÑO, César (1988). Mercado Brasileiro de Televisão. São Paulo: EDUC, 2004.
BOLAÑO, César (2000). Indústria Cultural, Informação e Capitalismo. São Paulo: Hucitec.
BOLAÑO, César (2002). Trabalho intelectual, comunicação e capitalismo. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, n. 11, p. 53-78.
BOLAÑO, César (2015). Culture Industry, Information and Capitalism. London: Palgrave Macmillan.
BOLAÑO, César (2015a). Digitalisation and labour: A rejoinder to Christian Fuchs. tripleC, v. 13, n. 1, p. 79-83.
BOLAÑO, César; VIEIRA, Eloy (2015). The political economy of the internet: Social networking sites and a reply to Fuchs. Television & New Media, v. 16, n. 1, p. 52-61.
BOLAÑO, César (coord.) (2023). Economía política de la comunicación y de la cultura en América Latina (1970 y 1980). Buenos Aires: CLACSO.
BOLAÑO, C.; BASTOS, M. D. (2020). Um pensamento materialista em comunicação. In: BIANCO, N. R. del; LOPES, R. S. O campo da comunicação: epistemologia e contribuições científicas São Paulo: Socicom Livros. p. 165-187. Disponível em: https://socicom.org.br/wp-content/uploads/2020/12/livro__ocampo_da_comunicac%CC%A7ao.pdf. Acesso em: 11 out. 2022.BOLAÑO, César; ZANGHELINI, Fabricio (2024). Economia de dados ou soberania nacional? Outras Palavras, 31/07/2024.
BRITTOS, Valério (2001). Capitalismo contemporâneo, mercado brasileiro de televisão por assinatura e expansão transnacional. Tese (Doutorado em Comunicação). Salvador: FACOM/UFBA.
BRITTOS, Valério; BOLAÑO, César (2005). Rede Globo: 40 anos de poder e hegemonia. São Paulo: Paulus.
BRITTOS, Valério; BOLAÑO, César (2007). A televisão brasileira na era digital. São Paulo: Paulus.
DANTAS, Marcos (2025). Economia da atenção: exame de um ponto cego. Outras Palavras, 15/09/2025.
DUSSEL, Enrique (1985). La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse. México: Siglo XXI.
FIGUEIREDO, Carlos (2022). Redes sociais, plataformas e apropriação do tempo livre: crítica à teoria do trabalho digital não pago e suas consequências absurdas. In: MARQUES, Rodrigo; BASTOS, Manoel (orgs.). Economia política da informação, da comunicação e da cultura: confrontando as barbáries do capital no século XXI. Aracaju: ULEPICC-Brasil. Disponível em: https://ulepicc.org.br.
FUCHS, Christian (2012). Dallas Smythe today – The audience commodity, the digital labour debate, Marxist political economy and critical theory. tripleC, v. 10, n. 2, p. 692-740.
FUCHS, Christian (2015). Against divisiveness: Digital workers of the world unite! A rejoinder to César Bolaño and Eloy Vieira. Television & New Media, v. 16, n. 1, p. 62-71.
FUCHS, Christian (2015a). Digital labour: A comment on César Bolaño’s tripleC reflection. tripleC, v. 13, n. 1, p. 84-92.
GARNHAM, Nicholas (1979). Contribution to a political economy of mass-communication. Media, Culture & Society, v. 1, n. 2, p. 123-146.
HUWS, Ursula (2014). Vida, trabalho e valor no século XXI: desfazendo o nó. Caderno CRH, v. 27, n. 70, p. 13-30.
LEBOWITZ, Michael (1986). Too many blindspots on the media. Studies in Political Economy, v. 21, n. 1, p. 165-173.
MARX, Karl (1857). Para a crítica da economia política. In: Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
MURDOCK, Graham (1978). Blindspots about western Marxism: A reply to Dallas Smythe. Canadian Journal of Political and Social Theory, v. 2, n. 2, p. 109-115.
NOVOA, Jorge; PRADO, Eleuterio (2025). Crítica da teoria do valor-atenção. Outras Palavras, 10/09/2025.
OLIVEIRA, Elizabeth; FILGUEIRAS, Luiz (2020). A economia política do conhecimento. Economia e Sociedade, v. 29, n. 2, p. 359-383.
OLIVEIRA, Marcos (2025). Em busca de uma teoria do valor-atenção. Outras Palavras, 15/07/2025.
PAULANI, Leda (2016). Acumulação e rentismo: resgatando a teoria da renda de Marx para pensar o capitalismo contemporâneo. Revista de Economia Política, v. 36, n. 3, p. 514-535.
PRADO, Eleutério (2005). Desmedida do valor: crítica da pós-grande indústria. São Paulo: Xamã.
PRADO, Eleutério (2006). Uma nova fase do capitalismo ou um novo modo de produção capitalista? Revista Outubro, n. 13.
RIGI, Jacob; PREY, Robert (2015). Value, rent and the political economy of social media. The Information Society, v. 31, n. 5, p. 392-406.
ROTTA, Tomas; TEIXEIRA, Rodrigo (2012). Valueless knowledge-commodities and financialization: Productive and financial dimensions of capital autonomization. Review of Radical Political Economy, v. 44, n. 4, p. 448-467.
SMYTHE, Dallas W. (1977). Communications: Blindspot of Western Marxism. Canadian Journal of Political and Social Theory, v. 3, n. 1, p. 1-27.
SORENSEN, Soren Bogh (2024). Value and productive labour in the era of digital technologies: Revisiting the digital labour debate. tripleC, v. 22, n. 2, p. 498-517.
SRNICEK, Nick (2016). Capitalismo de plataformas. Buenos Aires: Caja Negra, 2018.
STAROSTA, Guido (2013). The system of machinery and determinations of revolutionary subjectivity in the Grundrisse and Capital. In: BELLOFIORE, Riccardo; STAROSTA, Guido; THOMAS, Peter D. (eds.). Marx’s Laboratory. Critical Interpretations of the Grundrisse. Leiden: Brill, p. 233-264.
TOFFLER, Alvin (1980). The Third Wave. New York: Bantam.
ZANGHELINI, Fabrício (2024). Vida, trabajo y valor en el siglo XXI: una crítica marxista a la perspectiva de Ursula Huws. Crítica y Resistencias, n. 19, p. 209-224.
1 A perspectiva ética de Marx, como bem ensina Enrique Dussel, diferenciando-a daquela moralista, própria do conservadorismo burguês, encontra-se na definição do produto como objetivação da vida, “essencial para compreender duas questões: o sentido ético do roubo do produto (rouba-se vida humana) e a acumulação do valor do produto no capital como acumulação de vida humana (o fetiche que vive da morte do trabalhador): a objetivação da subjetividade no processo de trabalho não se consuma como subjetivação igual da objetividade do salário. Eis a injustiça ética do capitalismo: sua perversidade desde o trabalhador – e na sua essência” (Dussel, 1985, p. 149).
2 No final das contas, acaba tratando o canadense como uma espécie de pai fundador da economia política da comunicação em nível mundial, algo que, como todo o campo reconhece, nunca existiu. Isso fica particularmente claro no caso latino-americano, como se notará na leitura da antologia da gênese da EPC no subcontinente, cuja produção pelo grupo de trabalho Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, da CLACSO, tive o prazer de coordenar (Bolaño et al 2023). Vide também Bolaño e Bastos (2020).
3 “produzir signos implica um trabalho, quer estes signos sejam palavras ou mercadorias” (apud Dantas, 2025). A ideia poderia ser aceita sempre que formulada, como faz Rossi-Landi (1968), em termos de homologia. Mas isso não resolve o problema da economia política, para o qual Dantas espera haver contribuído.
4 “A utilização dos esquemas de reprodução só é possível uma vez estabelecida a conexão teórica entre a nova natureza dos valores de uso (criados pelo capital) e a tendência à expansão ilimitada do valor de troca neles implícito. Os esquemas de reprodução são introduzidos logo depois de ter sido tratada a acumulação capitalista, onde todos os supostos de variação na composição orgânica e na taxa de mais-valia desempenham o papel central na explicação do movimento do capital. Ao mesmo tempo, os esquemas de reprodução preparam a discussão da concorrência e da crise, desenvolvida no terceiro volume. Assim, quando Marx discute no segundo volume de O Capital as possibilidades de reprodução ampliada, não pretende propor um esquema de equilíbrio intersetorial no sentido vulgarmente assumido pelos epígonos, senão que busca demonstrar a possibilidade e tão somente a possibilidade de funcionamento de uma economia que por sua natureza é movida pela contradição entre a tendência à potencialização ilimitada das forças produtivas e a base estreita (a apropriação do tempo de trabalho) em que repousa. E esta demonstração é apenas um passo lógico indispensável para tornar mais patente o caráter antagônico, e portanto histórico, deste regime de produção” (Belluzzo, 1980, p. 97-98).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras