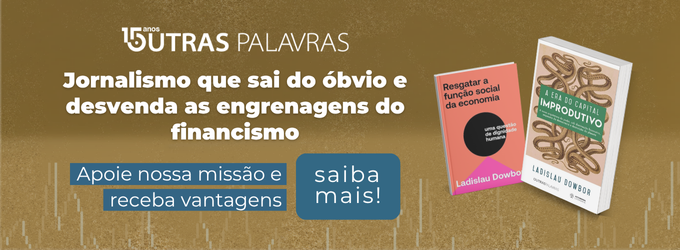As raízes da fitoterapia no SUS
Em 2006, os medicamentos naturais foram institucionalizados no sistema de saúde brasileiro. Lançamento da Hucitec mostra como conceito de “tradição” foi importante na sua instituição – ainda que carregue contradições. Leia um trecho e concorra a um exemplar
Publicado 19/09/2025 às 18:36 - Atualizado 19/09/2025 às 18:40

Quem apoia o jornalismo de Outras Palavras garante 30% de desconto em obras selecionadas da Hucitec Editora. Faça parte da rede Outros Quinhentos em nosso Apoia.se e acesse as recompensas!
Chá de camomila para acalmar a ansiedade; boldo para curar ressaca ou ajudar na digestão; arnica para contusões e dores no corpo; menta e óleo de eucalipto para abrir as vias aéreas ou como analgésico; quem nunca usou ou ouviu falar da eficácia de algum desses remédios naturais?
Chamados de saberes tradicionais e populares, esses e outros componentes são utilizados na produção de fitoterápicos desde nossos ancestrais. Com a institucionalização da medicina e a perseguição aos “curandeiros populares”, que vai ter seu auge durante o Iluminismo, entre os séculos XVII e XIX, muitos desses saberes, quando não proibidos e relegados ao esquecimento, foram considerados ineficientes ou inferiores à medicina profissionalizada.
Séculos depois, com a mobilização de movimentos sociais, como os de povos originários, agricultores, ribeirinhos e uma miríades de defensores da fitoterapia, houve um avanço no acolhimento da sociobiodiversidade nas políticas de saúde pública, integrando práticas médicas já institucionalizadas com esses saberes ancestrais.
No Brasil, a modalidade passou a ser aplicada nos serviços de saúde pública na década de 1980, com a constituição de 1988, que deu origem ao Sistema Único de Saúde (SUS) e tornou o acesso à saúde no Brasil um direito universal e um dever do Estado, no marco das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Em 2006, passou a ter uma política institucional: a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF).
Entretanto, há de se considerar que o “transplante” de atividades que surgiram em condições outras às das instituições que, em um primeiro momento, às excluíram sistematicamente, traz consigo uma série de lacunas, limitações e imbróglios a serem enfrentados.
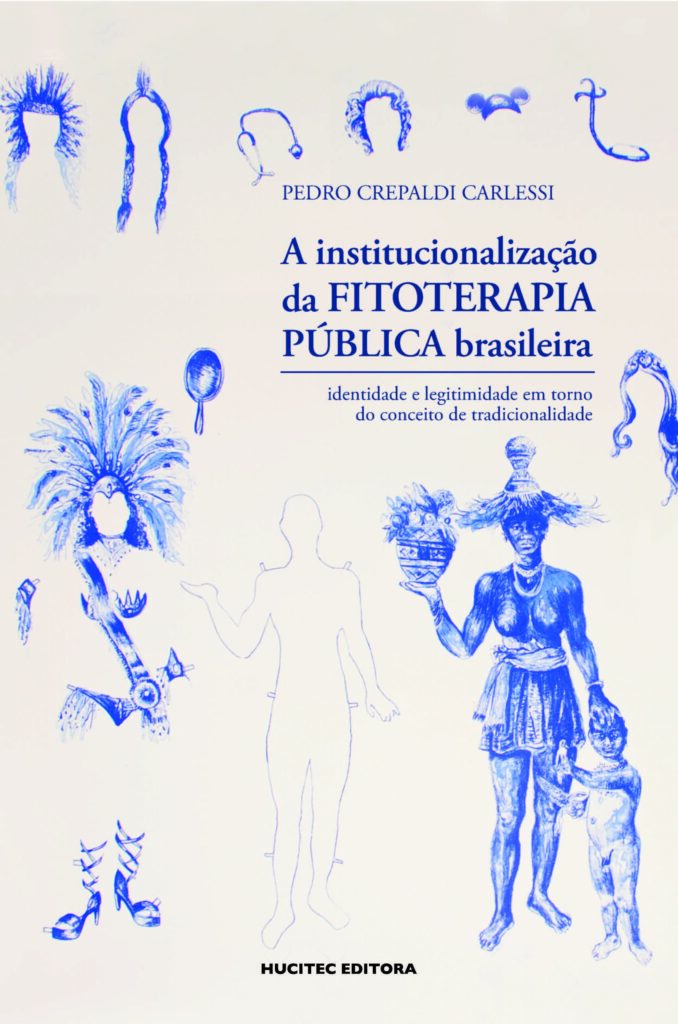
O jovem sanitarista Pedro Crepaldi Carlessi, dedicou-se a investigar essas questões no trabalho A institucionalização da fitoterapia pública brasileira: identidade e legitimidade em torno do conceito de tradicionalidade, sua tese de doutorado. A pesquisa foi indicada pela Universidade de São Paulo para o Prêmio de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na categoria Saúde Pública. Além disso, acaba de ser lançada pela Hucitec.
Outras Palavras e Hucitec Editora sortearão um exemplar de A institucionalização da fitoterapia pública brasileira: identidade e legitimidade em torno do conceito de tradicionalidade, de Pedro Crepaldi Carlessi, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 29/9, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
A obra oferece um estudo aprofundado sobre como o conceito de “tradição” foi fundamental para a formação de políticas de saúde em escala global, influenciando sistemas nacionais na Ásia e na África a partir da atuação da Organização Mundial da Saúde (OMS) na década de 1970.
O autor conduz o leitor pela transformação desse conceito, mostrando como ele deixou de ser visto como algo puramente local para se tornar um elemento operacional em contextos de saúde transculturais, com a globalização atuando como uma linguagem comum.
No contexto brasileiro, o livro mergulha nos anos decisivos da reforma sanitária das décadas de 1980 e 1990. A narrativa é construída com base em memórias e relatos de personagens que vivenciaram esse processo, oferecendo uma perspectiva singular sobre o tema.
Leia, logo abaixo, um trecho da obra. Boa leitura!
3.5. O curioso caso do laboratório Fulni-ô
Nas seções anteriores, grifei o modo como os elementos constitutivos da sociobiodiversidade nacional foram evocados na reconstrução do setor farmacêutico após a CPI dos Medicamentos e, por consequência, como se substancializaram em atributos de identidade e legitimidade da fitoterapia pública brasileira. Por complemento, entendo que pode ser produtivo pensar nessa questão ao contrário, ou seja, considerando como a reconstrução do campo farmacêutico no SUS foi também de reinvenção de identidades e legitimidades produzidas pelo conceito de tradicionalidade.
Tomando como ponto de partida a instituição do termo medicamento tradicional fitoterápico, procuro pensar: o que acontece quando a reivindicação de pertencimento cultural recai não sobre os sujeitos, mas sobre os objetos terapêuticos? E, por consequência, como essa reivindicação reconvenciona vínculos, identidades e formas de reconhecimento?
Faço esse questionamento atento ao movimento que se inscreveu no percurso de institucionalização da fitoterapia no SUS. Conforme a ideia de “tradição” passou a ser mobilizada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde como elemento participativo na construção da identidade de plantas medicinais e fitoterápicos em vias de institucionalização, muitos grupos reconheceram no conceito de “tradição” a valorização de elementos constitutivos de suas próprias biografias e histórias. Assim, é de se esperar a produção de formas originais de reinvenção de suas sociabilidades a partir de uma certa tradicionalidade que, inclusive, em muitos momentos, foi produtora de acessos a espaços forjados para a não-participação
desses grupos. Assim, antes de qualquer acusação descabida de perda de identidade, autenticidade ou de um simples mimetismo, tematizo aqui uma específica forma de resistência e que está implicada (novamente com Roy Wagner) com formas muito originais de existência.
No decurso do sanitarismo brasileiro, o conceito de tradicionalidade foi e segue sendo um disparador de criatividades e imaginações; para parte dos trabalhadores e movimentos sociais, de pertencimento e reconstrução; para os agentes de Estado, de regulação; para os industriais, de expansão. No cotidiano dos serviços de saúde em que a fitoterapia se faz presente, esse termo foi o que abriu espaço para que um longo período de apagamentos pudesse ser revisitado. Afinal, bem se sabe, no Brasil o processo secular de perseguição étnica das populações autorreferidas tradicionais foi eficaz em fazer com que diversas identidades virassem cinzas mesmo sem a fogueira da inquisição. Parte desse etnocídio foi interrompido com a Constituição de 1988, ao menos judicialmente. Mas, precisamente no campo dos cuidados, e falando especificamente sobre o reconhecimento de modos particulares de tratar e curar pela via das plantas, foi a mobilização do conceito de “tradição” no cotidiano dos trabalhos realizados no âmbito do SUS que fez com que muita gente se reconectasse com suas próprias histórias.
Tive contato com esta situação em diversos momentos da pesquisa que dá corpo e forma a este livro, tanto ao visitar hortas e canteiros em unidades básicas de saúde, como em quintais domésticos e jardins terapêuticos montados por agentes comunitários em regiões afastadas do poder público. Muitas das interlocutoras e dos interlocutores com quem tive contato me relataram como o encontro com a fitoterapia provocou um movimento de reencontro com saberes, fazeres, paisagens e plantas vindas de suas mães, avós, bisavós. Falo de sujeitos que se tornaram técnicos de saúde, de agricultura, farmacêuticas, enfermeiras e médicas sendo filhas e filhos de parteiras, benzedeiras, rezadeiras, entre tantos outros mestres e mestras que operam não pela esterilidade dos equipamentos de laboratório e da pretensão de pureza dos princípios ativos, mas por tecnologias mais complexas de comunicação, interatividade e cura. Na fortuna desses encontros, muito trocamos sobre a carga do especialismo profissional sobre outras formas de ser, viver, tratar e cuidar. Contudo, do que pude perceber, a questão nunca foi de ceticismo com as ciências da saúde. Nem teve espaço qualquer tecnofobia ou algo como voltar a “ser tradicional”. A questão sempre foi deixar de negar ou mesmo de sofrer com essa herança. Entre os muitos relatos que me foram reportados em campo, vou me ater a apenas um, que considero emblemático: o do laboratório Fulni-ô.
Meu contato com essa história se deu em 2020. Eu estava em Pernambuco, em visita a uma Farmácia Viva, e procurei chegar à região do seminário para conhecer o trabalho feito com plantas medicinais em unidades de saúde daquela região. Em campo, eu já tinha ouvido sobre o pioneirismo daquele estado com a fitoterapia pública e também sobre a tentativa dos Fulni-ô de Águas Belas de produzirem seus próprios fitoterápicos.
Digo fitoterápicos, mas não porque esse termo faça parte do sistema classificatório Fulni-ô. Justamente ao contrário, ele indica a tentativa, vinda desse grupo, de montar um laboratório para o preparo de suas próprias terapêuticas, empenho que foi comum em muitos outros territórios do Brasil e que motivou (e ainda motiva) diversos outros coletivos, comunidades e municípios no intento de oficialização da fitoterapia no SUS.
Apenas como uma contextualização inicial e panorâmica, vale notar que esse caso se passa na terra indígena Fulni-ô, que está intrincada com a história do município de Águas Belas e com a urbanização do Vale do Ipanema, fronteiriço entre o agreste e o sertão pernambucano. A cidade está ao centro e totalmente rodeada pela terra indígena demarcada, que se organiza em três núcleos distintos: um urbano, permeado e constitutivo do município; um rural, a aldeia Xixiaklá; e um terceiro, já mais afastado, ao sul da cidade, ocupado entre os meses de setembro e outubro para realização do ritual do Ouricuri. Enquanto este último se mantém restrito aos Fulni-ô e a quem possa ser convidado, o primeiro se caracteriza pela permeabilidade com as dinâmicas do centro urbano, com as instituições públicas e com os devires do “progresso”, que nunca tardam em chegar.
Na década de 1980 a terra indígena foi interposta por um amplo projeto da Funai para povoar a região com saneamento, assistência médica e educacional. Na década seguinte, com o advento da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), os equipamentos de saúde da região se integraram às ações de saúde indígena e outros dispositivos do SUS, tornando as sociabilidades Fulni-ô parte da vida cotidiana do município, e vice versa. No início dos anos 2000, conforme me foi relatado pelos interlocutores que conheci em campo, os serviços de assistência à saúde indígena se concentraram na área urbana de Águas Belas e contavam com uma unidade básica de saúde, uma farmácia para dispensação de medicamentos essenciais e um hospital municipal para consultas médicas, cirurgias simples e partos de menor complexidade. Vale grifar que, além de usar os equipamentos de saúde do município, parte importante das práticas de cura dos Fulni-ô se elaboram através de tecnologias próprias, entre as quais parece ser central o Ouricuri, as rezas, os partos, os benzimentos, aconselhamentos com os mais velhos e o uso de plantas coletadas na região onde se realiza o ritual anual. O que procuro evidenciar é a porosidade e as inúmeras articulações nas quais os modos de vida Fulni-ô estão implicados.
De modo atento às permeabilidades das instituições públicas com outros modos de fazer-saúde, na virada do milênio, a Funasa passou a investir em um projeto de atualização do seu sistema de vigilância sanitária, com interesse em desenvolver estratégias de articulação da medicina oficial com as gramáticas de cuidado dos povos autorreferidos tradicionais.
Sob o nome de Projeto Vigisus: Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, se construiu um plano de ação dividido em diferentes fases. Parte da proposta era fomentar e acompanhar programas e intervenções que pudessem trazer adaptações e especificidades para os serviços de atenção básica e saúde indígena. As ações a que me refiro foram conduzidas pela Área de Medicina Tradicional Indígena (AMTI), que contou com uma equipe ampla de antropólogos na elaboração de laudos e pareceres técnicos sobre essas intervenções, além de profissionais da saúde que também integravam as frentes de trabalho.
O financiamento do Vigisus nasceu de um empréstimo feito pelo governo federal junto ao Banco Mundial, que à época já dispunha do cargo knowledge manager para lidar com o tema dos conhecimentos associados à biodiversidade. O empréstimo, bem se vê, não foi somente financeiro, mas também conceitual, em que o natural e tradicional indígena se fundia com o natural e tradicional institucional mobilizado desde as agências e órgãos internacionais.
Em Águas Belas o projeto Vigisus apoiou técnica e financeiramente a demanda vinda da Associação Mista Cacique Procópio Sarapó, a mais antiga instância de representação indígena na região, que reivindicava a instalação de uma oficina de manipulação Fulni-ô.
O termo elegido, oficina de manipulação, embora se referisse a um laboratório equipado para produção fitoterápica, era uma forma de evitar o monopólio dos termos e dos especialismos que incidem sobre as atividades de preparação terapêutica quando tomadas como mercado e profissão. Este balizamento conceitual se deu de modo semelhante no Estado do Ceará durante o percurso de regulamentação das Farmácias Vivas, que anos antes escolheu nomear as unidades produtivas como oficinas farmacêuticas, termo que também não encontrava parâmetro para regulamentação. Em ambos os casos, a questão se fez longe de um mero subterfúgio conceitual. Tanto no Ceará como em Pernambuco, os serviços de fitoterapia se desenvolveram por dentro das estruturas do Estado. Assim, enquanto se apresentavam perante os órgãos de vigilância sanitária indicando a diversidade de modos de nomear e conduzir as organizações tecnológicas que emergiam no SUS, somavam esforços na construção de um repertório imaginativo sobre como reconhecer suas especificidades sem reduzi-las a modelos já prontos. Conforme apresentei anteriormente, essa era uma questão que ocupava o Ministério da Saúde, a Anvisa e os coletivos reunidos em Brasília para pensar em uma proposta de política nacional para plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos.
No projeto arquitetônico apresentado à Funasa, a oficina de manipulação Fulni-ô era composta de um canteiro para cultivo de plantas comunitárias e, complementarmente, uma unidade para beneficiamento dessas plantas em unidades padronizadas. Parte do argumento que endossava a criação da oficina de manipulação era a possibilidade de desidratar plantas, ou mesmo transformá-las em diferentes preparados fitoterápicos, evitando a sazonalidade ou mesmo as intempéries do cultivo no contexto da seca. O mesmo argumento endossou as Farmácias Vivas no Ceará, condição que não deixa de evidenciar como a lógica da oferta ininterrupta, própria dos medicamentos sintético-alopáticos, passava a ser mobilizada como denominador comum também a outros regimes terapêuticos.
No entanto, se grifo uma certa lógica do concreto transposta para a lógica do sensível, o contrário também é verdadeiro. Em um laudo antropológico em que apresentam as observações realizadas junto à oficina de manipulação Fulni-ô, Liliane Cunha de Souza comenta que
os equipamentos farmacêuticos, tais como a vidraria, as panelas de inox, a estufa de secagem e o moedor elétrico são manipulados a partir da lógica da medicina tradicional Fulni-ô. Os remédios são elaborados a partir das plantas, que são concebidas pelos Fulni-ô como entidades sagradas, que ao serem rezadas em yatê, seu poder de cura é potencializado. (Souza, 2006, p. 36)
A antropóloga ainda faz referência às práticas de manipulação realizadas nessa oficina, em que os Fulni-ô “criam soluções para seus problemas lançando mão de conhecimentos e materiais da biomedicina, a partir de sua visão de mundo, com o intuito de fortalecerem seus sistemas médicos tradicionais” (Souza, 2006, p. 36).
Em uma outra publicação, que se insere em um interessantíssimo debate entre os agentes de Monitoramento do Projeto Vigisus II sobre o caso dessa oficina de manipulação, a antropóloga ainda indica como a implantação do laboratório passava a ser tida como forma de geração de trabalho e renda comunitária:
a ideia inicial dos Fulni-ô era a implementação de um horto. Entretanto, para a Associação Indígena Cacique Procópio Sarapó construir um “laboratório” significa ter meios para empregar pessoas. Essa é a dimensão econômica do empreendimento. Eles querem esse “laboratório”! Eles estão ansiosos por esse “laboratório”! A comunidade vem demonstrando interesse nos remédios e nas mudas de plantas produzidas pelo “laboratório”. Realmente o projeto precisa ser repensado, redimensionado para ser bem conduzido. No discurso da liderança Fulni-ô […] aparece o entendimento de que o “laboratório” contribuirá para a medicina tradicional, na medida em que haveriam práticas de medicina tradicional usadas neste contexto. Nesse ponto de vista, os remédios produzidos no “laboratório” fazem parte da sua cultura, orientados pela forma como eles concebem as plantas, os remédios e os tratamentos terapêuticos”. (FUNASA, 2007, p. 69)
Com base neste argumento é pertinente notar que, mesmo quando regada aos exotismos do ocidente moderno, a “tradição” não demora a se tornar um poderoso reorganizador das dinâmicas internas dos coletivos autorreferidos como tradicionais. Afinal, conforme a medicina e o medicamento moderno olham para os regimes de cuidado “dos outros” como forma de reinventar a si mesmos, inversamente, esses coletivos também tomam as metáforas da modernidade pelo ponto de vista de seus modos de existência.
Desse modo, o que parece estar em jogo nesse caso não é se a identidade Fulni-ô se tornaria mais ou menos indígena ao ter suas práticas mediadas por uma oficina capaz de beneficiar plantas em forma de fitoterápicos. A este respeito, aliás, a própria história Fulni-ô no percurso de urbanização de Águas Belas dá cabo de ilustrar como resistir à intrusão do mundo branco passa fundamentalmente por permitir seus modos de existência falar de outras formas, como são aqui os equipamentos e as técnicas de laboratório. Complementarmente, parece ser claro que produzir objetos tecnocientíficos através de conhecimentos tradicionais não é exatamente a mesma coisa que produzir uma tradicionalidade aos modos do conhecimento tecnocientífico. Trata-se aqui do direito à invenção.
Para tratar dessa questão vale recuperar uma anedota. Na abertura do livro Esperando Foucault, ainda, Marshall Sahlins retrata uma passagem da história da Europa ocidental ocorrida entre os séculos XV e XVI, época em que artistas e intelectuais, um tanto nostálgicos dos valores de uma vida burguesa em transformação, passaram a reinventar suas próprias tradições, imaginadas a seu modo, é claro. Sahlins fala como as referências mobilizadas nesse empenho se anunciavam como elementos de uma cultura autêntica, muito embora neste empenho tenham redecorado suas igrejas seguindo os “preceitos da arquitetura romana estabelecidos por Vitrúvio – sem se darem conta de que esses preceitos eram gregos” (Sahlins, 2004). É certo que a ironia de Sahlins recai sobre o Renascimento europeu e seu peculiar modo de invenção do mundo moderno. Retomo a passagem pela pertinência do desfecho: quando são os sujeitos de poder que inventam suas tradições, trata-se de um renascimento cultural genuíno, fruto mesmo do “progresso”. Quando são os outros, não demora até que o debate caia para a perda de autenticidade.
Da instituição da Anvisa a partir do marco regulatório da Lei no 9.782/99 até a invenção, convenção e publicação do termo medicamento fitoterápico tradicional a partir da RDC no 17/2000 se passaram exatos 394 dias. Já a oficina de manipulação em Águas Belas ainda hoje não foi concluída. Enquanto as instituições de saúde muito rapidamente reinventam a ideia de tradicionalidade, parece que o mesmo direito não é concedido para que os povos tradicionais reinventem as instituições de saúde. Em sua história mais recente, para que a vigilância estadual de saúde de Pernambuco liberasse o funcionamento da oficina de manipulação, foi solicitada uma readequação do projeto Fulni-ô frente às normas de “boas práticas” sanitárias. O processo de adequação da obra chegou a ser iniciado em novembro de 2006, mas o laboratório segue até hoje paralisado.
3.6. Redefinições em torno do “tradicional”
Outras Palavras e Hucitec Editora sortearão um exemplar de A institucionalização da fitoterapia pública brasileira: identidade e legitimidade em torno do conceito de tradicionalidade, de Pedro Crepaldi Carlessi, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 29/9, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
Para além da oficina de manipulação Fulni-ô em Pernambuco, na virada do milênio diversas outras iniciativas passaram a se apresentar no debate sobre a institucionalização da fitoterapia no SUS. Também de atenção da Funasa, no leste de Roraima as tinturas, pomadas e xaropes produzidos pela Escola Indígena de Surumu em parceria com agentes de saúde, instituições religiosas e não governamentais, embora não reconhecidos pela Anvisa, faziam gaguejar o termo instituído pela RDC no 17/2000, medicamento fitoterápico tradicional.
De Goiás e Tocantins, desde a Eco-92 a Rede Cerrado e a Articulação Pacari já mobilizavam indígenas, quilombolas, fundos e fechos de pasto, pescadores, vazanteiros, geraizeiros, veredeiros e outros povos dos campos e das florestas para discutir formas autorrepresentativas da sociobiodiversidade. Em São Paulo, a Cooplantas, uma associação de agricultoras formada no interior do Estado a partir do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para produzir plantas medicinais e, no oeste do Paraná, a Yanten, uma associação de mulheres campesinas reunidas em torno do movimento pastoral para produção de fitoterápicos, passavam a educar a atenção da agenda governamental para um contexto de tecnologias emergentes. Junto de outras muitas iniciativas que ganhavam força e expressividade no território nacional, a fitoterapia se difundia por propostas terapêuticas e organizações tecnológicas ainda sem a regulação ou o reconhecimento pretendido pelo Estado.
No Brasil, o que existia até então eram portarias de saúde soltas [falava em oposição à construção de políticas nacionais intersetoriais]. Com a ascensão do governo Lula a diretriz passou a ser normatizar os serviços existentes, em diálogo com os movimentos sociais. (Carmem de Simoni, Entrevista, 2021)
No âmbito federal, a diversidade com que a fitoterapia era praticada no cotidiano dos serviços públicos de saúde tornava-se foco da atenção em um duplo exercício de legitimação: reconhecer cuidados, serviços e sujeitos através de uma política nacional e, consecutivamente, regulamentar a oferta dentro do regime sanitário vigente. No empenho de reconhecer “medicamentos fitoterápicos”, mas também (e principalmente), “plantas medicinais” como terapêuticas passíveis de emprego no SUS, foi decisiva a participação da recém criada Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, sobretudo em seus primeiros anos de atividade.
A institucionalização da SCTIE ocorreu em meio à transição do governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso para o de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. No entanto, o escopo de atuação desta Secretaria já havia sido proposto quase uma década antes, em 1994, durante a 1ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde. O longo intervalo entre a sua idealização e implementação conflui com uma série de transformações que passaram a tomar parte da saúde pública brasileira nesse período. Dessas, parece ser particular a incorporação de demandas de Ciência, Tecnologia e Inovação para dentro das políticas públicas de saúde e, conjuntamente, de novos compromissos políticos assentidos nos modos de fazer Ciência, Tecnologia, Inovação na saúde. Como um encontro entre esses dois caminhos, a fitoterapia se apresentava como proposta capaz de renovação na assistência farmacêutica, trazendo consigo os efeitos que o conceito de tradicionalidade produzia no campo institucional.
A SCTIE tinha interesse em espécies de potencial terapêutico que pudessem aliar a promoção e reconhecimento dos saberes populares e tradicionais. Era uma secretaria que pensava nas relações comunitárias e discutia formas de viabilizar arranjos produtivos locais para a fitoterapia no serviço público. Se falava em valorização de saberes, em participação, parcerias, integração… como se nenhum conhecimento pudesse ser desperdiçado quando se pensa em SUS. Nessa época era uma secretaria de ciência e tecnologia muito atenta à necessidade de transformação das formas de fazer ciência e tecnologia. Ali já se tinha consciência da crise planetária que vivemos. (Fátima Chechetto, Entrevista, 2021)
Em agosto de 2003, a SCTIE realizou um evento preparatório para a I Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, sob incentivo e organização do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF). Como um prólogo que, já em seu título, anunciava a ampliação do debate em torno da fitoterapia, a etapa de preparação levou o nome de Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica.
Em 2003, com a criação do DAF, eu fui ajudar na realização do seminário, em algumas reuniões. Além dos representantes dos estados, também tinham as empresas. Lembro que foi a Boticário e a Herbarium, e também muita gente de movimento social, indígenas, universidades, trabalhadores do SUS. A ideia era acolher propostas de todos os campos, do popular e tradicional ao acadêmico. (Silvia Beatriz Costa Czermainski, Entrevista, 2021)
Se as palavras criam mundos, naquele momento os participantes do seminário disputavam quais mundos tomariam parte no Ministério da Saúde. A construção de uma futura “conferência nacional de medicamentos e assistência farmacêutica” foi realizada a partir de um evento preparatório, o “seminário de plantas medicinais, fitoterápicos e assistência farmacêutica”. Entre “plantas” e “medicamentos”, os termos eleitos não se colocavam agora polarizados, como no passado, mas refletiam as tentativas de integração das propostas direcionadas à assistência farmacêutica, fazendo participar aquilo (e aqueles) que antes eram restritos e limitados tão somente ao fornecimento de matéria-prima para o trabalho em laboratório.
Incluir plantas medicinais no SUS era uma forma de sair de uma proposta de cuidado feita só pela via do medicamento. Nessa época, por exemplo, o Ministério da Saúde pensava em construir uma Polícia Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares. Mas nas consultas públicas o nome foi rebatido, pois, sendo uma medicina, só os médicos poderiam atuar. Com medicamento seria a mesma coisa. São os farmacêuticos que têm domínio sobre esse termo. Mas planta medicinal não. Era algo mais amplo, sem um domínio e um regulação tão forte. Então era isso que se queria: que a fitoterapia abrisse, e não fechasse portas, e o conceito de planta medicinal era fundamental para isso. (Carmem de Simoni, Entrevista, 2021)
O I Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica contou com a presença de cerca de 260 participantes, reunidos por três dias no Hotel Nacional de Brasília (Imagens 25 a 29). Além de pesquisadores, professores, gestores da saúde pública, industriais farmacêuticos e fornecedores de insumos ativos vegetais, o movimento estudantil e diversas organizações sociais tomaram parte, como a Associação Nacional de Fitoterapia em Serviços Públicos, MST, Movimento Popular do Rio Verde/GO, Centro Nordestino de Medicina Popular, organizações religiosas e pastorais.
Nós fizemos o possível para o seminário ser bem abrangente. Não deu para ter a presença de todos que gostaríamos, mas foi bastante amplo. É interessante, pois havia rumores se esse era mesmo um primeiro seminário nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. De fato, teve um anterior, feito em 2001 pelo Ministério da Saúde. Muitos subsídios vindos de lá foram incorporados. Mas o teor agora era muito diferente. (Silvia Beatriz Costa Czermainski, Entrevista, 2021)
Nessa conversa, Silvia Czermainski, que participou da organização do I Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica, me falava da mudança no público participante. Não mais restrito ao referencial industrial e aos acadêmicos farmacêuticos que congregam do mesmo monismo, o debate passava a incluir novos atores, o que incluía as próprias plantas em um repertório material, político e epistemologicamente antes restrito ao medicamento.
A inclusão de plantas medicinais na pauta da assistência farmacêutica era uma coisa nova. Dava muita briga! No seminário, a gente fez de tudo pra integrar as pessoas acima dos conflitos. Apesar das diferenças, todo mundo ali já estava ligado com o interesse por trabalhar com um ideal maior, político, democrático. O que se discutia era qual fitoterapia a gente queria para o Brasil. Eram coisas dessas que discutíamos. Ali o principal conflito era de visão de mundo mesmo. (Fátima Chechetto, Entrevista, 2021)
No trecho reportado acima, Fátima Chechetto, presente no seminário, me falava sobre o interesse expresso por parte dos participantes em modelar o conceito de planta medicinal longe das matrizes do capital transnacional e sua peculiar maneira de se relacionar com o valor intrínseco da vida: tão somente enquanto matéria-prima. Nesse sentido, um primeiro aporte do Seminário de 2003 parece ter sido mostrar que plantas comportam cosmologias inteiras, e não apenas frações moleculares de representação e participação. Essa condição, por sua vez, não escapava dos desafios para que florescessem também como novas formas de subjetividade, disputando os limites do possível no campo técnico e político de que passavam a tomar parte. Afinal, embora algumas plantas passassem a ter espaço institucional assegurado, sua carta de convite só foi aceita quando chancelada como ciência, tecnologia e inovação, mesmo sob o mote de alguma tradição.
No Seminário [Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica] a discussão era muito industrial. Acesso e uso racional eram as palavras-chave. Esses eram temas importantes naquele momento. Para discutir a fitoterapia nesse grupo tinha que se escolher as palavras certas, se não, nada ia acontecer. (Silvia Beatriz Costa Czermainski. Depoimento ao autor, 19 abr. 2021)
Na programação oficial do Seminário, o painel “A integração dialética dos saberes tradicional e acadêmico e a questão patentária” recuperou os debates construídos desde a Convenção da Biodiversidade. Ademais, das 68 recomendações elaboradas nesse evento – todas acolhidas e ratificadas na Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica –, seis tematizavam o conceito de tradicionalidade como elemento constitutivo da identidade e da legitimidade da fitoterapia no SUS.
A SCTIE teve um papel importante para definir a fitoterapia como tecnologia, que, naquele momento, se redesenhava no imaginário institucional como um elemento de valorização das identidades construídas em torno do conceito de tradicionalidade. Longe de qualquer irrelevância, esse foi um tema que deu conta de reunir todo o eixo monumental de Brasília: acompanhando os ministérios que participaram do I Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica, inicialmente três ministérios se articularam, Saúde, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. Em 2006, às vésperas de pactuar a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, mais oito ministérios tomaram parte nesse tema, posicionando a fitoterapia de modo transversal na agenda pública.
No total nós éramos onze ministérios. E ainda tinha o movimento social! Juntar o maior número de pessoas era uma forma de mostrar que nós estávamos construindo um projeto de nação. (Jussara Cony, Entrevista, 2021)
Por sua vez, essa mesma nação, que surgia de conferências nacionais e dos gabinetes de Estado – um Estado que anunciava o prelúdio de um período participativo, aberto, inclusivo, talvez mesmo democrático – esbarrava na condição inerente da sua própria existência: quem pode e como pode participar.
Digo isso, pois, em se tratando da produção de cuidados pela via das plantas, institucionalizar tecnologias sob o nome de alguma tradicionalidade é antes estabelecer direitos e, principalmente, comprometimentos do Estado com as cosmologias que se identificam em torno desse termo.
No Ministério da Saúde, muito embora o conceito de “planta medicinal” tenha aberto caminho para outras práticas de cuidado (que não clínicas), outros sujeitos (que não médicos) e outros objetos terapêuticos (que não farmacológicos), o conceito de “tradição” mantinha-se restrito às definições chanceladas pela Anvisa. Já no Ministério do Meio Ambiente, essa era uma questão debatida de modo mais alargado: sendo o conceito de tradicionalidade um qualitativo produtor de direitos assentidos desde a CDB, a quem caberia definir o que (ou quem) é tradicional?
Essa pergunta se tornou fecunda em Brasília entre 2003 e 2006. Como um norteador das políticas nacionais gestadas neste período, parte importante do debate construído na presença dos movimentos sociais e agentes de Estado foi reconhecer a produção de identidades como algo em constante reelaboração, despojando-se de qualquer sentido cristalizado, inerente ou inerte. Um contraponto aos empenhos sanitários daquele momento.
Vale notar que, por muito tempo, o conceito de cultura e também o de tradição foram entendidos pelo Estado como parte biológica de uma certa descendência, em que os “tradicionais”, nessa acepção, seriam os descendentes “puros” e “diretos” de populações “originárias”, talvez pré-colombianas, para dar ênfase à hipérbole. Segundo este critério, é fácil ver que raríssimos seriam os coletivos de direito sobre as riquezas da terra, assentindo seus benefícios novamente a um terreno de livre exploração (para um debate sobre os conflitos implicados nesta condição, vide Cunha, 1998; 1999; 2009; Diegues & Moreira, 2001; 2007a; 2007b; Lima & Bensusan, 2003; Little, 2002).
Dedicado a esse debate, parte importante do empenho conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e com os movimentos sociais foi instituir um fórum popular para discutir a produção de reconhecimento, direito e identidade elaborada a partir do conceito de tradicionalidade.
No I Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais, realizado em agosto de 2005 em Luziânia/GO a partir da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais , foram levantados questionamentos a respeito de quem seriam as “comunidades tradicionais” a que se referia o Estado, e quais seriam as principais demandas e políticas públicas relacionadas a esses coletivos.
No Ministério do Meio Ambiente, nós fizemos um esforço para trazer grupos dos mais diversos e ter o máximo de diversidade nas pautas que iriam construir a Política [Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNCPT]. Também convidamos antropólogas e antropólogos que pudessem nos ajudar a construir esse debate da melhor forma possível. A ideia era criar uma definição de tradicionalidade que fosse representativa para as comunidades e que contasse com o suporte teórico. Esse período foi muito interessante. Os antropólogos falavam sobre identidade. As comunidades falavam sobre ancestralidade. Ancestralidade não era um conceito com que os antropólogos lidavam bem, mas foi uma referência construtora em toda política. (Identidade preservada n. 2, Depoimento, 2022)
Na conversa reportada acima, que tive com uma das antropólogas atuantes no Ministério do Meio Ambiente durante os eventos preparatórios da PNCPT, falávamos sobre como o conceito de ancestralidade, se não servia como categoria analítica, operava muito bem como referência de articulação entre os coletivos ali reunidos. De todo modo, partindo das dissonâncias entre os propositores do debate, tornava-se comum o entendimento de que definições identitárias, quaisquer que fossem, caberiam tão somente aos seus próprios referentes.
Por parte do Ministério do Meio Ambiente, essa autorreferência passava a ser uma forma institucional de atribuir existência ao conceito identitário, sem reduzi-lo à retórica utilizada para demarcar um grupo, um saber ou uma prática a partir de uma realidade exterior. Por este empenho, das muitas idas e vindas que marcaram a trajetória do conceito de “povos e comunidades tradicionais” nas atas da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais que discutem a instituição da PNCPT, ficou definido o entendimento em torno do entendimento referido no decreto no 6.040, de 07 de fevereiro de 2007:
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmiti- dos pela tradição (Brasil, 2007).
Nesse decreto, diversidade e identidade se fundem em uma só acepção. Afinal, sendo autorreferida, a genealogia do reconhecimento de si – ou mesmo a invenção daquilo que se é ou do que se pode ser – passava pela produção de diferenças percebidas em relação ao outro. Afinal, só há identidade onde possa ser notada diferença, originando daí uma miríade de diferenciações.
Distante de um entendimento restrito a um só ministério, essa pactuação foi feita em colaboração e pelo trânsito de posições e sujeitos atuantes entre o Ministério do Meio Ambiente e da Saúde e, dentro desse último, entre o Departamento de Atenção Básica e o de Assistência Farmacêutica. Esse movimento também contou com o fluxo de lideranças comunitárias participativas desde o Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais até o grupo de trabalho instituído para formulação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos:
Sobre a participação das comunidades na construção e implementação das Políticas, é importante dizer que o “pessoal da ponta” participou das discussões. Todos os grupos de trabalho realizados até o momento para a discussão destas Políticas foram feitos de forma participativa. Apesar de não se constituir em uma política pública ideal para todos os setores, tais políticas podem ser entendidas como grandes avanços, na medida em que introduzem nos sistemas oficiais de saúde, práticas que apresentam uma outra forma de ver e entender o ser humano. O objetivo não é o de institucionalizar práticas tradicionais, e sim o de pensar de que forma tais práticas podem contribuir para o sistema oficial de saúde. (Ângelo Giovani, apud FUNASA, 2007, p. 176)
Com o conceito de tradicionalidade sendo definido como elemento autorreferido, ampliava-se a participação e a legitimidade de coletivos dos mais diversos para dentro das políticas e dos direitos gestados desde a CDB. No Ministério da Saúde, no entanto, o tema era lido com preocupação, pois conflitava com os modos de reconhecimento e legitimação próprios do regime sanitário, que mantém sob sua tutela a definição das realidades que governam.
[…]
Em parceria com a Hucitec Editora, Outras Palavras irá sortear um exemplar de A institucionalização da fitoterapia pública brasileira: identidade e legitimidade em torno do conceito de tradicionalidade, de Pedro Crepaldi Carlessi, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 29/9, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!
Outras Palavras disponibiliza sorteios, descontos e gratuidades para os leitores que contribuem todos os meses com a continuidade de seu projeto de jornalismo de profundidade e pós-capitalismo. Outros Quinhentos é a ferramenta através da qual é possível construir conosco um projeto de jornalismo de profundidade e pós-capitalista. Pela colaboração, diversas contrapartidas são disponibilizadas: sorteios, descontos e gratuidades oferecidas por nossos parceiros – são mais de vinte parcerias! Participe!
NÃO SABE O QUE É O OUTROS QUINHENTOS?
• Desde 2013, Outras Palavras é o primeiro site brasileiro sustentado essencialmente por seus leitores. O nome do nosso programa de financiamento coletivo é Outros Quinhentos. Hoje, ele está sediado aqui: apoia.se/outraspalavras/
• O Outros Quinhentos funciona assim: disponibilizamos espaço em nosso site para parceiros que compartilham conosco aquilo que produzem – esses produtos e serviços são oferecidos, logo em seguida, para nossos apoiadores. São sorteios, descontos e gratuidades em livros, cursos, revistas, espetáculos culturais e cestas agroecológicas! Convidamos você a fazer parte dessa rede.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras