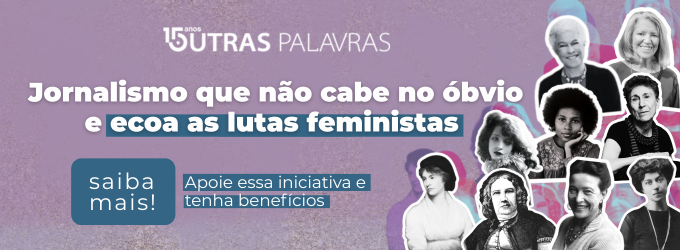Setembro Amarelo: maquiagem para empresas?
Corporações promovem cada vez mais ações fictícias de “bem estar”, mas dados são claros: trabalhar nunca causou tanto sofrimento. Neste mês, é preciso lutar por mudanças reais – fortalecimento do SUS e regulação efetiva das dimensões psicossociais do trabalho
Publicado 16/09/2025 às 08:58 - Atualizado 17/12/2025 às 18:24

Por Bruno Chapadeiro Ribeiro, autor convidado
Título original: Setembro Amarelo: quando a desigualdade adoece e o trabalho mata
Há algo de profundamente perverso na maneira como transformamos sofrimento coletivo em commodity individual. Em tempos de capitalismo consciente, as empresas descobriram que não basta vender produtos – é preciso vender também o bem-estar psicológico. O Setembro Amarelo, que deveria ser um momento de crítica radical às estruturas que produzem morte, transformou-se numa sofisticada operação de maquiagem.
Enquanto as campanhas oficiais vendem consciência individualizada e distribuem números de CVV como se fossem aspirinas para dor existencial, 27,3 trabalhadores morrem por suicídio a cada dia no Brasil.
Os dados são de um estudo rigoroso que acompanhou a população trabalhadora brasileira entre 2010 e 2019: 112.164 suicídios em uma década, com tendência crescente sustentada de 60,1%. Entre os homens, o risco é 3,5 vezes maior que entre as mulheres – não por acaso, a pressão da masculinidade tóxica do “provedor” faz vítimas.
Mas eis que surge uma nova modalidade de lavagem: o wellbeing washing. Se o greenwashing pinta de verde o que deveria ser ecologicamente transformado, o wellbeing washing pinta de amarelo o que deveria ser socialmente revolucionado.
Explosão definitiva: 440 mil afastamentos em 2024
O Ministério da Previdência Social (MPS) divulgou dados que confirmam o que já sabíamos: 2024 foi o ano da explosão definitiva da crise de Saúde Mental Relacionada ao Trabalho. Mais de 440 mil trabalhadores brasileiros se afastaram de suas funções por transtornos mentais e comportamentais –mais que o dobro do registrado em 2014 e um aumento brutal de 67% apenas em relação a 2023.
A hierarquia do sofrimento revela o retrato de uma sociedade em colapso emocional: transtornos de ansiedade lideram com 141 mil casos, seguidos de episódios depressivos com 113 mil casos, depressão recorrente, transtorno bipolar e dependência de substâncias. São números que transformam estatísticas em tragédia humana coletiva.
Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab SST), os afastamentos por transtornos mentais já figuram entre as principais causas de concessão de auxílio-doença, superando, em alguns setores, até mesmo os tradicionais problemas osteomusculares que historicamente dominavam as estatísticas previdenciárias.
A cruel ironia dos dados globais
Numa revisão literária em 130 estudos sociológicos sobre o fenômeno do suicídio datados de 1981 a 1995, destacou-se a pobreza como uma situação que pode predispor ao suicídio, incluindo fatores como o desemprego, o estresse econômico e a instabilidade familiar. Pessoas sem emprego apresentam taxas de suicídio maiores que as empregadas, principalmente entre a população masculina, mais sensível aos reveses econômicos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, somente no ano de 2016, num mundo pré-pandemia de covid-19, 79% dos suicídios no mundo ocorreram em países de baixa e média renda. O Atlas de Saúde Mental 2024 da OMS revela um cenário devastador que contextualiza a crise brasileira numa perspectiva global. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem atualmente com transtornos mentais – um aumento significativo que coincide, não por acaso, com a intensificação das políticas neoliberais globais.
Numa revisão de 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001, que engloba 15.629 casos de suicídios na população geral, demonstrou-se que em 96,8% dos casos, caberia um diagnóstico de transtorno mental à época do ato fatal. Dentre eles, a depressão, transtorno bipolar e dependência de álcool e de outras drogas psicoativas.
Anos atrás, a OMS previu que a depressão se tornaria a principal causa de absenteísmo nas organizações a partir da década de 2020. Trabalhadores faltariam mais por crises depressivas do que por dores na coluna, gripes e resfriados. A mesma OMS analisou dados internacionais no período de 2000 a 2012 e mostrou que a prevalência mundial de suicídios caiu em média 26% ao passo que no Brasil aumentou 10,4%. A organização aponta o Brasil como o 2º país com maior número de depressivos nas Américas, sendo também o país com maior prevalência de ansiedade no mundo.
Um estudo recente revelou que, desde 2015 – ano em que foi lançada a campanha Setembro Amarelo no Brasil –, as mortes por suicídio não apenas continuaram a aumentar, mas também apresentaram aceleração no crescimento. A taxa média de aumento anual saltou de 1,67% (2000-2015) para 4,24% (2015-2019).
Isso não significa que a campanha causa suicídios, mas expõe a limitação de abordagens que individualizam problemas estruturais. O suicídio deve ser compreendido enquanto “expressão da organização deficiente de nossa sociedade” – não como fracasso individual a ser corrigido com fitinhas amarelas.
A depressão e ansiedade sozinhas custam à economia global US$ 1 trilhão anuais em perda de produtividade, enquanto apenas 9,1% das pessoas com depressão recebem tratamento minimamente adequado globalmente. No Brasil, essa realidade se manifesta de forma ainda mais cruel.
A matemática cruel dos que “desistem”
Os números revelam uma geografia da morte que coincide perfeitamente com a geografia da desigualdade. Trabalhadores da agricultura lideram com 21,7 suicídios por 100 mil habitantes – quase quatro vezes a média nacional. A população indígena apresenta taxa de 19,5 por 100 mil, numa macabra correlação entre genocídio histórico e desespero contemporâneo. Entre os trabalhadores rurais, 4,5% se matam por autointoxicação com pesticidas – quando não é o agrotóxico que mata lentamente por câncer, é ele que oferece a “solução final” para o desespero. 63% dos suicídios rurais ocorrem entre pessoas negras, 77,1% tinham no máximo ensino médio. A geografia do suicídio coincide, assim, com a geografia da desigualdade.
Há também uma divisão sexual da morte. No Rio Grande do Sul, 69,94% das notificações de lesão autoprovocada são de mulheres, enquanto 80,04% dos suicídios consumados são de homens. O que isso nos diz? Que elas pedem ajuda, eles morrem calados. As mulheres tentam 4 vezes mais, os homens “conseguem” 4 vezes mais. Como se até na morte houvesse uma divisão sexual do trabalho: a elas, o grito de socorro; a eles, o silêncio mortal. O enforcamento é o método mais escolhido – 71,4% dos casos no Brasil.
O setor bancário, laboratório do neoliberalismo brasileiro, oferece um caso exemplar desta dinâmica. Entre 1996 e 2005, foram 181 bancários mortos por suicídio – uma média de um suicídio a cada 20 dias. No período anterior (1993-1995), haviam sido 72 casos – um a cada 15 dias. A escalada coincide exatamente com a reestruturação produtiva dos anos 1990, quando 430 mil bancários foram demitidos e os sobreviventes passaram de funcionários a “vendedores e consultores”. Pesquisa recente da Fenae/UnB revela que 53% dos bancários já sofreram assédio moral e 47% já tiveram conhecimento de algum episódio de suicídio entre colegas. Apesar de representarem menos de 1% da força de trabalho formal, os bancários correspondem a 25% dos registros de adoecimento mental junto ao INSS.
Entre os profissionais de saúde, observa-se um paradoxo cruel: quem deveria cuidar da saúde mental alheia não consegue preservar a própria. 80% dos profissionais de enfermagem de São Paulo já foram agredidos no trabalho. É como se a violência fosse o preço a pagar por querer cuidar numa sociedade que transformou saúde em mercadoria. A reincidência nas notificações de lesão autoprovocada chegou a 49,44% em 2023 – um a cada dois casos já havia tentado antes. Isso revela não apenas a ineficácia das intervenções individuais, mas a persistência das condições estruturais que produzem sofrimento.
A engenharia do bem-estar fictício
Diante dos 440 mil afastamentos em 2024 – um aumento de 67% em apenas um ano – as empresas descobriram que é mais barato comprar selos de “empresa saudável” do que mudar estruturalmente suas práticas tóxicas. A nova lei que instituiu o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental é magistral nessa estratégia.
As empresas ganham certificação de dois anos para mostrar que se importam, enquanto mantêm as práticas que destroem a saúde mental dos trabalhadores. É como dar morfina para quem precisa de cirurgia – alivia o sintoma, mantém a doença. 86% dos funcionários consideram trocar de emprego por questões de saúde mental, então as empresas oferecem mindfulness para lidar com o estresse que elas próprias produzem.
Os dados do Atlas de Saúde Mental 2024 revelam que, globalmente, a mediana dos gastos governamentais com saúde mental permanece estagnada em apenas 2,1% dos orçamentos de saúde desde 2017. Enquanto países de alta renda investem US$ 65,89 per capita, países de baixa renda investem apenas US$ 0,04 per capita – uma diferença de mais de 1.600 vezes. A força de trabalho especializada em saúde mental é dramaticamente insuficiente: apenas 13,5 trabalhadores especializados por 100.000 habitantes globalmente, com países de baixa renda tendo apenas 1,1 por 100.000 comparado a 67,2 nos países de alta renda.
A receita corporativa para não resolver
As recomendações corporativas revelam a superficialidade das soluções oferecidas. Para empresas, sugerem: “implantar programas de apoio psicológico”, “capacitar líderes”, “flexibilizar jornadas”, “promover pausas” e “mapear riscos psicossociais”. Para trabalhadores, a cartilha neoliberal é ainda mais perversa: “estabelecer limites claros”, “manter hábitos saudáveis”, “buscar suporte profissional”, “preservar vínculos sociais” e “praticar técnicas de gestão do estresse”.
Notem a inversão: as empresas devem fazer “programas” e “mapeamentos”, enquanto os trabalhadores devem se “adequar”, “buscar” e “praticar”. A responsabilidade sempre recai sobre quem sofre, nunca sobre quem explora.
Sinais típicos do wellbeing washing:
- Salas de relaxamento anunciadas mas desencorajadas na prática
- Palestras sobre autocuidado enquanto se mantêm metas impossíveis
- Certificações compradas em vez de mudanças implementadas
- Ginástica laboral como resposta ao assédio moral
- Apps de mindfulness enquanto se intensifica a precarização
A redistribuição que de fato funciona
Há evidências robustas de que políticas sérias de redistribuição de renda funcionam melhor que qualquer sessão de terapia corporativa. Um estudo com a introdução do salário-mínimo na Inglaterra descobriu que aumentos salariais efetivos geraram melhora na saúde mental comparável ao efeito dos antidepressivos (0,37 versus 0,39 desvio padrão).
Pesquisas demonstram que estados norte-americanos que aumentam seus salários-mínimos veem as taxas de suicídio crescerem mais lentamente. Para cada US$ 1/hora aumentado, corresponde uma redução de 1,9% na taxa anual de suicídio. Também evidenciaram que indivíduos de famílias com maiores rendimentos têm menos risco de tirar a própria vida. A Organização Internacional do Trabalho afirma que 269 milhões de novos empregos seriam criados no mundo se os investimentos em educação, saúde e assistência social fossem duplicados até 2030.
Estudos demonstram que países que mantiveram ou reforçaram suas políticas de proteção social, incluindo as de transferências monetárias para populações pobres e extremamente pobres, apresentaram níveis menores de suicídios. A pesquisa com 5.507 municípios entre 2004 e 2012 revelou que aqueles com maior cobertura do Bolsa Família tiveram redução de 56% no risco de suicídio entre beneficiários. Na Indonésia, programas similares geraram queda de 18%.
O recado é claro: dinheiro no bolso funciona melhor que conversa sobre resiliência. Mas isso, claro, não vende consultoria nem gera certificados dourados. Nunca se esteve tanto na pauta do dia tornar a renda básica algo permanente, bem como resolver injustiças históricas do sistema tributário, tendo na agenda a taxação de grandes fortunas, conduzida por um Estado forte e protetor.
O Atlas de Saúde Mental 2024 expõe a crueza da realidade: menos de 10% dos países completaram a transição para modelos de cuidado comunitário, com a maioria ainda dependendo de hospitais psiquiátricos. Quase 50% das internações psiquiátricas são involuntárias globalmente, e mais de 20% dos pacientes permanecem internados por mais de um ano.
A cobertura de serviços para psicose é de apenas 40% globalmente, variando dramaticamente: menos de 10% em países de baixa renda versus mais de 50% em países de alta renda. O Ministério da Saúde constatou que em locais onde há Centros de Atenção Psicossocial – CAPS em funcionamento, o risco de suicídio é 14% menor. O custo médio de 12 mil internações hospitalares no SUS por autointoxicação intencional, entre 2007 e 2016, foi de 3 milhões/ano, o equivalente ao custo de implantação e custeio de 8 CAPS/ano.
Pesquisas averiguam que, no período em que se agravou a crise ética-política-econômica brasileira (2014-2017) com altas taxas de desemprego, o comportamento suicida se amplia. Entretanto, o que se vê no horizonte são medidas de austeridade que preveem a retirada de direitos sociais e o congelamento do orçamento público para políticas de proteção social.
É possível um Setembro Amarelo “anticapitalista”?
O capital precisa de crises estruturais para se reinventar, expandir e se valorizar. Com isso, a história nos mostra que a miséria e a desigualdade social tendem a se agravar, e, tal como o exposto nesse texto, resulta, dentre outras mazelas, na elevação das taxas de suicídios.
Os índices de suicídios são altos em grupos que foram vulnerabilizados pela exclusão social e mais afetados pelas crises: desempregados, pessoas em insegurança alimentar, alvos de violência policial como a juventude negra, pobre e periférica, e populações em territórios permanentemente ameaçados pela invasão predatória e pela ausência de políticas públicas, como indígenas.
Suicídio entre crianças indígenas é 18,5 vezes maior do que entre crianças não indígenas e afeta principalmente meninas (58,2%). As maiores taxas de suicídio foram observadas na população idosa brasileira a partir de 70 anos, demonstrando o projeto societário de “eliminação dos indesejáveis”.
A verdadeira prevenção exige mais que fitinhas e hashtags motivacionais. A intervenção deve ser sistêmica:
1. Políticas econômicas reais: Programas de transferência de renda comprovadamente eficazes.
2. Fim do wellbeing washing: Regulamentação séria das certificações de bem-estar.
3. SUS fortalecido: Investimento na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e na Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Renastt)
4. Trabalho que não mate: Regulação efetiva das dimensões psicossociais relacionadas ao trabalho, não questionários burocráticos.
5. Justiça tributária: Financiamento adequado para políticas sociais através da taxação de grandes fortunas.
Da consciência à consciência de classe
Em resumo, as cada vez mais ampliadas taxas de suicídios ao redor do globo são apenas a ponta do iceberg da barbárie inerente ao sociometabolismo do capital que têm nas medidas de austeridade e crescentes taxas de desemprego estrutural sua expressão de desejo. Mas isso as campanhas do Setembro Amarelo passam longe de abordar.
As evidências são cristalinas: suicídio é problema político que exige soluções políticas. A introdução do salário-mínimo inglês teve efeito igual aos antidepressivos. O Bolsa Família reduziu suicídios em 56%. Mas empresas preferem comprar selos dourados e oferecer yoga corporativa e o SUS tem apostado que IAs deem conta da saúde mental por apps. Globalmente, em 2021, o suicídio matou 727.000 pessoas, sendo uma das principais causas de morte entre jovens.
No Brasil, os 440 mil afastamentos de 2024 representam um aumento de mais de 100% em relação a 2014 – uma escalada que coincide perfeitamente com a implementação de políticas de austeridade, reforma trabalhista e precarização sistemática do trabalho. Apesar dos esforços globais, apenas 12% de redução será alcançada até 2030, muito longe da meta da ONU de reduzir um terço das mortes por suicídio.
Há uma perversidade particular em transformar setembro num mês de “conscientização” quando o que precisamos é de consciência de classe. Não basta falar sobre suicídio – é preciso falar sobre as estruturas que o produzem. Políticas que garantam vida digna são o principal promotor de saúde mental. O resto é teatro amarelo para plateia distraída.
Às vezes, a coisa mais saudável que uma empresa pode fazer pela saúde mental de seus funcionários não é contratar um coach de wellness ou comprar uma certificação internacional, mas questionar se sua própria existência – na forma como está organizada – não é um fator de risco para a sanidade coletiva. Mas isso, óbvio, não vem com selo certificador nem marketing institucional.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras