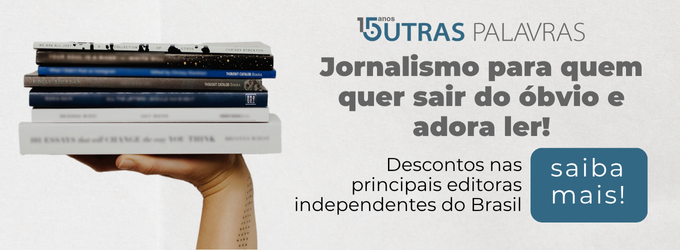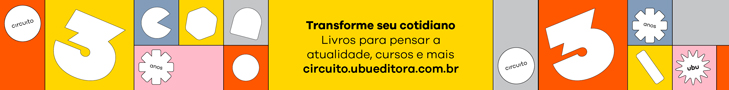Adorno mostra a “vida danificada” no capitalismo
Filósofo frankfurtiano não era um resignado, como muitos apontam. Apesar de evitar a economia política, ele descreveu as formas de mutilação subjetiva e concreta do sistema – que produz seres substituíveis. E, em Auschwitz, viu que o potencial de barbárie não é exceção
Publicado 12/09/2025 às 17:58 - Atualizado 12/09/2025 às 17:59

Jordi Maiso é professor no Departamento de Filosofia e Sociedade da Universidad Complutense de Madrid, onde desenvolve pesquisas nas áreas de teoria crítica, filosofia social e marxismo. É editor de Constelaciones. Revista de Teoría Crítica, uma das principais publicações em língua espanhola (e portuguesa) dedicadas à tradição frankfurtiana e seus desdobramentos contemporâneos. É também presidente da Sociedad de Estudios de Teoría Crítica. Como tradutor, é responsável por diversas edições em espanhol da obra de Walter Benjamin. Entre seus escritos mais relevantes destaca-se o livro Desde la vida dañada: La Teoría Crítica de Theodor W. Adorno (2022), em que propõe uma leitura rigorosa e atualizada do pensamento adorniano a partir da noção de vida danificada1 – obra que constitui o centro desta entrevista.
Bruna Della Torre: Jordi, em primeiro lugar, obrigada por aceitar fazer essa entrevista. Acho que seu livro é um momento fundamental da renovação dos estudos de Adorno, da retomada de um Adorno crítico, marxista, preocupado com questões políticas muito caras à esquerda. Você começa seu livro falando da vulgarização da figura de Adorno e sobre como isso atrapalhou sua recepção. Adorno ficou associado à imagem do filósofo elitista, hóspede do Grande Hotel Abismo etc. E, ao mesmo tempo, um autor hermético, germânico, inacessível a outras culturas e idiomas. Acho que o que foi feito de Adorno na Alemanha — com a ostracização dos seus alunos e alunas mais radicais — também contribuiu muito para isso. Queria começar pedindo para você falar um pouco da necessidade de desconstruir essa imagem e retomar a radicalidade de Adorno, que não só cedeu lugar a essa imagem, mas de alguma forma foi também apagada por uma teoria crítica soft à qual interessava fomentar a imagem de Adorno como um pessimista excêntrico.
Jordi Maiso: Obrigado, Bruna, essa é uma questão muito importante. De fato, penso que herdamos uma imagem de Adorno que pouco tem contribuído para os esforços de nos reconectar com aquilo que seu pensamento ainda pode oferecer. Na consciência coletiva, ao menos até alguns anos atrás, Adorno aparecia como uma figura já suficientemente conhecida e, de certo modo, domesticada. Era o pensador da célebre frase sobre a impossibilidade da poesia depois de Auschwitz, o filósofo da negatividade, o crítico lúgubre e afastado da práxis que não pôde senão se chocar com o movimento estudantil, o esteta refinado que elaborou intrincadas reflexões sobre o modernismo, mas a partir de uma suposta aversão visceral à cultura de massas que hoje parece um tanto extravagante. Nesse sentido, é significativo que as questões que mais tiveram efeito dissuasório no momento de abordar sua obra tenham se baseado em grande medida em argumentos ad hominem, centrados em supostos traços de caráter — elitismo, pessimismo, resignação política, o “trauma” das experiências do fascismo, do stalinismo e da indústria cultural etc. —, e não nos méritos efetivos de seu pensamento. Essa imagem distorcida, que o reduziu a uma espécie de caricatura exemplar do velho intelectual rabugento, dificultou uma relação mais produtiva com seus textos, tanto no plano teórico quanto no político. E considero que isso representou uma perda importante. Pois dificultou, em primeiro lugar, compreender em que medida o que unifica os interesses filosóficos, estéticos, sociológicos e políticos aos quais recorre o pensamento de Adorno é sua confluência em uma teoria crítica da sociedade. E que seu pensamento se caracteriza precisamente por enfrentar um momento histórico particularmente sombrio, marcado pela ascensão do fascismo, pela consolidação de um capitalismo cada vez mais integrador, pelo esvanecimento do horizonte revolucionário e pela integração do proletariado; enfrentamento que não abdica das pretensões emancipatórias, justamente quando estas já não pareciam dispor de qualquer sustentação.
Sem dúvida, o que Hobsbawm chamou de “era das catástrofes” marcou a fisionomia intelectual de Adorno. Mas também lhe permitiu analisar sem complacência alguma o capitalismo do pós-guerra, o dos milagres econômicos e do matrimônio aparentemente estável entre crescimento econômico e prosperidade social — algo que se restringia ao âmbito da Europa ocidental e dos Estados Unidos. Nessa suposta “idade de ouro” do capitalismo, que hoje muitos consideram uma espécie de arcádia perdida, ele via o terror da integração total sob o capital. Por isso, aqueles que quiseram pôr um ponto final em seu pensamento — a partir do que apresentaram como versões renovadas da teoria crítica — rejeitaram suas formulações como uma espécie de radicalismo extravagante, marcado por experiências sem dúvida terríveis, mas que já não estavam em pauta. Diziam, então, que Adorno permanecera marcado pelas experiências do fascismo e do exílio e obcecado pelos aspectos mais deletérios do período totalitário, e que por isso não era capaz de se dar conta da consolidação da democracia e da presumida “domesticação” do capitalismo. Hoje, contudo, parece que essa perspectiva o impediu de sucumbir às ofuscações que levaram muitos a acreditar que o regime do capital poderia adquirir um rosto humano. Por isso, em muitos sentidos, o pensamento de Adorno resistiu melhor ao tempo do que o de muitos de seus detratores. De fato, ele continua oferecendo caminhos fecundos para enfrentar as crises de um momento histórico marcado pelo retorno de dinâmicas manifestamente autoritárias, pelas coerções de um capitalismo cada vez mais asfixiante, pela cega dominação da natureza que corrói suas próprias bases e pela entrada em uma fase em que o sistema social regido pela lógica do capital já não parece em condições de enfrentar suas próprias crises. Na verdade, se algo chama a atenção é a capacidade que revela a teoria crítica de Adorno para, a partir de um momento histórico bastante distinto do nosso, antecipar alguns dos problemas que hoje enfrentamos.
BDT: Nesse sentido, qual é a relação entre Adorno e a economia política? Acho que a chamada “Nova Leitura de Marx” ajuda muito a avançar na leitura de Adorno (não só de Marx, portanto) e perceber continuidades não tão visíveis por meio de outras lentes teóricas. Se você puder comentar isso, também seria ótimo.
JM: Durante muito tempo — em grande medida por intermédio de comentadores como Martin Jay ou Jürgen Habermas — Adorno foi considerado um autor alheio a Marx e a toda reflexão vinculada à crítica da economia política. É verdade que ele jamais se ocupou diretamente de questões econômicas e até nutria certa aversão por elas, mas isso não impede que todo o seu pensamento se articule a partir de uma consciência aguda da centralidade da forma-mercadoria e da forma-valor para a apreensão de qualquer fenômeno do capitalismo contemporâneo. Ainda que, no contexto da Guerra Fria, as alusões a Marx se fizessem muitas vezes de maneira velada, a centralidade desses conceitos em seus escritos mostra-se de forma explícita. Em Adorno, tanto o conceito de troca quanto a dialética entre identidade e não-identidade derivam da teoria marxiana da mercadoria e da lógica do valor. Entretanto, apenas recentemente se foi reconhecendo a centralidade da crítica da economia política em suas formulações, e hoje causa até estranheza que tenha demorado tanto para que se percebesse o peso dessa problemática em passagens centrais da Dialética do Esclarecimento, de Minima moralia ou da Dialética negativa. Trabalhos como o de Dirk Braunstein levaram a cabo uma reconstrução minuciosa nesse sentido. Mas eu diria que, sobretudo, os escritos de Adorno sobre teoria social — em especial aqueles das décadas de 1950 e 1960 — apenas se tornam inteligíveis à luz de uma apropriação singular da crítica da economia política de Marx. É neles que vemos Adorno conceitualizar a realidade social a partir de coordenadas marxianas, mas buscando atualizá-las à altura de seu próprio tempo histórico. O que lhe interessava não era a exegese de O capital nem a marxologia, mas a compreensão das dinâmicas do capitalismo avançado que tinha diante de si. Isso exigia partir de Marx, mas também atender a dimensões que ele não chegou a tematizar. No momento em que Adorno pensa, o capitalismo já é muito mais do que um sistema econômico ou um modo de apropriação do excedente da produção; remete a uma configuração da vida social em sua totalidade, em suas dimensões objetivas e subjetivas. Nesse sentido, a teoria crítica de Adorno, mesmo quando se ocupa de fenômenos particulares — frequentemente desdenhados como meros assuntos de “superestrutura” —, só pode ser compreendida como uma crítica do processo social global de reprodução da vida. E aquilo que governa o todo social — que, como se sabe, Adorno caracteriza como uma totalidade falsa – é precisamente a reprodução do capital.
Considerando que Adorno parte, para isso, de uma apropriação peculiar da teoria do valor em Marx, do capital como sujeito autotélico, dificilmente surpreende que a chamada “Nova Leitura de Marx” tenha emergido de seus discípulos, em particular H. G. Backhaus e H. Reichelt, e, em certa medida, também H. J. Krahl. E, sem dúvida, os desdobramentos dessa corrente interpretativa permitiram esclarecer o papel central que O capital desempenha na obra de Adorno, sobretudo em sua fase tardia. Mas o que os distingue também é digno de nota. A crítica da economia política é — para recorrer à expressão de Rolf Johannes — o “centro ausente” de sua teoria crítica. Esta, porém, não se preocupa em dissecar minuciosamente a lógica do capital, mas antes em explorar suas implicações para uma teoria mais ampla da sociedade, da relação entre o sistema social e os indivíduos que o mantêm em movimento e, em certo sentido, também de sua relevância para compreender o núcleo da problemática do fetichismo e da heteronomia. Não por acaso, o capitalismo — que Marx já concebera como a última fase da pré-história — é, afinal, fundamentalmente isso: uma forma explícita de não-liberdade, uma inversão entre sujeito e objeto. É nesse contexto que Adorno se refere ironicamente a O capital como uma “fenomenologia do anti-espírito” [Phänomenologie des Widergeistes]. Nesse sentido, eu diria que o interesse do marxismo de Adorno reside precisamente no fato de partir da crítica da economia política e levá-la extremamente a sério, mas, por um lado, extraindo dela um desdobramento filosófico pouco comum no marxismo e, por outro, mobilizando-a em sua teoria social para enfrentar problemas mais específicos, em larga medida impostos pela realidade histórica que se lhe apresentava. Assim, seus escritos sociológicos não dialogam tanto com o elevado nível de abstração das categorias da crítica da economia política — que a “Nova Leitura de Marx” aborda de maneira exemplar — quanto com as mediações que tornam tais categorias operantes numa determinada fase histórica da vida social sob condições capitalistas.
BDT: A noção de “vida danificada” é o fio que você escolhe para percorrer a obra de Adorno. O que é “vida danificada”? Por que partir daí?
JM: Adorno emprega o conceito de “vida danificada” no subtítulo daquela que é talvez uma de suas maiores obras, Minima moralia. Reflexões a partir da vida danificada. Frequentemente se interpretou esse conceito como expressão de um elemento biográfico, vinculado à experiência pessoal de Adorno. Contudo, considero que tal via conduz a um equívoco. A vida danificada não é questão só de Adorno, tampouco uma condição particular dos intelectuais exilados e desenraizados — ainda que não se possa negar o caráter mutilador dessas experiências —, mas algo determinado pela própria configuração social da vida sob o capitalismo avançado. O que está em jogo aqui é uma nova condição da existência individual diante do poder cada vez mais omnímodo da lógica social. Diante dessa força concentrada do capital, os indivíduos importam apenas na medida em que desempenham funções sociais, convertendo-se, assim, em entidades tendencialmente fungíveis e substituíveis — ao mesmo tempo que se veem reduzidos a uma dependência crescente da lógica social, pois é esta que dita as condições de autoconservação e de acesso aos meios de vida, mas é ela também que regula a possibilidade de os indivíduos se apresentarem como sujeitos e serem reconhecidos como tal. Essa situação leva a que internalizem a lógica da dominação social até mesmo em seus recônditos mais íntimos. Nesse sentido, é de suma relevância o fato de que o subtítulo de Minima moralia não remeta a uma série de reflexões sobre a vida danificada, mas a partir dela. O intelectual não se coloca aqui numa posição de exterioridade privilegiada em relação ao mundo que critica. O que pode exercer, frente a uma objetividade social implacável e danosa, é a capacidade reflexiva, que abre espaço para um mínimo de liberdade.
O conceito de vida danificada interessa, sobretudo, na medida em que remete ao ponto em que a lógica do sistema social toca as biografias individuais. Esse encontro entre uma lógica social inexorável e os sujeitos vivos, constrangidos a conduzir suas vidas em um quadro de heteronomia, frustra anseios e expectativas, deixando feridas persistentes que frequentemente tardam a cicatrizar. A possibilidade da crítica depende em larga medida do destino dessas feridas e cicatrizes: se se endurecem e se coagulam na forma de ressentimento, levando ao atrofiamento da capacidade de experiência e engendrando lógicas regressivas; ou se, ao contrário, delas pode emergir algo como uma consciência crítica capaz de iluminar novas formas de reflexividade, de práxis e de articulação política. Creio que a ênfase de Adorno na experiência, na consciência e na integridade do indivíduo relaciona-se diretamente a essa problemática, indicando um ponto em que convergem, por um lado, o diagnóstico do antagonismo crescente entre o poder social concentrado e a impotência individual — próprio do capitalismo desenvolvido — e, por outro, o potencial de superação dessa situação. Esse elemento é o dano, que, por certo, nada garante, mas revela que, para os indivíduos, a integração sempre implica mutilação, um certo grau de sofrimento que abre uma fissura através da qual se pode sustentar a crítica e articular a recusa da lógica social. Aqui, os próprios sujeitos vivos, aprisionados em um sistema que simultaneamente os fere e deles depende, convertem-se em campo de batalha entre as persistentes exigências de emancipação — de uma vida digna de ser vivida — e as forças do conformismo e da regressão, cada vez mais solidamente enraizadas na dinâmica social do capitalismo contemporâneo.
BDT: Ainda nesse tema, e como você mesmo mostra, “vida danificada” é um conceito — se quisermos — que Adorno formula nos Estados Unidos e que em grande medida ficou conhecido por dizer respeito aos Estados Unidos. Você morou na Alemanha muitos anos. Morando aqui, mesmo em outro momento histórico, me parece que os excertos de Minima Moralia, a ideia de vida danificada tem muito a ver com a experiência alemã também, você não acha? Lembro-me de uma carta que Adorno envia (acho que para Thomas Mann) quando ele volta da Califórnia para Frankfurt, na qual diz, numa tradução rápida: “o momento de negatividade tornou-se cada vez mais visível [para mim] com a ajuda da Gretel. Não falo aqui tanto de nacionalismo, neofascismo [e] antissemitismo (…), mas sim do fenômeno mais essencial da regressão alemã… (…) Diante de tais inervações, às vezes é difícil afastar o sentimento de futilidade em nossos empreendimentos intelectuais. Em comparação com o que se vê aqui, a Califórnia — contra a qual por vezes me rebelava por sua irrealidade — tem o mérito do absolutamente real. Em outras palavras, já não se está em casa em lugar algum.” Ou seja, a vida danificada está em toda parte, mas como todo autor, Adorno também tem suas particularidades locais. Se, como disse Claussen, os Estados Unidos foram a “torre de observação privilegiada do fenômeno da indústria cultural”, não seria a Alemanha o outro locus privilegiado de observação da “vida danificada” e da regressão a ela associada?
JM: O exílio nos Estados Unidos permitiu a Adorno conhecer de perto a vanguarda do desenvolvimento capitalista naquele momento histórico, que já evidenciava tendências cada vez mais integradoras, ameaçando erradicar inclusive o relativo espaço de liberdade de que os intelectuais haviam podido dispor até então. Daí que, uma vez terminada a guerra, o regresso à República Federal Alemã tenha se tornado para Adorno uma opção atraente: o relativo atraso da província alemã oferecia um maior grau de autonomia para um pensamento orientado pela lógica própria de seus interesses teóricos, intelectuais e artísticos, e não pela inserção na engrenagem da indústria cultural. Você tem, contudo, toda razão em observar que a leitura mais corriqueira tendeu a interpretar esse problema — vinculado à dinâmica expansiva do capitalismo e à sua tendência a subsumir esferas cada vez mais amplas da vida — a partir da desgastada contraposição entre Estados Unidos e Europa, segundo a qual os primeiros seriam a fonte de todos os males e a segunda o refúgio da cultura e do pensamento. Isso não apenas obstrui uma compreensão mais adequada da especificidade da modernização capitalista e de suas variantes locais, como também tendeu a edulcorar a relação de Adorno com a Alemanha. E, não obstante toda a sua inegável complexidade e ambivalência, diria que tal relação esteve longe de ser positiva.
Se existe uma variante especificamente alemã da vida danificada, esta é inseparável da experiência do nacional-socialismo e do extermínio, assim como das condições que os tornaram possíveis. Para Adorno, assim como para a maioria dos autores usualmente identificados com a “Escola de Frankfurt”, a Alemanha jamais deixou de ser o país dos perpetradores. Quase todos estavam plenamente conscientes de que, se haviam conseguido escapar da morte a que estavam destinados pelo regime nazista, isso se devia a circunstâncias mais ou menos fortuitas. Por outro lado, o fascismo fora derrotado militarmente, mas isso de modo algum permitia assumir que suas causas tivessem sido erradicadas. São numerosos os testemunhos do receio com que Adorno e Horkheimer retornaram à República Federal. E, a despeito de todos os seus esforços para reinstalar ali o Instituto de Pesquisa Social, intervir nos debates públicos e contribuir para uma transformação do clima intelectual e político da Alemanha ocidental, há algo de verdadeiro na observação de que jamais regressaram por completo. Mas, para além do que se pode apreender em termos estritamente biográficos, há elementos teóricos profundamente vinculados à densidade das experiências que nutrem o pensamento de Adorno. Quando ele critica, por exemplo, a frieza burguesa, é possível entrever que ele se refere a uma modalidade específica de frieza, que não se configuraria do mesmo modo na França, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. É a isso, creio, que remete o fenômeno da “regressão alemã” na citação que você menciona. E muitas de suas reflexões sobre nacionalismo, fascismo e antissemitismo, bem como sobre certas formas de brutalidade e violência, parecem impregnadas de um timbre especificamente alemão. A frase que encerra o ensaio de Adorno sobre Heine — “a única pátria que resta seria um mundo no qual ninguém fosse proscrito, o mundo da humanidade realmente libre” — expressa uma pretensão de validade universal, mas adquire um sentido mais específico em contraste com a experiência alemã. Infelizmente, duvido muito que essa camada do pensamento de Adorno tenha perdido atualidade.
Por outro lado, considero igualmente decisivo o que Adorno assinala ao final da passagem: que, no mundo contemporâneo, a experiência fundamental do intelectual crítico é a de uma certa condição apátrida, a de não poder sentir-se em casa em parte alguma. Isso implica renunciar ao anseio de abrigo, ao reconforto do familiar ou a qualquer forma de enraizamento positivo em um mundo social danado, danificado e danificador. Tal sensação é dolorosa, mas está indissociavelmente ligada à recusa em reconciliar-se com uma realidade que produz estruturalmente frustração, violência e barbárie. Eu diria que esta é uma experiência medular no pensamento de Adorno. “Quem já não tem pátria encontra na escrita o seu lugar de residência”, lê-se em Minima moralia. A escrita aqui remete também à reflexividade, ao esforço de análise, à tentativa de articular conceitualmente a experiência — o que contribui igualmente para conquistar certa distância diante da realidade objetiva, apreendê-la e captar nela tudo quanto há de ferida, de negatividade. Em outras palavras: diante de uma realidade social atroz, o exercício da consciência crítica converte-se no único lar possível.
BDT: Você também discute a indústria cultural e faz uma sugestão muito importante para entendê-la. Diz que a psicologia ocupa um lugar fundamental na manutenção do capitalismo. Qual é a relevância dessa reflexão de Adorno hoje?
JM: Adorno parte de uma ideia aparentemente simples: no capitalismo, a lógica que rege o processo social pode ter se autonomizado, mas não funciona por si mesma. Ou, como dizia Marx, as mercadorias não podem ir sozinhas ao mercado e trocar-se entre si. Para que o sistema funcione, é necessário que tanto a totalidade social quanto os indivíduos vivos se reproduzam de modo recíproco. Ora, como se dá esse processo? Marx falava dos indivíduos como “máscaras de caráter”, encarnações de funções econômicas, mas é evidente que sua existência não se reduz a isso. Os sujeitos são, antes, entidades cindidas: por um lado, desempenham funções sociais; por outro, são indivíduos vivos, dotados de psicologia própria, movidos também por forças pulsionais. Tal perspectiva remete à não-identidade dos sujeitos consigo mesmos, o que coincide em larga medida com as descobertas da psicanálise freudiana. Daí a importância da psicologia na teoria crítica da sociedade. Sem dúvida, a vida social sob as condições do capitalismo desenvolvido não pode ser explicada em termos meramente psicológicos. As ações e motivações individuais desempenham um papel muito secundário diante dos fatores objetivos, sistêmicos. Mas o elemento psicológico põe em relevo a mediação subjetiva do objetivo. Como formulou o próprio Adorno: dado que a realidade social existente é objetivamente inadequada aos indivíduos, só pode efetivar-se através dos próprios indivíduos, isto é, psicologicamente.
Nesse sentido, a importância da indústria cultural, por exemplo, ultrapassa em muito a mera reificação da cultura com fins comerciais e de entretenimento, o desenvolvimento dos meios audiovisuais ou a expansão de certas formas de “cultura de massas”. A indústria cultural constitui, em verdade, uma instância central de socialização no capitalismo avançado. Assim, o que ela produz não são apenas bens e mercadorias culturais, mas também formas de identificação com a realidade dada, disposições subjetivas, promessas de felicidade, bem como canais de direcionamento para o desejo e o medo — mecanismos que permitem atenuar o antagonismo entre a lógica social e os sujeitos vivos que a sustentam. Deste modo, a indústria cultural engendra um clima no qual os indivíduos podem identificar-se plenamente com seu papel de consumidores e clientes, obtendo ainda um sucedâneo de sentido para vidas marcadas pela desapropriação e pelo trabalho heterônomo. Por isso, Adorno assinalava que o funcionamento da indústria cultural opera com base na especulação sobre os estados de consciência e de inconsciente do público. Em última análise, o que está em jogo nela é o modo como a força socializadora do capitalismo se articula à dimensão psíquico-libidinal dos sujeitos que devem reproduzir sua existência dentro desse sistema.
Todavia, o funcionamento da indústria cultural é apenas um exemplo do esforço de suturar a cisão entre a totalidade social e os indivíduos vivos. Quando a teoria crítica da sociedade incorpora a análise do fator psíquico, o faz a fim de lançar luz sobre as condições subjetivas da irracionalidade objetiva. E, de fato, não faltam indícios dessa irracionalidade na vida social: desde a identificação com líderes fascistas — muitas vezes de traços grotescos, como hoje poderíamos pensar em Trump ou Milei — até a escalada atômica da Guerra Fria, passando pela intensa carga libidinal depositada num time de futebol, ou pelo fato de uma sociedade amplamente racionalizada e cientificizada poder conviver com a institucionalização da superstição em fenômenos como a astrologia. Para Adorno, todos esses elementos são sintomáticos de um estado da consciência e do inconsciente dos indivíduos que não remete propriamente a uma condição psíquica, mas antes a uma situação socialmente produzida. Sua base é a crescente impotência dos sujeitos diante do aparato social do qual dependem suas vidas, o que os leva a buscar estratégias para suavizar o antagonismo com esse aparato e torná-lo suportável. Daí a procura por mecanismos compensatórios, por recursos destinados a restaurar uma autoestima ferida, ou por canais de escoamento da frustração e da agressividade — aspectos todos que se tornam particularmente agudos em momentos de regressão generalizada. Nesse sentido, se transpusermos a análise de Adorno para o presente, poderíamos dizer que quando alguém dá crédito às conspirações do QAnon [o viking do Capitólio], sustenta o negacionismo climático, adere às teorias da “grande substituição” ou justifica a ofensiva contra a chamada “ideologia de gênero”, não o faz com base em uma persuasão racional, mas porque esses fenômenos respondem a necessidades e demandas psíquicas profundamente enraizadas — ainda que em grande parte inconscientes. Longe de constituírem meras “opiniões”, a adesão a tais posições cumpre uma função psíquica, razão pela qual vem acompanhada de uma forte carga afetiva: uma vez convertidas em elemento definidor da identidade, a ferida narcísica que implicaria seu desmentido torna-se intolerável, de modo que os sujeitos nelas se fixam com obstinação crescente. Assim, como assinalava Adorno, o problema não reside tanto no conteúdo frequentemente absurdo das “ideologias” ou “opiniões” dos indivíduos, mas nas condições sociais objetivas que produzem seres humanos fragilizados e dependentes, que respondem a esse tipo de estímulo e dele necessitam.
BDT: Você insiste numa tese muito importante no seu livro. Uma tese que parece evidente, mas está longe de sê-lo: a de que Adorno é um pensador do genocídio. Você comenta a centralidade de Auschwitz em sua obra — uma espécie de sinédoque do genocídio —, mas fala em “repetição” e mostra como Adorno viu, por exemplo, na guerra contra o Vietnã uma continuidade de Auschwitz e, se quisermos, de alguma forma do fascismo, que não era visto por ele como um fenômeno de exceção (tese hoje sustentada por parcela importante da teoria crítica alemã). Nisso, Adorno se diferenciaria também de Horkheimer (que chegou a afirmar de modo extremamente racista que os Estados Unidos eram algo como uma força civilizatória no Vietnã). Hoje, diante do que ocorre em Gaza, diante das deportações em massa promovida por Donald Trump, e da promoção americana de novas formas de colônias penais, qual é a importância de retomar a teoria de Adorno?
JM: Nesse sentido, creio que Adorno é cristalino. O novo imperativo categórico que ele formula na Dialética negativa, e que, segundo ele, se impõe a partir de acontecimentos históricos concretos, é o de “orientar o pensamento e a ação de modo que Auschwitz não se repita, que nada semelhante volte a ocorrer”. Tal imperativo exige a consciência de que o extermínio planejado e sistemático de milhões de seres humanos desarmados e indefesos não constitui um acontecimento único e isolado, mas sim uma possibilidade inscrita na própria lógica da vida social, e, portanto, suscetível à repetição. Auschwitz designa, assim, o momento em que se atravessa um novo limiar na história da violência e da capacidade de martírio das criaturas, acompanhado de uma aptidão crescente dos seres humanos para consentir e tolerar tal grau de horror. Nesse sentido, Auschwitz não foi uma aberração pontual, exclusiva dos campos de extermínio, mas apoiou-se em toda uma série de condições de possibilidade gestadas na própria normalidade cotidiana. De acordo com isso, o que o imperativo categórico de Adorno reivindica não é um culto ritualizado da memória, nem a transformação dos vivos em estátuas de sal petrificadas diante do horror do passado. Exige, antes, que olhemos de outro modo a realidade de onde brotou essa barbárie, que a abordemos sem complacência nem ingenuidade, pois, de outro modo, esse horror pode se repetir. A isso responde a convocação a “orientar o pensamento e a ação” para que nada semelhante torne a ocorrer: trata-se de cortar pela raiz as inércias nas quais se forja esse potencial persistente de barbárie que, a qualquer momento, pode voltar a se efetivar.
Seria possível dizer que, para Adorno, Auschwitz assinala a entrada em uma nova fase da pré-história, que obriga a reconhecer um novo limiar de violência, destrutividade e indiferença latente na vida social — latência essa que hoje irrompe brutalmente à superfície. Vivemos em um período em que a “normalidade” do capitalismo realmente existente se torna cada vez mais excludente e protege seus limites com arame farpado. Daí a criminalização dos migrantes e da pobreza, os centros de detenção que infringem toda as normas legais, mas também as deportações em massa, o sadismo de pintar de preto o muro que separa os Estados Unidos do México [tornando-o mais quente] para que aqueles que tentem escalá-lo se queimem, os milhares de mortos no Mediterrâneo tentando chegar à Europa, bem como o retorno dos pogroms e da caça aberta aos migrantes. Tudo isso ocorre com a conivência ou a inação das populações envolvidas, quase sem encontrar resistências significativas. São acontecimentos que já quase não têm o poder de nos surpreender. Nesse sentido, a teoria crítica de Adorno mostra uma extraordinária capacidade de antecipação desses fenômenos e, embora seu pensamento se inscreva em um momento histórico muito diverso do nosso, oferece instrumentos decisivos para compreender as dinâmicas que sustentam os processos atuais de fascistização — dinâmicas essas intimamente vinculadas ao modo como a lógica da autoconservação opera em um regime de darwinismo social e de luta de todos contra todos.
Em meio a essa conjuntura, considero que o extermínio de Gaza exige atenção especial, pois não envolve apenas o ataque indiscriminado à população civil e a destruição deliberada de todas as suas infraestruturas — inclusive hospitais —, mas também toda uma série de fenômenos concomitantes: a criminalização das agências de ajuda humanitária, o bloqueio da entrada de víveres e bens básicos e a utilização da fome como arma de guerra; a naturalidade com que se convive com ataques sistemáticos às filas nos pontos de distribuição de alimentos; o assassinato deliberado de jornalistas e repórteres; a brutal desumanização da população palestina na retórica da direita israelense; o constrangimento e a chantagem abertos contra aqueles que se recusam a tolerar tais atrocidades; e a criminalização de toda forma de protesto. Chegamos inclusive a ter de conviver com o fato de que, em meio a um massacre sem precedentes — que envolve o assassinato de mais de 60 mil palestinos e a possível expulsão de mais de dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza —, se fale abertamente das imensas oportunidades que oferecerá the Riviera of the Middle East. Isso revela que a barbárie não é uma ameaça futura, mas uma realidade já instalada entre nós, que não cessa de ganhar terreno. O fato de haver quem reivindique a teoria crítica e tente relativizar a gravidade desses processos, minimizá-los ou justificar uma atitude de indiferença em relação a eles, constitui, a meu ver, uma traição sem atenuantes não apenas a essa tradição teórica, mas a qualquer forma de dignidade no exercício do pensamento. Sem dúvida, se há algo que Adorno enfatizou, foi justamente o imperativo de mobilizar todos os recursos do pensamento e da ação contra essas irrupções de barbárie e também contra a tentativa de instalar esse regime de horror e degradação da vida como pura normalidade, como business as usual, como algo que só nos afetaria quando chegasse a “nossa vez”.
BDT: Ainda nessa chave, você também comenta, no livro, a relação entre Auschwitz e Hiroshima — a transição da produção industrial da morte no nazismo para a aniquilação (tecnológica) total. Normalmente, quando discutimos a era atômica na teoria crítica, o primeiro nome a ser lembrado é o de Günther Anders, mas esse é um tópico fundamental para os frankfurtianos. Qual você acha que foi o impacto da bomba atômica na teoria crítica? Qual é o papel da catástrofe, nesse sentido, na obra de Adorno? Lembro-me de uma das perguntas da Marginalia: o que podem as barricadas diante da bomba atômica? Foi esse o grande momento de recuo da esquerda, talvez?
JM: No pensamento de Adorno, os tropos de Auschwitz e Hiroshima aparecem frequentemente associados, sinalizando a entrada em uma fase marcada por um novo potencial de destruição, degradação e aniquilação da vida. Esses nomes revelam igualmente uma transformação substancial na concepção da história, que, depois de Auschwitz e Hiroshima, já não pode mais ser concebida como algo suscetível de “redenção”, de adquirir um sentido positivo ou de justificar, em nome de um suposto progresso, todos os destroços, danos e interrupções que se acumularam em seu curso. À luz dessas catástrofes, o desenvolvimento histórico já não oferece promessa de plenitude nem de avanço, mas evidencia que aquilo que em grande medida sustentava essa expectativa — o desenvolvimento das forças produtivas — não pode mais ser percebido senão sob o signo da ameaça, pois carrega sempre consigo um novo potencial de destruição e barbárie. Diante disso, o que resta é orientar todos os esforços para evitar que o desastre extremo, total e sem paliativos venha a consumar-se. Neste ponto, e a despeito de todas as diferenças pessoais, há uma convergência clara entre as posições de Adorno e as de Günther Anders. Embora seja verdade que, em seu pensamento, as referências a Hiroshima sejam mais escassas, e que sua obra não tenha abordado de maneira sistemática todo o alcance da bomba atômica, muitas de suas reflexões nos anos 1950 e 1960 são formuladas sob a consciência de suas implicações. A bomba aparece, assim, como o epítome da catástrofe a que parece conduzir o curso atual da história: um potencial de (auto)aniquilação que revela a falta de sentido de todo o aparato social de dominação da natureza externa e interna, de toda a lógica da autoconservação, e que expõe de forma incontornável sua dimensão autodestrutiva. É por isso que se pode afirmar que a bomba atômica ocupa um lugar central para compreender a leitura adorniana das transformações do século XX e de suas consequências.
Quanto ao papel da catástrofe no pensamento de Adorno, este deve ser situado em seu marco histórico específico. Não se deve esquecer que sua crítica está ligada ao que hoje consideramos a época de máximo esplendor do capitalismo. Por isso, sua convocação a pensar a realidade à luz de Auschwitz e Hiroshima visa a expor as vergonhas da sociedade de então, a romper a crosta do “sadio senso comum” que banaliza o potencial de aniquilação incrustado no cotidiano e encobre a verdadeira gravidade do que está em jogo. A catástrofe, assim, não é algo que ameaça a partir de um futuro distante, mas algo que já está presente, causando estragos. Isso se reflete, por exemplo, no ensaio de Adorno sobre Fim de partida de Beckett, cuja ação se desenrola após uma espécie de catástrofe nuclear inacabada, na qual a natureza surge devastada e a existência reduzida a uma lenta agonia que nunca se consuma inteiramente. Adorno interpreta a peça como alegoria da situação do pós-guerra imediato, mostrando que, depois de Auschwitz e Hiroshima, a vida continua, mas irremediavelmente danificada. Os sujeitos aparecem mutilados, os velhos vivem em latas de lixo e a história parece ter entrado num estado de paralisia. Remediar tal situação exigiria aquilo que Adorno denomina um sujeito autoconsciente e global, mas esse sujeito não está disponível. Pelo contrário: o que Beckett mostra são apenas restos, fragmentos, materiais de demolição — ruínas viventes da subjetividade.
A referência de Adorno à impotência das barricadas diante daqueles que administram as bombas aponta algo desconfortável para a esquerda, mas infelizmente real: a crescente concentração do poder social, econômico, político, tecnológico e militar altera radicalmente as coordenadas do antagonismo social. Diante do poder do aparato social concentrado — que hoje se sustenta e se fortalece exponencialmente pelo capitalismo digital — os movimentos de oposição encontram-se em posição de extrema fragilidade, mesmo diante do caráter manifestamente catastrófico do presente. Com efeito, o capitalismo contemporâneo já não parece capaz de enfrentar as múltiplas crises — socioecológicas, demográficas, econômicas, de legitimação ou de reprodução social — que assolam a contemporaneidade, mas toda tentativa de pôr em xeque a ordem vigente, a fim de evitar as catástrofes que se desdobram de seu curso atual, depara-se com uma força devastadora, disposta a defender o status quo por todos os meios. A isso se soma a interiorização da dominação pelos próprios indivíduos, que dependem do sistema social para reproduzir sua vida e, em muitos casos, não querem abrir mão das prerrogativas que ele ainda lhes oferece. Nesse cenário, diante de ameaças como a mudança climática e a crise socioecológica, já não basta à esquerda ter a razão ou dispor da evidência empírica a seu favor. Trata-se de uma situação verdadeiramente complexa, para a qual não creio haver resposta melhor do que a antiga máxima adorniana: não se deixar embotar nem pelo poder dos outros, nem pela própria impotência.
BDT: Já que estamos discutindo o marxismo de Adorno, não dá para deixar de comentar o elefante na sala da obra de Adorno: o lugar do proletariado. Você discute longamente esse tema no livro e mostra que, para Adorno, é preciso que a intelectualidade mantenha sua aliança com o proletariado, mas não necessariamente uma identificação com ele. Quer falar mais sobre isso? Como pensar a práxis em Adorno? — a pergunta que todo adorniano precisa, também como marxista, de uma forma ou de outra buscar responder.
JM: É fato que o ponto de partida de toda a teoria crítica frankfurtiana — inclusive a de Adorno — é a constatação da integração social do proletariado, que punha em xeque a velha certeza de que seria ele o sujeito vocacionado a realizar a transformação revolucionária. No entanto, em contraste com algumas correntes contemporâneas de interpretação da crítica da economia política, o antagonismo social ocupa lugar central na compreensão adorniana do capitalismo, e seu pensamento mostra-se profundamente sensível às injustiças de classe. Para Adorno, o capital não é apenas um sistema social autonomizado, condensável na figura marxiana do valor como “sujeito automático”; é, sobretudo, uma lógica social que apenas consegue reproduzir-se mediante o antagonismo de classe. Ao mesmo tempo, Adorno se opõe às tendências de romantizar o proletariado. Ele parte de Marx quando afirma que a condição proletária resulta de processos de expropriação. Ser proletário significa, em última instância, ser compelido a desempenhar uma função — além disso, subalterna — no interior do capitalismo desenvolvido. Não há nisso nada de heroico. Revela-se, antes, uma posição de fragilidade, de dependência: no marco capitalista, os proletários necessitam do capital para reproduzir sua existência. Isso os deixa especialmente expostos à pressão dos imperativos do sistema, à sua coação muda, mas implacável, e imprime sobre eles a marca de todas as mutilações sociais.
É importante considerar o momento histórico em que Adorno escreve. Nas décadas de 1930 e 1940, diante da crescente concentração do poder social, da ascensão do fascismo e do acesso ampliado ao consumo e às contrapartidas estatais, o proletariado já não podia ser concebido como aliado natural da causa emancipatória. Pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, sua posição de debilidade levava-o a perceber mais aquilo que tinha a perder do que o mundo possível a ganhar, o que favorecia tendências conformistas. Consequentemente, a teoria crítica se descobre sem destinatário evidente e, portanto, sem conexão com uma força capaz de incidir na história. É nesse ponto que se enraíza a fratura entre teoria e práxis que constitui sua experiência fundacional. Essa fratura não pode ser resolvida por meio de uma teoria sobre o proletariado nem pela vontade de certos intelectuais de identificarem-se com ele — movimento que, para Adorno, leva necessariamente a uma identificação falhada. Em última análise, no capitalismo o proletariado não está constituído como sujeito histórico consciente e autônomo, mas definido por sua função no sistema, mediada pela expropriação e pela sujeição ao trabalho. Nesse sentido, o proletariado, tal como existe no capitalismo, é produto da dominação social e encontra-se por ela oprimido e subjugado. Por isso, Adorno considera que a solidariedade dos teóricos críticos com o proletariado não pode consistir em converter em virtude sua necessidade, ou em identificarem-se com ela, mas deve partir do reconhecimento de sua posição específica enquanto teóricos e intelectuais — tomando consciência dos elementos que, a partir daí, e ainda que assentados sobre a injustiça de classe, podem ser oferecidos à causa da emancipação. Tal noção é central para Adorno: a consciência necessária a uma transformação social não pode ser considerada como já dada no interior do capitalismo realmente existente. As formas de consciência socialmente estabelecidas são produtos do mundo que deve ser superado e carregam todas as suas marcas. Isso inclui, evidentemente, também a consciência dos intelectuais.
Em suma, o que Adorno indica é que não há um sujeito transformador já disponível com o qual possamos articular uma práxis emancipatória. O que se encontra na vida social do capitalismo desenvolvido é um sujeito mutilado, ferido, amedrontado — e, justamente por isso, muitas vezes atroz, brutalmente competitivo, desconfiado do outro e disposto a quase tudo para afirmar-se ou garantir um mínimo de segurança. Nesse cenário, a práxis consistiria em contribuir para o advento de um sujeito qualitativamente distinto, que ainda não existe. Isso exige uma consciência diferenciada, densa, uma sensibilidade crítica, capacidade de experiência e solidariedade, assim como o combate às tendências regressivas, embrutecedoras e atomizadoras que derivam das inércias da lógica social e que atingem a todos — inclusive os intelectuais críticos. Sem isso, não há emancipação possível. Nesse sentido se compreende a maneira como Adorno entendia sua práxis enquanto intelectual: como resistência frente à barbárie e como preparação para uma práxis futura, que, nas condições vigentes, aparece temporariamente bloqueada, mas de modo algum encerrada. Nada, portanto, lhe era mais alheio do que a resignação. Todavia, creio que é legítimo criticá-lo — como já o fez seu discípulo Hans-Jürgen Krahl — pelo fato de sua teoria crítica elidir a questão de como poderia surgir e organizar-se um sujeito que não fosse apenas individual, mas capaz de articular-se coletivamente e intervir politicamente. O próprio Adorno, em sua polêmica com Lukács, observava que o zoon politikon é algo que ainda não existe, que estaria por ser construído. Tal observação é, sem dúvida, poderosa; contudo, receio que, nesse ponto, seu pensamento não ofereça muito além dessa constatação.
BDT: Para terminar, uma questão pro domo. Você é leitor, comentador e entusiasta da teoria crítica brasileira, e começa seu livro citando a entrevista de Roberto Schwarz sobre Adorno: “o bloqueio da situação revolucionária e a esterilidade da política eleitoral são diagnósticos, não preferências”. Qual é o papel, na sua opinião, da teoria crítica brasileira nessa retomada crítica de Adorno, e qual é a sua importância para a teoria crítica mundial hoje?
JM: A teoria crítica, digna de tal nome, nutre-se sempre de um conteúdo de experiência que remete a um tempo e a um lugar determinados. No caso de Adorno, esse conteúdo era constituído pelas assincronias históricas do capitalismo em meados do século passado, na Europa e nos Estados Unidos, vinculadas à emergência do fascismo, à indústria cultural, às distintas formas de consolidação do capitalismo pós-liberal ou à erradicação da arte de vanguarda. A força vital de seu pensamento provém, em grande medida, da maneira como, a partir desse horizonte histórico específico, atualiza a tradição do pensamento crítico e emancipador para tentar responder a uma situação que já não podia ser pensada apenas a partir dos parâmetros herdados da crítica do mundo burguês. Entretanto, vista sob a perspectiva do capitalismo como fenômeno planetário, a posição de Adorno — apesar de oferecer uma leitura em larga medida correta das tendências evolutivas do capitalismo de seu tempo — não deixa de padecer de certo “provincianismo”.
Não diria, contudo, que tal problema tenha sido superado pela maioria de seus presumidos sucessores em Frankfurt. Nesse sentido, uma das debilidades dos autoproclamados “sucessores geracionais”, que se apresentavam como continuadores de sua teoria crítica, foi carecerem de conteúdo de experiência e ignorarem a substância histórica que a fundamenta. O resultado foi uma relação oportunista e arbitrária com a tradição crítica precedente, além de uma escassa capacidade de resposta aos desafios de seu próprio tempo. Não por acaso, tais propostas funcionavam sobretudo como marcas no mercado acadêmico — “teoria da ação comunicativa”, “teoria do reconhecimento” etc. O problema, porém, não consistia apenas em que pressupunham o abandono de algumas das dimensões mais valiosas do pensamento adorniano — a dialética, a dimensão materialista, a experimentação teórica ou a centralidade da estética. Se a teoria crítica pretende permanecer uma tradição viva, capaz de responder aos problemas da contemporaneidade, não pode restringir-se à exegese de certos autores, tampouco reproduzir esquemas em um tempo que já não é o deles; deve, antes, saber apropriar-se de suas análises para fazê-las operar em circunstâncias historicamente distintas e localmente específicas.
É por isso que considero de especial relevância os desdobramentos surgidos no Brasil para a renovação da teoria crítica, na medida em que não se limitaram a seguir, em posição subalterna, o que se produzia nos Estados Unidos e na Europa, mas lograram revitalizar tal tradição ao colocá-la em diálogo com experiências locais específicas, considerando simultaneamente a sua inserção no capitalismo global. Nesse sentido, a importância das contribuições de Roberto Schwarz me parece difícil de exagerar. Seus textos oferecem um modelo de como dar prosseguimento à teoria crítica a partir de uma experiência concreta da assincronia global, articulando uma compreensão altamente diferenciada das particularidades da modernização capitalista e de suas vertentes culturais e políticas. Diria que essa direção aponta para um caminho fértil de desprovincialização da teoria crítica e de conquista de uma compreensão verdadeiramente global do desenvolvimento diferencial do capitalismo. Esse esforço de pensar conjuntamente a especificidade da modernização periférica e a dinâmica do capitalismo global permite, ademais, uma revitalização produtiva do pensamento dialético. Pois, se a teoria crítica tem condições de adquirir novos impulsos, será a partir do contato com experiências e situações sociais, culturais e políticas concretas — e não mediante a proposta ritualizada de novas etiquetas e conceitos abstratos.
Notas
- A expressão alemã “beschädigt”, presente no subtítulo de Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, foi traduzida em português por “danificada”. Essa escolha visa preservar a densidade material e objetiva do termo, que remete à ideia de dano, estrago, deterioração. Uma vez que, em alemão, esse adjetivo é costumeiramente atribuído a coisas, e não a pessoas, opta-se por manter essa ambiguidade uma vez que o uso intencional dela por Adorno remete também ao processo de reificação. ↩︎
Confira a chamada de artigos para o dossiê “Falar com becos sem saída”: Utopia, Catástrofe e Teoria Crítica, editado por Bruna Della Torre e Nicholas Brown a convite da Constelaciones. Revista de Teoría Crítica, nº 18 (2026). Os textos (escritos em inglês, espanhol ou português) devem ser submetidos até 30 de abril de 2026. Mais informações sobre as normas de submissão no link abaixo:
***
Bruna Della Torre é pesquisadora de pós-doutorado no Centro Käte Hamburger de Estudos Apocalípticos e Pós-apocalípticos da Universidade de Heidelberg, onde também edita a revista Apocalyptica. Integra o comitê editorial da revista Crítica Marxista e o conselho científico de Constelaciones: Revista de Teoría Crítica (Madrid). Em 2023, foi Horkheimer Fellow no Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt (Otto Brenner Stiftung). Realizou pós-doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP sob a supervisão de Jorge de Almeida (2018-2021), com estágio de pesquisa na Universidade Humboldt (anfitriã: Rahel Jaeggi) e no Departamento de Sociologia da Unicamp sob supervisão de Marcelo Ridenti (Fapesp). Doutora em Sociologia (bolsista Capes), mestra em Antropologia Social sob a orientação de Lilia Katri Moritz Schwarcz (bolsista Fapesp) e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, realizou estágio de pesquisa na Universidade Goethe, em Frankfurt e no Departamento de Literatura da Universidade de Duke (anfitrião: Fredric Jameson), com bolsa da Capes. Tem experiência de pesquisa em e organização de arquivos. Com bolsa do DAAD, conduziu pesquisa no Arquivo Walter Benjamin/Theodor W. Adorno da Akademie der Künste, em Berlim, em 2014 e em 2019 e no arquivo de Oswald de Andrade (CEDAE/Unicamp) em 2011 com bolsa Fapesp. Em 2024, fez parte do projeto da International Herbert Marcuse Society de organização dos arquivos de Douglas Kellner, abrigado pela Universidade de Columbia. Foi, entre 2017 e 2018 e em 2021, professora visitante na UNB. É autora do livro Vanguarda do atraso ou atraso da vanguarda? Oswald de Andrade e os teimosos destinos do Brasil. É membra da coletiva “marxismo feminista“.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.