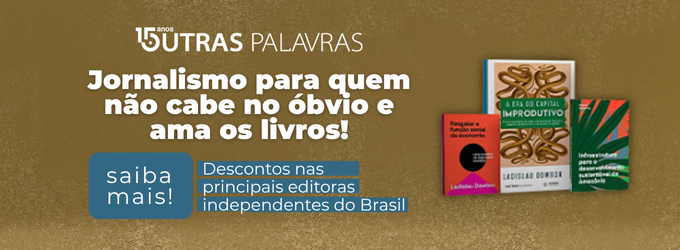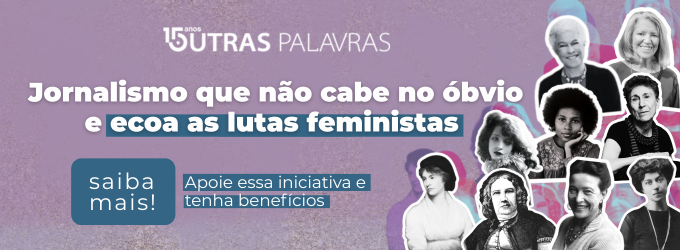Marx e Freud colocam o capitalismo no divã
Um diálogo entre psicanálise e marxismo mostra como apetite pela produtividade e o gozo insaciável são complementares. Conformar-se a uma vida sem sentido leva à (auto)exploração. Autonomia requer reinventar o desejo… e o mundo
Publicado 08/08/2025 às 18:05 - Atualizado 08/08/2025 às 18:10
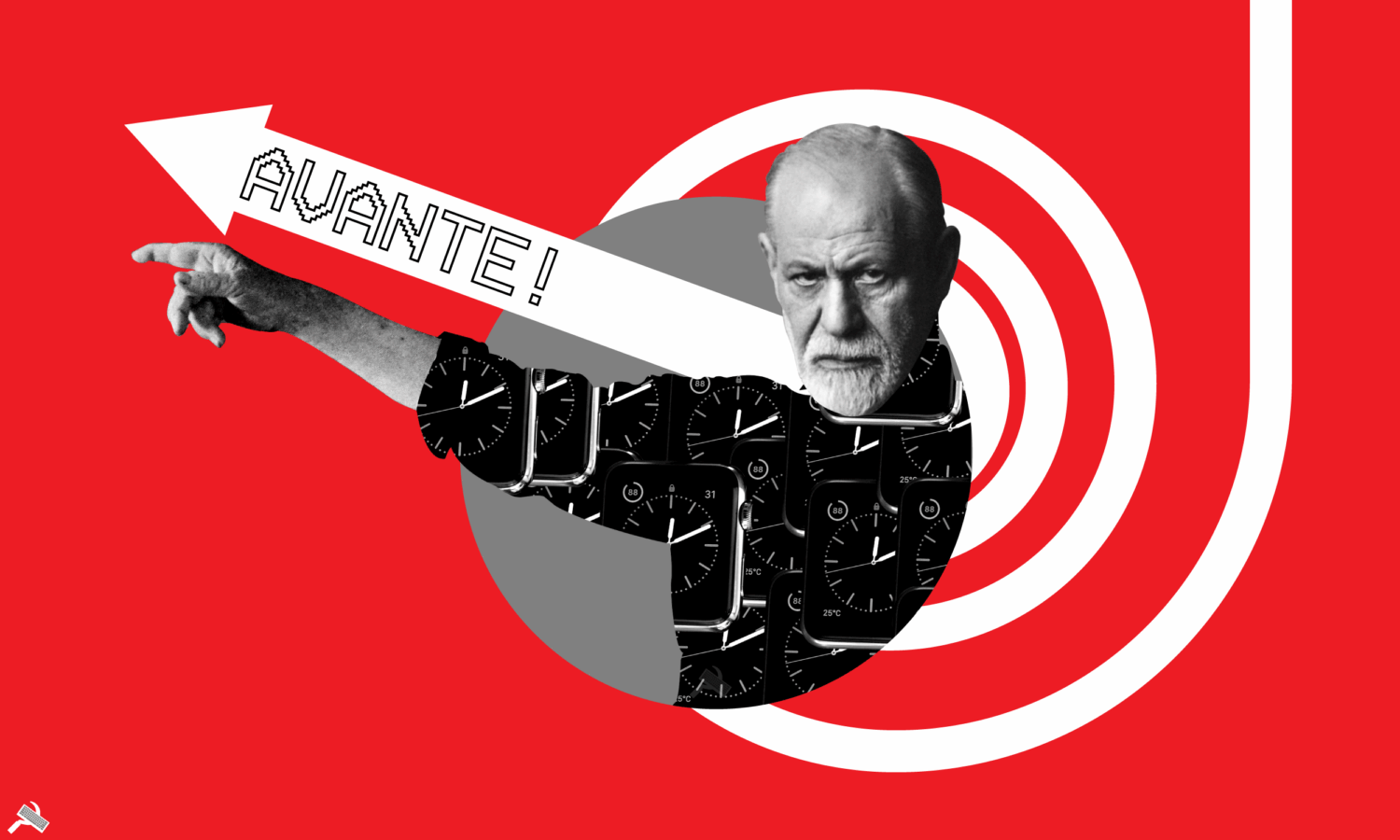
Samo Tomšič em entrevista a Amador Fernández-Savater, no CTXT | Tradução: Rôney Rodrigues
O capitalismo é verdadeiramente uma criação excepcional na história da humanidade. Pela primeira vez, uma sociedade se dedica inteiramente à produção… pela produção em si! Produtividade pela produtividade, para satisfazer uma lógica de lucro insaciável por definição, para a qual tanto faz fabricar canhões ou manteiga, porque tudo vale se puder se traduzir em valor de troca. É o conhecido diagnóstico de Marx.
O problema é que não somos simplesmente vítimas inocentes dessa lógica absurda, mas a reproduzimos cotidianamente como cúmplices necessários. O imperativo de produtividade infinita penetra em nosso interior, através dos complexos mecanismos psíquicos descobertos por Freud e analisados posteriormente por Lacan: o mandato superegoico, a pulsão de morte, o gozo. Más notícias: estamos libidinalmente viciados na roda que nos esmaga.
A acumulação é infinita, e nosso esforço será sempre insuficiente. O Trabalho do Gozo (Paradiso Editores), o último livro do filósofo esloveno Samo Tomšič, retoma o diálogo (difícil) entre Marx, Freud e Lacan para refletir sobre a natureza de nosso mal-estar: em nível individual e coletivo, subjetivo e objetivo, estamos submetidos a mandatos que excluem, por definição, a possibilidade de satisfação, paz ou felicidade na terra.
Psicanálise e política: na complexa zona intermediária
Em que sentido a psicanálise pode ser uma inspiração política, para a transformação social, considerando que trabalha de forma individual, investiga um inconsciente estritamente singular e desconfia do coletivo como “psicologia das massas”?
Há várias boas razões para recorrer à psicanálise em questões de mudança social. Por um lado, a psicanálise aborda a questão da mudança de maneira muito específica. À primeira vista, pode parecer que ela se esforça para alcançar uma mudança individual, limitada apenas às pessoas. No entanto, a complexa relação, e até mesmo a continuidade entre o individual e o social, tem sido um problema crucial para a psicanálise desde Freud.
Basta recordar seu texto sobre a psicologia das massas, que é um escrito fundamental da filosofia política, assim como uma intervenção psicanalítica chave em questões sociais. Nele, Freud analisa a função da libido e dos afetos na formação dos grupos sociais e dos vínculos que mantêm a sociedade unida. Freud mostra que a distinção rígida entre indivíduo e grupo não se sustenta, e que tal diferenciação é sempre meramente provisória. No entanto, isso não significa necessariamente que se possa ou mesmo se deva tratar a sociedade de forma análoga às pessoas, e vice-versa.
O que isso implica, sim, é que devemos nos concentrar na zona intermediária, para compreender o que ocorre sob a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Aqui está outra contribuição chave da psicanálise: ela destaca o problema da resistência e, especificamente, da resistência à mudança. Assim, talvez mais do que qualquer coisa, a psicanálise pode nos ajudar a pensar nos obstáculos com os quais uma política emancipatória inevitavelmente deve lutar ao perseguir seu objetivo de transformação social.
Se não é de continuidade ou de aplicação, que tipo de relação é então a que existe entre psicanálise e política?
Eu levaria a sério a sugestão de Lacan. Em determinado momento, ele argumentou que a análise do “prazer” por Freud é homóloga à análise da produção de mais-valia por Marx. Mais uma vez, a questão aqui não é a similaridade dos dois processos – caso contrário, falaríamos de analogia –, mas sim sua identidade lógica.
Falar de homologia intervém assim na zona complexa que mencionei antes, entre o individual e o social, e se esforça para “desconstruir” essa dicotomia demasiado simples. Uma leitura analógica não faria exatamente isso. Afirmaria a dicotomia e trataria a sociedade como um macroindivíduo e o indivíduo como uma microssociedade. Uma leitura homológica, por outro lado, detecta a mesma lógica na esfera social e subjetiva, sem afirmar que essa lógica seja em si mesma subjetiva ou social. É, em sentido estrito, ambas as coisas.
Para mim, essa leitura homológica faz mais sentido porque implica que a psicanálise não revela mecanismos transhistóricos e transculturais do inconsciente – isso seria uma leitura junguiana –, mas expõe a imersão total dos processos de pensamento no modo de produção social historicamente predominante. Para evitar qualquer mal-entendido, isso não significa que o inconsciente como tal seja capitalista, nem que se livrar do capitalismo significaria se livrar do inconsciente. A homologia significa que nosso modo inconsciente de gozo está, no mínimo, codeterminado, se não sobredeterminado, pela lógica da produção capitalista. Se a ordem social muda, logicamente, os processos inconscientes também mudam.
O mistério do gozo: uma satisfação insatisfatória
Do que falamos quando falamos de gozo (jouissance)? É o mesmo que pulsão? É algo natural ou cultural, biológico ou simbólico? Como foi sua descoberta por Freud em termos de “pulsão de morte” e sua reelaboração conceitual por Lacan em termos de “gozo”?
Há uma grande confusão em torno do termo “gozo”, e essa confusão se refere à tradução do termo freudiano “Lust”. Essa palavra alemã tem sido comumente traduzida como “prazer”, o que não é totalmente incorreto, mas também não é totalmente correto. Uma tradução mais adequada seria talvez “luxúria”, se nos limitarmos ao inglês. O cristianismo sabia que o “gozo” era uma questão de pecado e estava diretamente relacionado à morte, e a psicanálise freudiano-lacaniana certamente adotou essa lição.
Mas voltando à sua pergunta, em Freud e mais tarde em Lacan, “Lust” representa a continuidade entre prazer e desprazer. Em nível consciente, posso experimentar uma atividade como beber ou fumar como desagradável, pode me dar ressaca, mas inconscientemente ainda constitui uma satisfação prazerosa. Isso significa que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo? Bem, sim, mas também significa que há uma dimensão do gozo que me é estranha, embora ocorra em mim. Lacan apontou isso em relação à atividade de falar, repetindo constantemente “ça parle” (o isso fala), o que significa tanto quanto: não posso controlar todos os efeitos da fala. Mas também poderíamos dizer “ça jouit” (o isso goza), ou seja, há um nível de gozo no qual meu bem-estar já não é central.
Aqui é onde entra em jogo a pulsão que você já mencionou em sua pergunta. O gozo não é o mesmo que a pulsão, mas sem dúvida é o objeto privilegiado da pulsão. Em poucas palavras, a pulsão exige prazer, exige o próprio ato da satisfação e, nesse sentido, a pulsão é simbólica, cultural, uma exigência que não para de exigir. Um instinto, por exemplo, é uma exigência que vai e vem, mas a pulsão persiste. Freud descreveu a pulsão como uma “força constante”. No entanto, a pulsão e seu objeto, o gozo, não são simplesmente abstratos, mas também encarnados, materiais, corpóreos, o que, no entanto, não os torna “naturais”.
A hipótese do gozo, conforme você explica em seu livro, questiona algumas hipóteses otimistas como as de Aristóteles ou Adam Smith, que apontam em última instância para formas de harmonia social baseadas no prazer ou no interesse. A descoberta da pulsão seria a “má notícia” que a psicanálise trouxe consigo: não há fim da história, nem equilíbrio possível do social.
Exatamente, a pulsão é precisamente uma força que desfaz constantemente o equilíbrio que, por exemplo, se restabelece provisoriamente uma vez que ocorre uma satisfação. Freud também teve que aprender essa lição. No início, ele concebeu o chamado “princípio do prazer” como um princípio de diminuição da tensão. Quando uma tendência inconsciente – o desejo ou a pulsão – obtém sua satisfação, a afetação do aparato psicossomático diminui, o estímulo irritante é suprimido, e a sensação de prazer é o efeito lógico e corporal dessa diminuição.
Mas uma vez que a pulsão se revela uma força constante – e em Freud ela é entendida assim precisamente a partir da perspectiva da perseverança da pulsão de morte –, isso implica uma perturbação constante no aparato psíquico. A satisfação torna-se dificilmente distinguível da insatisfação, e a pulsão é, em última instância, uma exigência de mais gozo ou, dito de outro modo, uma exigência de satisfação contínua.
Aqui é onde o conceito freudiano de pulsão se aproxima suspeitosamente das descrições de Marx do capital como pulsão de autovalorização, de acumulação, etc. Poderíamos até tomar Marx como um corretivo para Freud neste ponto, já que Marx mostra que existe algo como uma história das transformações da pulsão (ou o que Freud chamava de “vicissitudes” ou “destinos” da pulsão), enquanto Freud tende a pensar a pulsão para além das circunstâncias históricas que determinam seu modo de funcionamento.
Em última instância, Freud reintroduz a referência ao registro da biologia, empreendendo assim uma tentativa desesperada de renaturalizar a pulsão. Mas aqui também a lição a ser extraída não é que “o capitalismo inventou a pulsão” ou algo do tipo. É simplesmente que o capitalismo mobilizou com sucesso – e, ao fazê-lo, transformou – uma força de abstrações simbólicas que em Marx e Freud leva o nome de “pulsão”.
O gozo do capital e nossa insatisfação permanente
O capitalismo impõe o gozo? Ou impõe um tipo de gozo? O mesmo, igualmente, a todos os sujeitos?
O capitalismo impõe um modo específico de gozo, e o exemplo mais batido desse gozo imposto, “padronizado”, seria a forma mercantil e o consumismo. Podemos observar aqui como a satisfação e a insatisfação, o prazer e o desprazer, formam um contínuo. Tomemos novamente o exemplo do tabaco. Não se trata apenas de uma atividade que não serve para nada – não satisfaz nenhuma necessidade “vital” específica –, mas também revela o que é essencialmente o gozo. Lacan diz que o gozo é o que não serve para nada, o que não tem nenhuma finalidade. Assim, em uma atividade como fumar não há nenhuma aparência de satisfação de necessidades, mas pura satisfação da pulsão.
Um exemplo um pouco diferente, no qual teríamos uma aparência de satisfação de necessidades coexistindo com a satisfação no nível do gozo inútil, é a comida rápida. É bastante revelador que o menu de uma cadeia típica de comida rápida consista em um hambúrguer cheio de aditivos e uma bebida carbonatada com excesso de açúcar. Ambos estimulam e satisfazem ao mesmo tempo a necessidade de comer e beber, mas a sensação de satisfação é extremamente efêmera.
Outro exemplo seria a força de trabalho, a mercadoria que todos devemos encarnar no universo capitalista. No processo de trabalho, devemos produzir valor para legitimar nossa existência aos olhos do sistema capitalista. O que está igualmente em jogo nesse processo é o encontro com a demanda insaciável de mais-valia. Essa demanda nunca se satisfaz – se o fizesse, o sistema deixaria de existir – e isso era precisamente o que Marx queria dizer: o capitalista tem uma fome insaciável, “lobuna”, de mais-valia.
Em alemão existe a expressão Heißhunger, que significa algo como apetite voraz ou ânsia por comida, e que pode ser melhor exemplificada em relação à comida junk no consumo individual e ao consumo sistêmico da força de trabalho. Como corpos de trabalho, não somos mais do que comida rápida para o sistema.
O esgotamento psíquico e a insatisfação permanentes que afligem tantos trabalhadores no Norte global têm a ver com essa pinça entre dois infinitos (o infinito do gozo, o infinito da produção) na qual estamos presos? Não se acrescentam hoje novos infinitos: o infinito do digital, das finanças, etc.?
Acredito que é precisamente isso, e não vejo por que o infinito do digital ou das finanças traria algo novo. São expressões contemporâneas da infinitude virtual do simbólico, na qual o capitalismo desdobra seu parasitismo letal. Podemos observar, por exemplo, como as chamadas “redes sociais” – que seriam melhor descritas pelo termo “antissociais” –, desde o X (Twitter) passando por Facebook e Instagram até TikTok e além, acabaram se tornando o melhor ambiente possível para a satisfação dos impulsos agressivos. Seria possível até dizer que essas plataformas digitais são ambientes ideais para a satisfação ininterrupta do que Freud chamava de pulsão de agressividade.
Uma cura política?
Há outros modos de elaborar a pulsão, formas de sublimação emancipadora? Também em nível social ou coletivo?
Claro, a importância da psicanálise nesse terreno segue ligada ao fato de que ela luta por uma transformação do modo de gozo predominante.
Quando Freud falava de “mal-estar” ou “mal-estar na civilização”, ele o associava às exigências impossíveis que a “cultura” moderna – podemos substituir esse termo por “capitalismo” sem prejudicar excessivamente o argumento de Freud – impõe a seus sujeitos. Nesse contexto, Freud também argumentava que a “cultura” se baseia na repressão das pulsões e pode até ser equiparada à “tendência repressiva”. Segundo Freud, vivemos em uma “cultura da repressão”, o que não significa que estejamos isolados de modos de gozo genuínos e autênticos. Em Freud, e isso é o que Foucault não entendeu bem ao criticar a chamada “hipótese repressiva”, a repressão não significa opressão. Em todo caso, a repressão estabelece as bases para a opressão, mas para Freud ela também representa uma organização específica do gozo e um “destino” da pulsão. Essa organização é sem dúvida exploradora, e Freud diz isso claramente.
Mas qual modo de gozo menos explorador seria possível não é uma resposta que se possa esperar da psicanálise. É certo que a repressão é mais propensa a produzir agressividade, tanto psicológica quanto social, e que para a psicanálise a sublimação é uma alternativa à repressão. Mas não é certo que todos os problemas relacionados ao gozo se resolvam com a sublimação. Aqui é onde a psicanálise se aproxima da crítica madura de Marx à economia política: eles não olham para uma bola de cristal para prever o futuro – como será uma sociedade comunista, como se sentirá um modo de gozo não capitalista. Em vez disso, organizam o esforço para resolver a bagunça em que nos encontramos no presente.
Você faz uma analogia entre o “trabalho elaborativo” da psicanálise e o da organização política, ambos “práticas do impossível”. Poderia desenvolver isso? Se o capitalismo explora o “mal-estar civilizatório”, como você diz, poderia se pensar a luta política como uma forma de “cura”?
Bem, não quero dizer que basta olharmos para a prática psicanalítica e encontraremos uma saída para o capitalismo. Em Televisão, Lacan faz a famosa observação: “Quanto mais santos, mais risadas; esse é meu princípio, ou seja, a saída do discurso capitalista, que não constituirá um progresso se ocorrer apenas para alguns”. Não vou entrar em comentários sobre o que “santo” ou “risada” significam aqui, mas me concentrarei apenas na afirmação de que só faz sentido falar em “progresso” – mudança “discursiva” ou “estrutural” no modo social de produção – se ele concernir a todos e não apenas a alguns.
Na história do liberalismo econômico e político, “progresso” é um termo muito problemático, incrustado em um marco ideológico que segrega a humanidade em diferentes grupos (raças, classes), dos quais apenas alguns são supostamente capazes de se desenvolver, enquanto outros ficam estagnados na “barbárie”, no “primitivismo”, na “natureza”, etc. Em outras palavras, presume-se que o “progresso” nunca pode ser “para todos”.
Lacan é, então, um liberal que prega o progresso universal? Não acredito, mas também não acho que ele seja comunista. Aqui é onde entra em jogo a pergunta sobre qual é o objetivo e o produto do trabalho psicanalítico – o que Freud chamava de “trabalhar a fundo” (Durcharbeiten). O que me parece valioso na psicanálise é o aspecto em que ela constitui um vínculo de trabalho muito específico, uma aliança, cujo objetivo é produzir um “excedente”. Esse excedente é a mudança no “modo” ou “organização” do gozo do sujeito. No entanto, a mudança não é tanto um estado ou condição definida na qual se termina, um estado de “felicidade” – outro termo ideológico problemático do arsenal do liberalismo –, mas sim um processo.
Curar significa trabalhar sobre as causas estruturais que condicionam meu sofrimento, e mesmo que seja eu quem fala, não me encontro sozinho no processo de trabalho. Estou em um vínculo social com meu analista, o que significa que há uma dimensão comum em jogo, e o nome dessa dimensão comum é precisamente a mudança estrutural. É nisso que ambos trabalhamos.
Esse modelo pode ser aplicado ao âmbito das lutas emancipatórias?
Tirar essa conclusão precipitada seria idealista. No entanto, não quero excluir a possibilidade de que se possam extrair algumas lições, por exemplo, que é necessário um “trabalho compartilhado” para entrelaçar a multiplicidade das lutas sociais – de âmbitos como gênero, economia, raça, ecologia, etc.– dentro de um horizonte comum de transformação social. Refiro-me à fala de Freud sobre as “profissões impossíveis” (daí a formulação “prática do impossível”) porque o resultado desse “trabalho compartilhado” é aberto, mas também porque as lutas políticas emancipatórias se encontram efetivamente em uma posição impossível ao ter que enfrentar toda a maquinaria sistêmica, sua resiliência estrutural e sua resistência contra uma mudança profunda na forma como praticamos as relações sociais.
Ao mesmo tempo, acredito que a organização das lutas por uma ordem social justa não contém uma visão preestabelecida dessa ordem, mas apenas um conjunto de ideias, estratégias e políticas emancipatórias em constante evolução. Em outras palavras, elas não propõem uma visão “providencial” de um futuro sem atritos, de uma sociedade sem lutas, contradições ou antagonismos. Se assim fosse, seria possível aspirar a uma sociedade imóvel, o que é uma ficção perigosa. Algo análogo ocorre na psicanálise, onde a cura não significa aspirar a um estado em que todos os problemas de nossa existência sejam simplesmente resolvidos e acabemos em uma forma de vida normalizada ou normativa. Pelo contrário, ao introduzir ordem e ausência de atritos em nossas vidas, a psicanálise nos envolve em um novo antagonismo, no qual não nos sentimos necessariamente sozinhos ou abandonados à nossa sorte. Nesse sentido, a psicanálise é também uma prática de solidariedade no sentido forte da palavra.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.