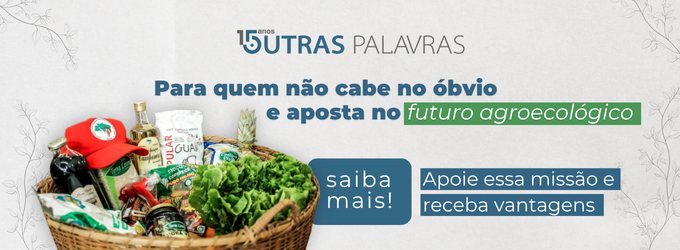Trabalho: Como rimar “autonomia” com direitos?
“Autônomos informais” já são 31,7% da população ocupada – e número tende a crescer. Como garantir direitos frente a transformações geracionais e tecnológicas? Um desafio é sofisticar a CLT, historicamente ligada à carteira assinada, combinando segurança e autonomia
Publicado 06/08/2025 às 17:51

I. Raízes históricas e a formação da consciência trabalhista brasileira
Uma revolução silenciosa está transformando o mundo do trabalho brasileiro. Mais de 32 milhões de trabalhadores — representando 31,7% da população ocupada — atuam hoje como autônomos informais ou empregados sem carteira assinada, segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ABDALA, 2025). Esse fenômeno não representa apenas uma mudança estatística, mas uma transformação profunda na consciência trabalhista nacional que desafia as estruturas estabelecidas há mais de oito décadas.
Para compreender essa metamorfose, precisamos retomar as origens históricas da própria Consolidação das Leis do Trabalho e seu papel na formação da identidade operária brasileira. A legislação trabalhista de 1943, criada durante o governo Vargas, não emergiu do vazio, mas constituiu uma resposta às pressões sociais acumuladas desde o início do século XX. Imigrantes europeus trouxeram experiências organizativas e ideários anarquistas e socialistas que se mesclaram com as particularidades da realidade nacional, criando um caldeirão de transformações sociais.
A construção da consciência trabalhista no Brasil seguiu trajetórias específicas, diferenciando-se dos modelos europeus clássicos. Enquanto na Europa a classe operária se formou por meio de conflitos diretos com o capital industrial, no Brasil a mediação estatal desempenhou papel central desde o início. Edward Palmer Thompson, em sua análise magistral sobre a formação da classe operária inglesa, demonstrou como a consciência de classe emerge das experiências vividas, dos conflitos cotidianos e das redes de solidariedade construídas pelos próprios trabalhadores. No caso brasileiro, entretanto, essa formação foi mediada por um Estado que se apresentava simultaneamente como protetor e controlador dos trabalhadores.
A CLT representou, portanto, um pacto social específico, no qual os direitos trabalhistas foram concedidos “de cima para baixo” em troca da desmobilização política dos trabalhadores. Esse modelo, que historiadores denominam “cidadania regulada”, criou uma cultura trabalhista particular, na qual a carteira de trabalho se tornou símbolo de cidadania e inclusão social. Durante décadas, gerações de trabalhadores brasileiros internalizaram a ideia de que a proteção social estava inexoravelmente ligada ao emprego formal, construindo identidades coletivas em torno dessa institucionalidade.
A aparente solidez desse modelo começou a ruir nas últimas décadas do século XX, quando transformações estruturais no capitalismo mundial questionaram as bases do Estado de Bem-Estar Social. A reestruturação produtiva, a financeirização da economia e a ascensão do neoliberalismo criaram novos padrões de acumulação que tornaram obsoletas muitas das proteções sociais conquistadas anteriormente. No Brasil, esse processo se intensificou nos anos 1990 e encontrou seu ápice na reforma trabalhista de 2017, que fragmentou direitos historicamente consolidados.
As transformações no mundo do trabalho não afetaram apenas as condições materiais de vida dos trabalhadores, mas também sua capacidade de construir narrativas coletivas sobre sua própria condição. A precarização do emprego, a terceirização massiva e a emergência de novas formas de trabalho criaram um cenário de fragmentação social que dificultou a manutenção de identidades trabalhistas tradicionais. Como observa Sandro Sacchet de Carvalho, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, “a precarização é uma tendência que vem sendo observada, com maior ou menor intensidade, desde os anos 90″ (ABDALA, 2025).
II. A nova realidade: plataformas, informalidade e consciência emergente
A crítica contemporânea à CLT expressa nas redes sociais não pode ser interpretada simplesmente como ignorância ou manipulação ideológica, embora esses elementos certamente estejam presentes. Como observa Maria José Tonelli, da Fundação Getúlio Vargas, existe uma “fantasia” social sobre carreiras alternativas como influenciador digital, mas essa fantasia emerge de condições materiais concretas que tornaram o trabalho formal menos atrativo para parcelas significativas da população (RODRIGUES, 2025). A experiência vivida pelos trabalhadores contemporâneos é marcada por jornadas extensas, salários baixos, falta de perspectivas de crescimento e condições que frequentemente desrespeitam sua dignidade humana.
A “plataformização do trabalho” representa uma das faces mais visíveis dessa transformação. Como explica Gilberto Almeida, presidente da Federação Brasileira dos Motociclistas Profissionais, “a grande maioria dos entregadores, para não dizer todos, não tem um controle da jornada de trabalho” e precisa trabalhar “14 horas, 16 horas à disposição da empresa” para alcançar o que um trabalhador formal consegue em oito horas (ABDALA, 2025). Essa realidade demonstra como as novas modalidades de trabalho intensificam frequentemente a exploração ao invés de oferecê-la como alternativa libertadora.
Os dados revelam a profundidade dessa transformação: o rendimento médio mensal de um empregado com carteira assinada (R$ 3.145) é 51% maior do que aquele do trabalhador por conta própria sem CNPJ (R$ 2.084), segundo o IBGE (ABDALA, 2025). Essa disparidade salarial demonstra que a aparente liberdade do trabalho autônomo frequentemente vem acompanhada de perdas materiais significativas, contradizendo narrativas que romantizam essas modalidades de trabalho.
A pesquisa de Arnaldo Mazzei, da FEA-USP, indica que muitos críticos da CLT não compreendem completamente os direitos trabalhistas envolvidos, mas seria reducionista atribuir sua posição apenas à desinformação (RODRIGUES, 2025). Sua rejeição reflete também uma percepção intuitiva de que o modelo de proteção social vinculado ao emprego formal não oferece mais as garantias que prometia às gerações anteriores. A reforma trabalhista de 2017, ao facilitar a “pejotização” e permitir formas precárias de contratação, confirmou essas suspeitas sobre a fragilidade das proteções formais.
O fenômeno da “pejotização” ilustra particularmente bem essas contradições. Como explica Carvalho, do Ipea, enquanto “trabalhadores altamente qualificados como médicos, advogados e até alguns jornalistas podem até preferir ser PJ”, para trabalhadores “não tão qualificados” essa modalidade “representa uma perda de direitos associada à carteira de trabalho” (ABDALA, 2025). A procuradora Priscila Dibi Schvarcz, do Ministério Público do Trabalho, caracteriza essa prática como “um mecanismo voltado a mascarar vínculo empregatício”, demonstrando como empregadores utilizam essas novas modalidades para reduzir custos trabalhistas (ABDALA, 2025).
A emergência das redes sociais como espaço de elaboração de consciência social representa outro elemento fundamental para compreender esse fenômeno. As plataformas digitais criaram novas formas de sociabilidade e construção de narrativas coletivas que escapam aos mecanismos tradicionais de controle social. Quando trabalhadores compartilham seus medos de “ser CLT” ou celebram a autonomia do trabalho como pessoa jurídica, estão construindo novos repertórios simbólicos que desafiam a hegemonia cultural do trabalho formal.
Contudo, essa nova consciência sobre o trabalho desenvolve-se em um contexto de profunda desigualdade social. Como reconhece o próprio material analisado, o modelo formal continua sendo atrativo para trabalhadores de baixa renda devido à “garantia do salário fixo” e ao “acesso a benefícios como vale-alimentação e plano de saúde” (RODRIGUES, 2025). Isso sugere que a crítica à CLT não é universal, mas reflete privilégios de classe que permitem a determinados segmentos experimentar formas alternativas de inserção no mercado de trabalho.
III. Perspectivas futuras e os dilemas da proteção social
A polarização contemporânea sobre a CLT revela tensões mais profundas sobre o futuro do trabalho e da proteção social no Brasil. As posições extremas — tanto a idealização romântica do empreendedorismo quanto a defesa acrítica do modelo formal — obscurecem aspectos fundamentais das transformações em curso. A realidade é que tanto o trabalho formal quanto as alternativas emergentes apresentam limitações significativas quando analisados sob a perspectiva das necessidades humanas fundamentais.
A Pauta da Classe Trabalhadora de 2025, entregue por oito centrais sindicais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, explicita essas preocupações ao reivindicar o “enfrentamento ao subemprego, à informalidade, à terceirização e ao trabalho intermitente” (ABDALA, 2025). Entre suas 24 reivindicações estão a regulamentação dos trabalhos mediados por aplicativos, a valorização do salário mínimo e a redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial, demonstrando que o movimento sindical reconhece a necessidade de adaptar-se às novas realidades.
As empresas de tecnologia, representadas pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), defendem que o trabalho intermediado por plataformas “é uma realidade nova proporcionada pela tecnologia” e não “se configura como uma atividade profissional menos digna do que qualquer outra” (ABDALA, 2025). Segundo a entidade, 2,2 milhões de pessoas trabalham sob essa modalidade no Brasil, e pesquisas indicam que a flexibilidade de horários constitui o principal atrativo dessa atividade.
A experiência do desenvolvedor Victor Macedo, que trabalha remotamente para uma empresa americana como pessoa jurídica, ilustra as possibilidades e contradições desse novo cenário. Sua escolha por recusar propostas de empresas brasileiras com modelo CLT baseou-se em avaliações concretas sobre remuneração e flexibilidade, demonstrando que as decisões individuais sobre modalidades de trabalho são mais complexas do que sugerem os debates polarizados nas redes sociais. Contudo, sua situação privilegiada não é generalizável para a maioria dos trabalhadores brasileiros.
Paradoxalmente, enquanto cresce o número de trabalhadores informais e autônomos, o IBGE registra aumentos no total de empregos com carteira assinada no setor privado. No primeiro trimestre de 2025, havia 39,4 milhões de empregados com carteira assinada, “o maior volume para um trimestre desde 2012” (ABDALA, 2025). Essa aparente contradição sugere que a transformação do mercado de trabalho brasileiro é mais complexa do que indicam análises simplificadas, envolvendo simultaneamente a expansão do emprego formal e o crescimento de modalidades alternativas.
O fenômeno da rejeição à CLT também expõe as limitações do próprio modelo de proteção social brasileiro, historicamente centrado no emprego formal. Em um contexto de crescente informalidade e diversificação das formas de trabalho, a vinculação exclusiva de direitos sociais ao emprego com carteira assinada revela-se cada vez mais inadequada. Isso não significa que a solução seja o desmonte dos direitos trabalhistas, mas sim a necessidade de repensar os mecanismos de proteção social para uma realidade laboral mais complexa e diversificada.
A crítica ao trabalho formal também revela questões geracionais importantes sobre as expectativas em relação ao trabalho. Enquanto gerações anteriores priorizavam estabilidade e segurança, muitos trabalhadores contemporâneos valorizam mais autonomia, flexibilidade e propósito. Essas diferenças não são necessariamente incompatíveis com a proteção social, mas exigem modelos mais sofisticados que combinem segurança com flexibilidade, proteção com autonomia. As transformações tecnológicas intensificam esses dilemas ao criar novas possibilidades de organização do trabalho que desafiam categorias tradicionais.
A discussão sobre o futuro do trabalho não pode ignorar as dimensões de classe, raça e gênero que atravessam essas transformações. A romantização do empreendedorismo e do trabalho autônomo frequentemente obscurece o fato de que essas modalidades são vivenciadas de forma muito diferente por pessoas com distintos níveis de capital econômico, social e cultural. Para uma trabalhadora negra da periferia, “ser PJ” pode significar simplesmente informalidade e desprotegimento, enquanto para um profissional branco de classe média pode representar autonomia e realização profissional.
Do ponto de vista jurídico-constitucional, a atual configuração do mercado de trabalho brasileiro confronta diretamente os princípios fundamentais estabelecidos no artigo 7º da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais uma série de direitos indisponíveis. A massificação de relações laborais disfarçadas sob o manto da autonomia contradiz o conceito legal de empregado previsto no artigo 3º da CLT, que caracteriza como tal “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. A Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ao estabelecer os parâmetros para terceirização lícita, evidencia como o ordenamento jurídico brasileiro procura preservar o vínculo empregatício autêntico, mas encontra resistência crescente na realidade econômica contemporânea.
A análise jurisprudencial revela que os tribunais trabalhistas têm aplicado sistematicamente o princípio da primazia da realidade, consagrado no artigo 9º da CLT, para desmascarar vínculos empregatícios fraudulentamente configurados como prestação de serviços autônomos. Contudo, a sofisticação dos mecanismos de precarização, especialmente através de plataformas digitais, tem criado zonas cinzentas que desafiam as categorias tradicionais do Direito do Trabalho. O artigo 2º da CLT, ao definir empregador como aquele que “assume os riscos da atividade econômica”, torna-se particularmente problemático quando aplicado às relações mediadas por aplicativos, onde a transferência de riscos para o trabalhador constitui elemento central do modelo de negócios.
A deterioração sistemática das condições de trabalho observada nas últimas décadas representa mais do que uma transformação econômica: constitui uma ruptura dos pactos sociais que fundamentaram a ordem democrática brasileira. Quando milhões de trabalhadores se veem compelidos a abdicar de direitos historicamente conquistados em troca da mera possibilidade de sobrevivência, observa-se a emergência de uma nova forma de consciência coletiva marcada pela fragmentação e pela individualização dos riscos sociais. Essa transformação não decorre de escolhas individuais livres, mas da configuração estrutural de um mercado de trabalho que sistematicamente exclui alternativas dignas de inserção laboral.
A construção de uma nova arquitetura de proteção social para o século XXI exige o reconhecimento de que a atual crise não se resolve através da flexibilização adicional de direitos ou da romantização da precariedade. É necessário compreender que as transformações tecnológicas e organizacionais do capitalismo contemporâneo requerem respostas institucionais que preservem a dignidade humana como valor fundamental. O desafio central reside em desenvolver mecanismos jurídicos e políticos capazes de garantir proteção social universal, independentemente da modalidade contratual, reconhecendo que a segurança econômica constitui pressuposto essencial para o exercício da liberdade individual. Nesse sentido, a experiência histórica demonstra que a verdadeira autonomia dos trabalhadores só se realiza quando sustentada por estruturas coletivas de proteção que impeçam a instrumentalização da necessidade humana como mecanismo de rebaixamento das condições de vida e trabalho.
Referências
ABDALA, Vitor. Mais de 32 milhões são autônomos informais ou trabalham sem carteira. Agência Brasil, Rio de Janeiro, 1 maio 2025. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-04/mais-de-32-milhoes-sao-autonomos-informais-ou-trabalham-sem-carteira. Acesso em: 21 jul. 2025.
CAMPOS, Ana Cristina. Lei Brasileira de Inclusão trouxe avanços no mercado de trabalho. Agência Brasil, Brasília, 12 jul. 2025. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2025-07/lei-brasileira-de-inclusao-trouxe-avancos-no-mercado-de-trabalho. Acesso em: 22 jul. 2025.
RODRIGUES, Jayanne. Por que jovens debocham da CLT nas redes sociais, desprezam direitos e dizem que é melhor ser PJ. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jul. 2025. Disponível em: https://www.estadao.com.br/economia/clt-jovens-criticam-carteira-assinada-redes-sociais/?utm_campaign=clipping_de_noticias_-_18072025. Acesso em: 20 jul. 2025.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras