Crônica: O vazio que a cidade dos pássaros deixou
Sepultam-se rios. Onde adultos pescavam e moleques caçavam passarinhos. Muitos não se lembram ou nunca os viram. Viram linhas-retas, concreto, enchentes… Função; não a natureza. Mas a literatura faz com que nunca nos esqueçamos do lugar que nos foi roubado…
Publicado 30/07/2025 às 17:40 - Atualizado 30/07/2025 às 17:42

Este texto é um texto-reflexão sobre o livro A cidade das aves, de Tereza Andrade, publicado pela Editora Lamparina. Confira outros títulos da editora
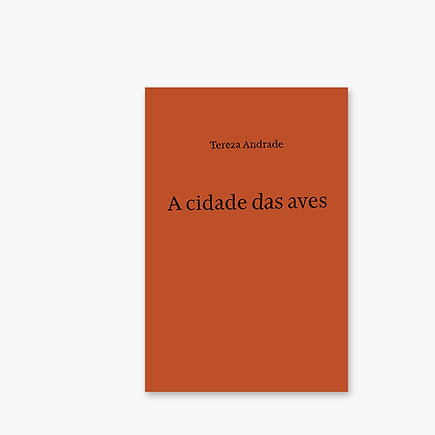
Tereza, vc me pergunta sobre se li o seu livro e o que achei dele? Sim li, parando, vendo vc correr, sentir os cheiros e ver seu Paranapanema, o rio de muitas corredeiras e itaipavas. Um rio que já não é mais um rio inteiro, agora já lago, muitos lagos. Achei dentro dele muitas das minhas memórias, um pouco fora do seu tempo, do tempo de seu livro. Sem me dar conta, saia do livro e lá estava eu na pequena chácara onde cresci nos anos de 1960, periferia da cidade de Tupã, uma dessas outras tantas construída sobre os destroços dos grupos indígenas e da floresta, dos córregos, dos animais e pássaros que lá viviam. Como periferia, nos fundos daquele pequeno terreno, quase um hectare, corria um pequeno córrego, que lá pelas alturas do final dos anos de 1960 havia se tornado uma imensa voçoroca, aberta pelas enxurradas provocadas pelas chuvas que desciam do centro da cidade.
Já adulto, muitas cidades depois, tendo posto o traje de historiador escrevi sobre aquilo. Uma parte vc leu no livro Cidades e sertões, outras ficaram por contar. Assim narrei aquele meu encontro com o córrego dos fundos da nossa chácara, quase 40 anos após.
“Quando em 1964, mudamos, minha família e eu, da zona rural do município de Tupã para uma chácara na periferia da cidade, havia um riacho correndo no fundo do terreno. Meio metro de profundidade e não mais do que dois metros de largura. Nascia, nasce, perto de uma escola onde estudei meus primeiros oito anos de vida escolar. Pulei, andei, catei pedras em seu leito, pesquei lambaris, cascudos e caçamos preás, quase sem sucesso. Muitas vezes levamos os animais domésticos, vacas e cavalos, para beber de suas águas. Quando chovia tornava-se caudaloso, mas não era, ainda, uma ameaça às crianças. Não havia notícias de afogamento, era realmente um pequeno riacho. Naquele momento, metade da década de 1960, a maior parte dos habitantes do município ainda morava na zona rural. A cidade era um local para as compras semanais, as missas mais importantes, registros de casamentos e nascimentos, lugar de negócios, máquinas de beneficiamento de café, comércio. A política de erradicação da cafeicultura promovida pela ditadura militar, baseado no falso pressuposto de ser antieconômica, pôs em marcha os homens do campo em direção a cidade. Quase 40 milhões de brasileiros trocaram o campo pela cidade pequena, e cidade pequena pela grande cidade entre 1960 e 1980. Em meados dos anos de 1970, o pequeno córrego havia transformado seu leito e suas margens em uma imensa voçoroca através das enxurradas que desciam da cidade alta provocadas pelo aumento da impermeabilização de ruas e quintais, destruição dos últimos vestígios de matas ciliares e loteamos nas suas cabeceiras. O curso do córrego havia se transformado num canal para as águas das chuvas e do esgoto da cidade. O riacho se vingou arrastando as margens e o que havia nelas. Quando chovia, ele se transformava em uma torrente de águas barrentas, perigoso, intransponível. Várias vezes as pequenas pontes e pinguelas foram carregadas pelas águas das enchentes. Surgiram, então, as promessas de sua canalização, o seu controle. Quando no final dos anos de 1970 mudamos da cidade, continuavam a campanha e as promessas. Duas décadas após, retornei. As margens da imensa voçoroca foram desbastadas e contidas com gramas. Os moradores das margens do antigo córrego perderam cerca de 50 metros de terreno para poder “urbanizar” o córrego. Lá no fundo, agora com cerca de 20 metros de profundidade, corre ainda aquelas águas que um dia foi um riacho. Não existem mais peixes, não é mais possível caminhar por suas águas. Os homens eliminaram mais um córrego.
Assim tem sido e os habitantes das cidades desse início do século XXI, cidades grandes, médias e pequenas, quase não se lembram, ou nunca viram, os córregos, riachos e rios que existiam onde hoje se encontram os monumentos da conquista. Em muitas regiões, altamente urbanizadas, os córregos, riachos e rios desapareceram de nossas vistas, transformaram-se em canais, foram tampados, escondidos, transpostos por pontes, canalizados para evitar as enchentes. Mais longe, os rios, os grandes e pequenos, são interrompidos por barragens para que a força da correnteza movimente turbinas e satisfaça a nossa insaciável fome de energia.
Os que habitam as pequenas cidades, ou que são mais velhos, podem ainda se lembrar em quantos córregos entraram, mergulharam as mãos e, muitas vezes, com suas águas mataram a sede. Alguns ainda se lembram que pescavam ali, onde havia um córrego, hoje uma avenida. Muitos viajam centenas de quilômetros para pescar, mas não encontram mais o rio de sua aldeia. Encontram o Tejo que vai para o Mar, o rio da história. Não vemos mais o córrego de nossa aldeia, pensamos no grande rio que corre atrás das montanhas, nas hidroelétricas, no abastecimento de água, nas águas calmas e plácidas vistas das varandas das casas as margens das represas, no descanso dos fins de semana. Não conseguimos ver a natureza dos rios, vemos as suas funções, mas ele lá está, onde estava há muito tempo antes de nós.”
Seu livro Tereza, suas memórias de um rio, de córregos, das águas, levaram-me para lugares que tinha esquecido, ou não tinha notado à época. O interior das casas, as conversas entre mulheres, a cozinha… lembrei-me do fogão a lenha, revestido com cimento vermelho, a cozinha, ou o alpendre (será que usávamos esta palavra?) de fora, abrigada por um xadrez de ripas de madeira, pintadas de verde escuro. Lá fica o poço, ainda com sarilho. Um paneleiro de alumínio com ganchos para dependurar as panelas e frigideiras. Depois apareceu um fogão ‘geral’, a lenha mas todo em ferro, branco com detalhes em rosa e azul. Tinha um reservatório de águas quentes, forno, etc. O velho fogão ainda continuou lá, ao seu lado.
Então essas memórias, as suas memórias, são de um espaço aos quais os homens, mesmo um menino, não se lembrava, ou não prestava atenção. Afinal, os ‘muleques’ iram ao exterior, caçar passarinhos, prender passarinhos, também trabalhar, mas o mundo de fora era o espaço desse tempo para os meninos.
Assim, Tereza, esse livro é um ‘relicário’, algo que se guarda na cabeceira e se pede, toda a noite, que não nos esqueçamos do lugar que nos foi roubado..
Abraços
Gilmar
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras



Gilmar Arruda. Li seu material sobre a cidade e os pássaros , num comentário sobre “A cidade das aves”. Muito bom! Me levou para minha infância!
Lá onde plantamos os sonhos, onde , entre caranguejos e besouros, expulsei piratas e aprendi a escrever aos 4 anos, no colo de minha mãe . Obrigado.
Se você conseguir envie-me seu contato. Abraços.