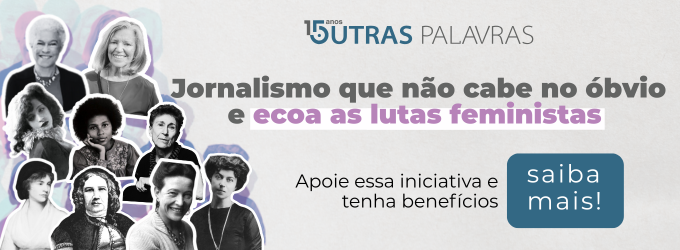Saneamento: assim age o racismo ambiental na Amazônia
Desapropriações, migração forçada e urbanização caótica são as marcas do “desenvolvimento” da região, que exclui do saneamento a maior parte dos não-brancos. Tecnocracia tenta esconder a injustiça. Cartografar, nomear e enfrentar – esse é o começo da mudança
Publicado 25/07/2025 às 17:52

O saneamento básico no Brasil não é somente um desafio técnico ou orçamentário: trata-se de uma profunda ferida social que revela um país ainda marcado por desigualdades históricas, racismo estrutural e negligência institucional. Na Amazônia, em particular, o déficit de infraestrutura sanitária representa mais que ausência de políticas públicas: simboliza a continuidade de um modelo excludente que desumaniza populações inteiras com base em sua origem étnica e localização geográfica.
O acesso à coleta e tratamento de esgotos; água potável; e a coleta e destinação adequada de resíduos sólidos não podem ser desvinculados dos direitos humanos fundamentais. A precariedade nesses serviços compromete a saúde, a educação, a moradia, o meio ambiente e, por consequência, a cidadania plena de milhões de brasileiros. No entanto, não se trata apenas de um problema de infraestrutura: trata-se da forma como o Estado escolhe, consciente ou inconscientemente, tratar diferentes grupos populacionais. A prova disso é que os locais onde vivem as populações em processo de vulnerabilização social são os que mais carecem dos serviços de saneamento básico.
Ao analisarmos o saneamento à luz da teoria das capacidades de Amartya Sen [economista e filósofo indiano, com importantes estudos a pobreza e o subdesenvolvimento], percebemos que a ausência desses serviços básicos compromete o desenvolvimento humano e social. Mas quando adicionamos à equação a dimensão racial, o cenário se agrava. O conceito de racismo ambiental, como apontam autores como Bullard, Selene e Filgueira, revela que as populações negras, quilombolas, indígenas e ribeirinhas são desproporcionalmente mais afetadas pelas mazelas ambientais e urbanas — não somente por ações diretas, mas também por omissões sistemáticas do poder público.
O racismo ambiental se manifesta quando comunidades não-brancas são submetidas a viver em áreas degradadas, sem acesso a recursos essenciais. Como bem aponta Milton Santos, essa lógica é também espacial: o território é usado como marcador de exclusão. A periferia urbana e a zona rural se tornam territórios de sacrifício, nos quais o Estado age menos — ou age em favor do capital, promovendo deslocamentos forçados e negligência institucional.
No Pará, os dados confirmam o que os olhos veem: municípios com as piores taxas de acesso à água potável e esgotamento sanitário têm população majoritariamente negra. Essa realidade se repete tanto nos menores municípios quanto nos mais populosos. A ausência de políticas para a zona rural, agrava ainda mais a exclusão, ao privilegiar áreas com maior potencial de retorno econômico.
O modelo de desenvolvimento imposto à Amazônia, desde o período colonial até o atual ciclo de grandes obras e exportações de commodities, tem sistematicamente deslocado e empobrecido suas populações originárias. A modernização, neste contexto, tem sido uma cortina de fumaça para aprofundar desigualdades e transferir riqueza para fora da região. Como lembra Violeta Loureiro, a Amazônia segue sendo tratada como “celeiro da nação” enquanto sua população permanece excluída dos direitos mais elementares.
A realidade amazônica, marcada por desapropriações, migrações forçadas e urbanização caótica, resulta em um quadro alarmante de injustiça ambiental. Famílias negras e indígenas são alocadas em áreas sem qualquer infraestrutura, tornando-se alvos fáceis da degradação ambiental e da violência urbana. E o Estado, ao ignorar a especificidade dessas populações, contribui ativamente para esse ciclo de exclusão. Quando não é obrigada a migrar, convive com a violência no campo, capitaneada por grandes prioritários de terras. Enfrentam o garimpo ilegal em terras indígenas e áreas de preservação ambiental com uso de mercúrio e outras substâncias tóxicas. Tudo isso associado ao trabalho análogo à escravidão, tráfico de pessoas e exploração sexual.
É preciso, portanto, descolonizar o pensamento e reconstruir as políticas públicas sob uma perspectiva verdadeiramente inclusiva. Isso exige reconhecer que o saneamento é, antes de tudo, uma questão de dignidade humana. E que todas as pessoas, independentemente da capacidade de pagamento e dos locais e condições de moradia, têm pleno direito a acessar o saneamento básico.
A pergunta que se impõe, diante de tanta evidência, é: estamos dispostos a cartografar, nomear e enfrentar o racismo ambiental no saneamento básico? Ou continuaremos a mascarar a injustiça sob o véu da tecnocracia?
A resposta exigirá coragem política, compromisso ético e ruptura com um modelo de desenvolvimento que, até hoje, produz riqueza para poucos e miséria para muitos. Enquanto isso não acontecer, o saneamento seguirá sendo um espelho cruel de quem somos — e de quem escolhemos deixar para trás.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras