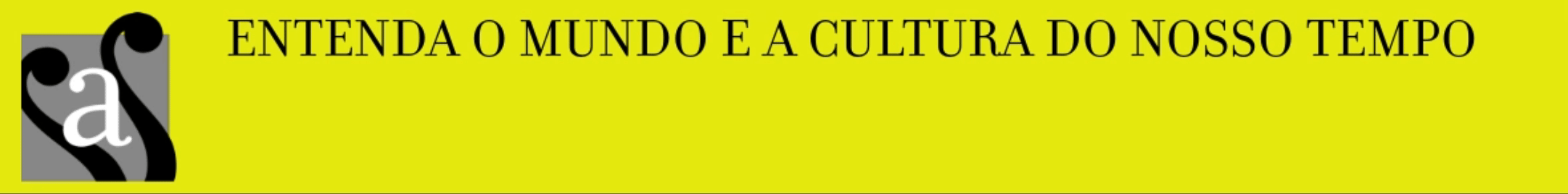Piketty: EUA em fragilidade histórica
Trump comanda uma economia em desvantagem sem precedentes – por isso agride com tarifas. E a história mostra que as contradições do “livre comércio” podem levar a hegemonia do dólar à ruína. Para evitar cicatrizes, países deveriam parar de ceder às pressões da Casa Branca
Publicado 14/07/2025 às 17:57
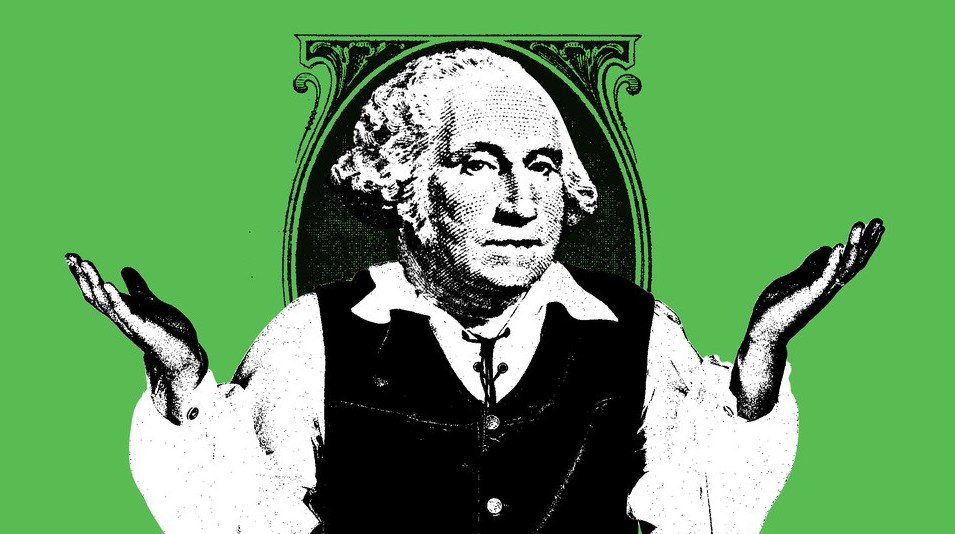
Por Thomas Piketty, em A Terra é Redonda
Como devemos analisar a nova onda de tensões comerciais que atingiu o mundo em 2025? Para entender melhor as questões em jogo, o World Inequality Lab publicou recentemente um estudo histórico sobre os desequilíbrios comerciais e financeiros globais desde 1800, intitulado “Troca Desigual e Relações Norte-Sul: Evidências dos Fluxos Comerciais Globais e da Balança de Pagamentos Mundial 1800-2025”.
Várias conclusões são claras. Em geral, a ideia de um livre comércio espontaneamente equilibrado e harmonioso não resiste a um exame minucioso. Desde 1800, há desequilíbrios maciços e persistentes, e uma tendência recorrente das potências dominantes de abusar de sua posição para impor termos de troca que as favoreçam, em detrimento dos países mais pobres.
A novidade da crise atual é que os Estados Unidos vêm perdendo o controle do poder global e agora se encontram em uma situação de fragilidade financeira sem precedentes. Isso explica a agressividade do governo Trump. No entanto, ceder às exigências, como os europeus acabaram de fazer em relação aos orçamentos militares (que são, em grande parte, transferências para a indústria de defesa dos EUA) ou à tributação multinacional, é a pior estratégia possível.
É hora de a Europa se livrar da complacência e unir forças com as democracias do Sul Global para reconstruir o sistema comercial e financeiro em apoio a um modelo diferente de desenvolvimento.
Déficit comercial permanente
Primeiro, lembremos que os fluxos comerciais nunca foram tão altos quanto hoje. As exportações (e importações) totais agora representam cerca de 30% do produto interno bruto (PIB) global, com 7% para matérias-primas (agrícolas, mineração e combustíveis fósseis), 16% para produtos manufaturados e 7% para serviços (turismo, transporte, consultoria, etc.).
Em comparação, os fluxos comerciais eram cerca de 7% do PIB global em 1800, 15% em 1914 e 12% em 1970 (dos quais 4% eram para matérias-primas, 5% para produtos manufaturados e 3% para serviços). O aumento observado desde 1970 tem sido estonteante em todos os setores – com uma pegada material e danos ambientais que estamos apenas começando a perceber.
É frequentemente apontado que o comércio mundial se estabilizou como uma porcentagem do PIB global desde a crise de 2008. Isso é verdade, desde que se especifique que se trata de uma estabilização no nível mais alto já registrado na história.
Vamos analisar os desequilíbrios. O fato básico é bem conhecido: entre 1990 e 2025, os EUA registraram um déficit comercial médio anual (bens e serviços combinados) de cerca de 3% a 4% do seu PIB. Os superávits do país em serviços têm sido pequenos demais para compensar os enormes déficits em produtos manufaturados. Esse fato às vezes provoca descrença: como a potência dominante pode manter um déficit comercial permanente?
Na realidade, essa é a norma histórica. De 1800 a 1914, as potências europeias – lideradas pelo Reino Unido – registraram déficits comerciais permanentes. Os superávits em produtos manufaturados e no transporte marítimo foram amplamente superados pelos vastos fluxos de matérias-primas do resto do mundo (algodão, madeira, açúcar, etc.), embora estes fossem mal compensados.
Entre 1880 e 1914, as principais potências do continente (Reino Unido, França, Alemanha) registraram déficits médios anuais da mesma ordem de magnitude que os dos EUA entre 1990 e 2025.
A diferença é que as potências europeias detinham então possessões ultramarinas que geravam enormes receitas anuais – o equivalente a 10% do PIB do Reino Unido e mais de 5% da França. Isso lhes permitia financiar facilmente seus déficits comerciais enquanto continuavam a acumular dívidas em todo o mundo.
Em contraste, os ativos dos EUA no exterior nunca geraram renda suficiente para compensar seus déficits, deixando o país com um nível de dívida externa sem precedentes. A potência militar dominante no mundo poderá em breve se ver obrigada a pagar juros substanciais e de longo prazo ao resto do mundo, algo nunca antes visto na história. Esta é a fonte da ansiedade trumpista e das tentativas desesperadas de seus seguidores de extrair riqueza do resto do mundo, à força, se necessário.
Financiando um modelo mais sustentável
Um argumento usado para justificar tal extorsão é que o país fornece um bem público global gratuito: uma moeda estável e um sistema financeiro sólido. O resto do mundo, portanto, acumula ativos em dólares – dívida pública e ações – que elevam o valor da moeda americana e alimentam o déficit comercial dos EUA. Na realidade, o dólar já rendeu aos EUA muito mais do que deveria. Mesmo assim, vale a pena considerar o argumento, especialmente porque pode levar a soluções muito diferentes daquelas defendidas pelos trumpistas.
Na prática, os enormes excedentes dos países produtores de petróleo nas últimas décadas são explicados principalmente pelo seu sucesso em triplicar os preços na década de 1970, enquanto o resto do mundo continuou a consumir combustíveis fósseis, independentemente das consequências futuras.
Os excedentes industriais da China, Japão e Alemanha podem ser explicados, em parte, pelos salários excessivamente baixos e pela opção de acumular riqueza no exterior, alimentada por um sentimento de vulnerabilidade ao sistema financeiro internacional e pela ausência de um ativo de reserva global.
Diante dos desequilíbrios globais, a resposta correta seria estabelecer uma moeda comum indexada às principais moedas, permitindo que o mundo se liberte do dólar e melhore os termos de troca para os países mais pobres, tudo com o objetivo de financiar um modelo de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Esperemos que a brutalidade de Donald Trump ao menos acelere essa concretização.
Thomas Piketty é diretor de pesquisas na École des Hautes Études en Sciences Sociales e professor na Paris School of Economics. Autor, entre outros livros, de O capital no século XXI (Intrinseca)
Tradução: Artur Scavone.
Publicado originalmente no jornal Le Monde.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras