“Passeio ao redor do livro”
Um e-book gratuito explora relações entre literatura e sociedade – do simbolismo a nossa época de fake news. Sugere: os textos têm consequências perigosas, pois mostram as disputas pelo sentido e controle da mudança social
Publicado 04/07/2025 às 18:26

Este texto é o prefácio de A sociedade dos textos dois, organizado por André Botelho e Alexandre de Bastos Pereira, o oitavo volume da BVPS Coleção, composto inteiramente por textos inéditos. Clique aqui e baixe gratuitamente o e-book. Outros títulos da Coleção podem ser conferidos aqui. O Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS) é parceiro editorial de Outras Palavras. Leia outros textos
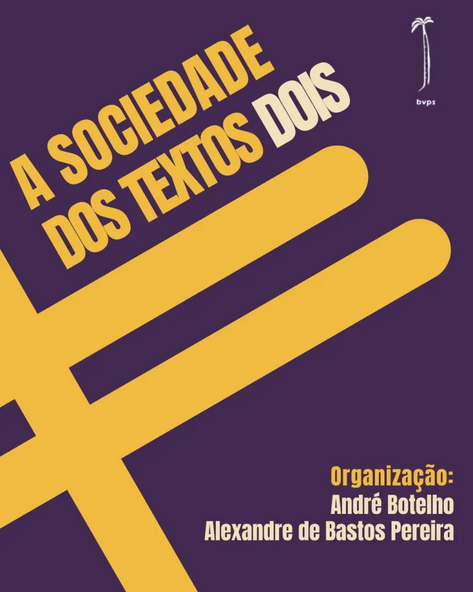
Ler, ler um livro é, como todas as outras ocupações propriamente humanas, uma tarefa utópica.
José Ortega y Gasset, “Que es leer”, 1946.
Apresentar este livro, que reúne ensaios de jovens pesquisadores vinculados à área de pensamento social brasileiro, é também uma oportunidade de refletir sobre um programa de ensino e pesquisa desenvolvido ao longo de mais de vinte anos. Como ressaltam os organizadores na apresentação, esse programa tem lugar no Núcleo de Estudos Comparados e Pensamento Social (NEPS), sediado na UFRJ e, mais recentemente, na UFF e na UFRRJ. No entanto, ele remete a outras instituições e experiências anteriores, até hoje profundamente inspiradoras, como as pesquisas de Elide Rugai Bastos e seu grupo na Unicamp. Afinal, como sempre lembra um amigo do grupo, Arcadio Diaz-Quiñones, começar nunca é partir do zero. Destaco ainda a importância dos GTs e CPs de pensamento social brasileiro da ANPOCS e da SBS, nos quais muitas das ideias discutidas pelo grupo foram testadas e debatidas, por vezes em acaloradas polêmicas. Nos últimos anos, parte significativa dos esforços do NEPS concentrou-se em sua iniciativa irmã, a Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS), em especial em seu Blog, voltado à prática da comunicação científica. Na BVPS, a participação de jovens pesquisadores, como os que publicam nesta coletânea, tem sido central. Muitos deles, inclusive, colaboram ou colaboraram em diferentes frentes, da equipe editorial ao trabalho nas mídias sociais.
Pensar em uma “sociedade dos textos” é também pensar nas formas de sociabilidade que se constroem ao redor dos textos e na socialização a partir deles. Por isso, destacar a importância de um Núcleo de Pesquisa não significa apenas apontar para uma instância da estrutura acadêmica. Gostaria, assim, de começar com uma observação mais pessoal, embora enraizada em experiência profundamente coletiva. As primeiras lembranças de minha participação no NEPS, antes mesmo de sua existência formal, diga-se, e quando eu ainda era aluno de graduação no IFCS/UFRJ, remontam aos grupos de leitura coordenados por André Botelho. As discussões giravam em torno de textos bastante diversos, alguns diretamente vinculados às pesquisas em andamento, como a leitura de Populações meridionais do Brasil, de Oliveira Vianna; outros, a obras de ficção. Recordo, em particular, um grupo dedicado aos primeiros romances de Machado de Assis, no qual lemos A mão e a luva, Helena e Iaiá Garcia. Participavam desse grupo, entre outros colegas, todos os orientadores dos trabalhos reunidos neste segundo volume de A sociedade dos textos – Antonio Brasil Jr., Lucas Carvalho e Maurício Hoelz, então ainda alunos de graduação ou mestrado. Foi igualmente marcante, nesse percurso, a disciplina optativa sobre Sociologia da Literatura, ministrada por André Botelho.
Às rodas de discussão e orientação que tínhamos quase semanalmente se seguiam outros encontros, especialmente nos bares do centro do Rio de Janeiro. Mas também se seguiam outros textos, e a produção de textos sobre textos. Ler literatura de ficção em um curso de ciências sociais, mesmo quando nenhum de nós estudantes de graduação pesquisava isso diretamente, não era um exercício de diletantismo, mas uma forma de entender a importância das variadas formas de escrita, a força social das ideias e a relação entre textos e contextos. Não por acaso, foi já naquele momento que começamos a escrever e publicar nossos primeiros artigos sobre o tema, na então revista de graduandos em ciências sociais da UFRJ, a Habitus. Lembro particularmente de dois: Maurício Hoelz, Heloisa Helena Santos e outros colegas de curso escreveram sobre como, segundo a teoria de Niklas Luhmann, o romance contribuiu para a constituição e adaptação do código do amor às exigências da sociedade moderna marcada pela diferenciação funcional. Já Alexander Englander e eu nos debruçamos sobre as “teorias do romance” de José Ortega y Gasset e Georg Lukács, procurando entender as relações entre a forma romance e a emergência da modernidade.
A socialização entre textos acadêmicos e ficcionais era uma forma de educação do olhar para perceber em livros, artigos, poemas, matérias de jornal, narrativas de viagem, entre outros, muito mais do que esses suportes pareciam dizer. Não se tratava exatamente da revelação de um “segredo”, como em um exercício esotérico, mas da compreensão de que textos estão atravessados por relações de ordens variadas. E para construir essas relações (ou, como se dizia frequentemente em nossos debates, para estabelecer os termos da mediação) era necessário aprender a fazer boas perguntas para os textos. Mas como construir essas perguntas? É aí que entrava o percurso pelos debates teóricos e metodológicos, que aos poucos se descortinavam.
Creio que cada um dos trabalhos de pesquisa que surgiram a partir dessa experiência, seja de André Botelho, seja de seus então orientandos, passou a formular perguntas diferentes aos textos. Desde o início, no entanto, havia três questões gerais que nos mobilizavam e seguem nos interpelando, como podemos ver no segundo volume de A sociedade dos textos. A primeira questão diz respeito à relação entre texto e contexto, uma preocupação inescapável às ciências sociais. O diálogo com a sociologia do conhecimento de Karl Mannheim se impunha, mas foi sobretudo o contextualismo linguístico de Quentin Skinner e John Pocock, além da história dos conceitos de Reinhart Koselleck, que mais motivou os debates do grupo. Menos do que reduzir textos a contextos, o objetivo era controlar os anacronismos e as análises retrospectivistas, evitando assim o risco de dogmatismos. Em vez de pensar os contextos como “causas” ou “determinações últimas”, procurávamos compreender, seguindo o conselho de Antonio Candido, como elementos estruturais se tornavam “internos” a uma obra. Sociologicamente, esse é um desafio imenso, pois exige olhar os textos a partir de sua forma social – e não apenas a partir de seus conteúdos. Ou ainda, deixar-se surpreender por aquilo que não se define exclusivamente pelos interesses dos atores sociais ou pelas disputas no campo intelectual.
O debate sobre a forma era fundamental, pois nos permitia avançar em outra discussão importante para o grupo, enfatizada na apresentação dos organizadores deste volume: o caráter reflexivo das ideias. Com Luhmann, mas também com Franco Moretti, compreendíamos o papel da semântica e da autodescrição na constituição dos diversos subsistemas da vida social. A forma romanesca, nesse sentido, podia ser vista como um espaço de organização de códigos simbólicos, nos quais a sociedade elabora descrições de si mesma. Os textos – os romances, em especial – operam como mecanismos reflexivos, capazes de estabilizar significados e estruturar as possibilidades de comunicação. Como resume de modo lapidar o narrador de O vermelho e o negro, de Stendhal, um dos autores mais citados por Luhmann em O amor como paixão, “em Paris o amor copia os romances”, e não o contrário, como talvez fosse de se esperar. Não por acaso, Monsieur de Rênal assegura-se de que nem sua esposa nem Julien Sorel tenham contato com “esses livros perigosos” e “perversos”. Em outras palavras, os textos têm consequências.
Em nossa discussão, dedicamos atenção especial às relações entre semântica e a construção do Estado-nação, entendendo que, ao menos no caso brasileiro, os ensaios de interpretação do país representam uma “forma simbólica” privilegiada para as representações e comunicações da nação e do Estado. Livros, ao seu modo, também “perigosos”, pois constitutivos das disputas pelo sentido do controle da mudança social.
O terceiro elemento fundamental diz respeito à pesquisa em arquivos. Faz parte da socialização de quase todos os estudantes do NEPS passar por alguma experiência de pesquisa em acervos, sejam eles físicos ou digitais. A ida aos arquivos possui pelo menos duas implicações. A primeira, mais evidente, é que ele constitui um espaço a partir do qual podem emergir novos achados, ampliando o material empírico-documental para além de livros e artigos: correspondências, recortes de jornal, pareceres, manuscritos, cadernetas de anotações, marginália, desenhos – e um vasto et cetera. O arquivo, contudo, e essa é a segunda implicação, pode ser um espaço extremamente desestabilizador dos textos. Com eles, aprendemos que o texto não deve ser entendido como uma unidade fechada, “ontologizada”. É verdade que arquivos frequentemente alimentam a tentação de querer encontrar o texto “original”, a pista reveladora que poderia mudar totalmente interpretações estabelecidas (o “segredo” mencionado anteriormente). O mais interessante, porém, não é encontrar uma revelação, mas formular novas perguntas a partir de elementos que, de outro modo, dificilmente teríamos acesso.
Os arquivos nos oferecem essa possibilidade: mostram que os textos são processuais. Eles são retrabalhados, editados, censurados, esquecidos, interrompidos. O que é, afinal, uma obra? O que define essa unidade? O que significa publicar uma “obra completa”, por exemplo? Foucault se faz essa pergunta. E sugere que esse é um problema ao mesmo tempo teórico e técnico. Obra é o que foi publicado em vida pelo autor? Os rascunhos contam como obra? E as anotações esparsas, ou a marginália? Independentemente de ser ou não ser (um dilema verdadeiramente hamletiano), para quem pesquisa em arquivos, todos esses elementos têm relevância. Todos possuem sua própria dignidade e podem ajudar a construir relações inesperadas. Para lidar com essas questões, invariavelmente passamos por uma série de leituras que tensionam essa unidade-texto – da discussão sobre os suportes materiais e a sociologia dos textos à crítica genética, passando pela estética da recepção e pelos debates em torno da “morte do autor”.
A escala entre uma anotação à margem de um livro (muitas vezes cortada pela ação implacável das traças ou do restaurador) e o Estado-nação parece ser bastante desproporcional e algo abrupta. No entanto, creio que ela expressa bem o desafio de uma sociologia multidimensional dos textos, empenhada em enfrentar as mediações entre o micro e o macro. Como os textos nos arquivos, também a sociedade se constitui por sobreposições instáveis de sentidos, esquecimentos e rasuras. Pensá-la como um palimpsesto permite reconhecer que suas formas nem sempre se sucedem em linhas contínuas ou remetem a uma “origem”. Muito do nosso investimento na contingência, na improbabilidade e na complexidade da vida social vem justamente daí. E é com base nesse caráter contingente que entendemos os textos como simultaneamente constituídos pela sociedade e constitutivos dela. Como escrevemos na apresentação do primeiro volume de A sociedade dos textos, “a sociedade dos textos são também os textos da sociedade, que ‘sismografam’ o processo histórico-social e traduzem formalmente em matéria ‘textual’, entendida em sentido amplo, as autocompreensões sociais que circulam sobre a sociedade e orientam as forças sociais e políticas em disputa”.
Ao longo dos anos, muitas dessas questões foram desdobradas a partir de outros referenciais teóricos e metodológicos, assim como novos problemas de pesquisa se somaram aos anteriores. Destaco, por exemplo, as discussões da cientometria e bibliometria, que permitiram, por meio do uso de big data, outro modo de leitura, a “leitura distante” de redes cognitivas e semânticas. Ou ainda as aberturas do debate sobre a reflexividade social a partir da incorporação das discussões sobre o aprendizado social e os movimentos culturais, implicando em um renovado programa para uma sociologia política da cultura. As conversas e aprendizados com outros amigos do grupo, em especial Silviano Santiago e Ricardo Benzaquen de Araújo (à memória de quem o primeiro A sociedade dos textos é dedicado), foram fundamentais para o amadurecimento de pesquisas sobre a relação entre textos, memória e os processos sociais de subjetivação e modelagem do self.
Acredito que o segundo volume de A sociedade dos textos consolida a maturidade desse projeto intelectual. Os ensaios que seguem não só demonstram os alcances variados das questões explicitadas acima, como também trazem novos ângulos, fazem perguntas inovadoras, desenvolvem outras metodologias. Se no primeiro volume de A sociedade dos textos, André Botelho, Maurício Hoelz e eu nos focamos principalmente no modernismo e em seus desdobramentos, os artigos que compõem o segundo volume remontam a pesquisas mais variadas, que remetem a um leque impressionante de práticas textuais e de temas, que vão de escritores naturalistas e simbolistas do século XIX a fenômenos muito recentes, como as fake news.
O livro está dividido em três partes, cada uma delas refletindo, a seu modo, sobre a complexa articulação entre forma, conteúdo, suportes de escrita e vida social. A primeira, intitulada “Escrever sobre a escrita”, investiga como, em diferentes momentos da história intelectual brasileira, a literatura se configura como um espaço de disputa em que estão em jogo não apenas questões estéticas, mas também projetos políticos e culturais. Seja na crítica de Joaquim Nabuco ao romantismo de Alencar, nas codificações raciais do naturalismo, nas reapropriações de tradições orientais por Cruz e Sousa ou nas tensões modernistas veiculadas por textos em jornais e revistas de vanguarda, o que se observa é uma constante negociação entre a forma literária e a inscrição social da escrita. A literatura emerge, assim, como prática de produção de sentidos, capaz de construir imaginários, modelar identidades individuais e coletivas e funcionar como arena onde se definem e codificam os contornos futuros da cidadania, da nação e dos sujeitos que nela se reconhecem.
Na segunda parte, “A diferença e as formas”, o foco recai sobre as formas culturais, comunicacionais e institucionais que estruturam a vida social e configuram distintos modos de organização, controle e disputa. Os ensaios analisam como certos dispositivos – estatutos esportivos, projetos de lei, organizações editoriais, mecanismos de censura ou dinâmicas de circulação da informação – operam na produção e na regulação de práticas sociais coletivas. A crítica cultural latino-americana, por exemplo, é mobilizada para explorar as mediações entre cultura e sociedade, enquanto a análise da política do futebol brasileiro evidencia como estruturas formais absorvem, de modo persistente, lógicas patrimonialistas e personalistas. Do mesmo modo, tanto o estudo sobre fake news quanto as reflexões sobre censura e legislação agrária mostram como a normatização de práticas ocorre por meio de formas que simultaneamente possibilitam e restringem certos movimentos sociais, políticos ou culturais. Em conjunto, os textos sugerem que compreender a vida social exige atenção aos dispositivos que moldam as possibilidades de ação, negociação e conflito na esfera pública. Ao fazê-lo, retomam uma das lições centrais de Heloisa Teixeira (autora discutida em um dos artigos): a crítica só se realiza plenamente quando reconhece o dissenso como valor democrático e se abre à multiplicidade de vozes que compõem o debate público.
Na terceira parte, “A escrita e a sociologia”, os textos colocam em primeiro plano uma dimensão muitas vezes secundarizada nos debates sociológicos: a consciência de que fazer sociologia é, também, produzir textos, disputar linguagens e ocupar espaços de circulação de ideias. Ao investigar diferentes contextos e modalidades de escrita – da monografia acadêmica ao ensaio, dos periódicos especializados à imprensa cultural –, os autores mostram como a construção do conhecimento sociológico é indissociável dos suportes, dos gêneros e dos públicos aos quais se dirige. No caso brasileiro, essa reflexão ganha contornos particularmente relevantes, dado que a institucionalização das ciências sociais se deu em permanente trânsito (frequentemente sujeito a engarrafamentos) entre os circuitos universitários e os espaços mais amplos de intervenção cultural e política. Isso não apenas atravessou as trajetórias de autores fundamentais, mas conformou tradições que disputam as fronteiras e porosidades entre ciência, ensaio e crítica cultural. Ao retomar esse percurso, os textos também iluminam desafios contemporâneos, como os efeitos da crescente fragmentação da sociologia em subcampos altamente especializados, que, muitas vezes, dialogam pouco entre si e com o público mais amplo.
É verdade que gostamos de paratextos, hipertextos e, às vezes, subtextos. Agora, no entanto, se o leitor me permite, sugiro que siga o conselho de Ítalo Calvino nas primeiras páginas de Se um viajante numa noite de inverno: “É certo que esse passeio ao redor do livro – ler o que está fora antes de ler o que está dentro – também faz parte do prazer da novidade, mas, como todo prazer preliminar, este também deve durar um tempo conveniente e pretender apenas conduzir ao prazer mais consistente, à consumação do ato, isto é, à leitura do livro propriamente dito”. Vamos, então, aos textos. Antes disso, porém, um brinde: viva o NEPS!
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras



É necessário mais coragem e. bravura para confrontar ideais de pessoas amigas do que ser contra as ideias de desconhecidos.nadar contra é um ato sobre humano. Parabéns a todos aqueles que conseguem.