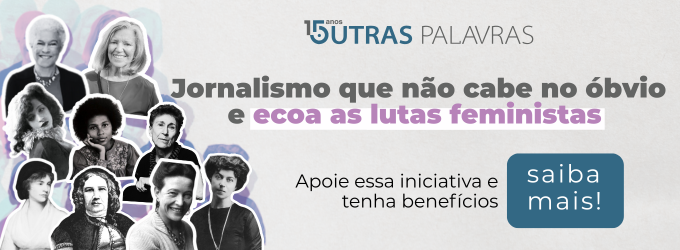Em SP, luta dos professores toma corpo
Mobilização simultânea de educadores das redes estadual e municipal expõe tentativa de desmonte e privatização dos governos. Precarizada, categoria enfrenta perseguições que visam neutralizá-la. Mas vitórias parciais apontam que a resistência é possível e necessária
Publicado 26/05/2025 às 17:25

Nas últimas semanas, os professores da rede estadual e municipal de São Paulo ocuparam as ruas e mobilizaram as comunidades escolares em uma onda de manifestações em torno da campanha salarial da categoria. No entanto, as reivindicações levantadas não são meras pautas corporativas: são um ato de resistência contra o projeto ultraliberal da extrema direita que está destruindo a educação pública e abrindo ainda mais as portas para a ingerência empresarial das políticas educacionais.Entende-se aqui, de forma sintética, o ultraliberalismo como a radicalização do projeto neoliberal e a forma pela qual a gestão do capital intensifica a exploração do trabalho por meio do aprofundamento da reforma do Estado no sentido da transferência da gestão das políticas sociais para a iniciativa privada.
O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tão logo assumiu o comando do estado de São Paulo vem se mostrando como uma alternativa eleitoralmente viável para a extrema direita — contemplando desde os setores mais conservadores e reacionários até o capital financeiro da Faria Lima — emprega uma política linha dura de ataque ao serviço público, negando os direitos básicos dos trabalhadores enquanto acelera as privatizações — que não se restringem à educação — e a militarização das escolas. Já na prefeitura, Ricardo Nunes (MDB) aproveita a carona na caravana bolsonarista de Tarcísio e procura se promover como o seu sucessor para o governo do estado, mimetizando a política de privatizações e de repressão do executivo estadual.
Essa ofensiva não é acidental, tampouco isolada. Como projeto de expansão do capital, o ultraliberalismo engendra novas formas de incorporação de territórios para viabilizar a acumulação. Se Lênin e Rosa Luxemburgo demonstraram que o imperialismo é a expressão da expansão capitalista, que levou no início do século XX a guerras pela divisão do mundo e à incorporação violenta de novos territórios e recursos, David Harvey atualizou essa análise com o conceito de “acumulação por espoliação”, ao mostrar como o neoliberalismo — e agora, o seu aprofundamento ultraliberal — mercantiliza bens públicos (como educação e saúde) e privatiza estatais, abrindo novos campos para a exploração capitalista; um processo que, intensificado pelo desenvolvimento das tecnologias e plataformas digitais, destrói direitos e aprofunda a dominação de classe em escala global.
Embora estejamos vivendo tempos sombrios, em que a classe trabalhadora — em nível global —, encontra-se profundamente precarizada vivenciando um cenário de profunda deterioração das condições de vida e de organização, é fundamental destacar que todo o avanço do capital produz, dialeticamente, resistências. Nesse sentido, o objetivo deste ensaio é lançar luzes sobre os processos de mobilização e organização da categoria docente na rede pública estadual e municipal de São Paulo e o enfrentamento que vem sendo construído, a duras penas, ao projeto de destruição e mercantilização da educação pública.
O colapso planejado da educação pública
As paralisações quase simultâneas dos professores das redes estadual e municipal de São Paulo revelam uma crise que assola a escola pública em todos os níveis. Nas ruas, nas escolas e assembleias, educadores de ambas as redes denunciam um padrão sistemático de desmonte que segue um roteiro bem conhecido do projeto ultraliberal para a educação.
Os dados sobre perdas salariais são alarmantes. Na rede estadual, segundo levantamento do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), enquanto o reajuste do piso nacional do magistério foi de 6,27%, considerando a inflação de 8,5% acumulada desde o último reajuste, o aumento proposto pelo governo do estado foi de apenas 5%. Se levarmos em consideração o reajuste necessário para o cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de Educação, que diz respeito à valorização do rendimento de profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, esse percentual deveria ser de 41,3%. Já para o cumprimento integral do piso salarial nacional, 87%. Na capital, a situação não é melhor: a defasagem salarial fica nítida diante da discrepância entre a reivindicação da categoria — 44% de aumento — e a proposta da prefeitura para todo o funcionalismo público municipal — apenas 2,6%.
Além da questão da valorização salarial e da carreira docente, assim como a demanda por melhores condições de trabalho (incluindo infraestrutura adequada, climatização das escolas e o fim do assédio moral e do autoritarismo nas gestões), as categorias compartilham outras pautas. A oposição à precarização do ensino está presente em ambas, com a rejeição da plataformização do ensino — já em curso acelerado na rede estadual e esboçando seus movimentos no município —, as privatizações e as terceirizações. Os professores estaduais também incluem a crítica à militarização das escolas, enquanto os municipais destacam a necessidade de gestão democrática. As categorias também se aproximam na defesa da redução do número de alunos por sala: enquanto docentes do estado exigiam no máximo 20 estudantes por turma e a reabertura de classes fechadas, os municipais pressionavam por menos alunos por agrupamento.
As pautas se alinham igualmente na luta contra medidas dos governos estadual e municipal consideradas prejudiciais. Os municipais buscam a revogação da Lei nº 18.221/2024 e a redução da alíquota previdenciária de 14% para 11%, enquanto os estaduais exigem a devolução dos valores descontados de aposentados e pensionistas durante o confisco previdenciário.
Apesar das diferenças específicas — como a ênfase dos municipais em questões como educação especial, ampliação de módulos e redução da jornada do Quadro de Apoio, ou a preocupação dos estaduais com a atribuição de aulas e a militarização —, o cerne das reivindicações é semelhante: melhores salários, condições dignas de trabalho, respeito à carreira docente e uma educação pública de qualidade, democrática e inclusiva. Essas demandas evidenciam um cenário de desvalorização crônica da profissão e a necessidade de políticas públicas que priorizem de fato a educação.
Enquanto isso, os governos aceleram a transferência de recursos para o setor privado. Tarcísio aplicou R$450 milhões no programa Novas Escolas, modelo que leiloou escolas públicas, entregando-as para gestão privada. Na capital, Nunes avança com a toada privatista em vários serviços públicos, o que na educação se expressa, por exemplo, por meio da terceirização da merenda escolar.
A convergência na política de desmonte da educação pública é produto de um processo mais amplo que desde os anos 1990 assola os países do Sul global. O avanço neoliberal, impulsionado pela reestruturação capitalista pós-queda do bloco socialista, difundiu uma narrativa que culpabiliza a regulação estatal pelos problemas sociais, defendendo o mercado como solução para eficiência e justiça. Essa lógica se materializou na Nova Gestão Pública, que importou métodos empresariais para a administração estatal, tratando cidadãos como clientes e servidores como meros gestores. O resultado foi uma série de reformas que fragmentaram o Estado, separando a gestão dos serviços públicos de suas finalidades sociais.
Nas últimas décadas, esse modelo aprofundou a privatização da gestão pública, seja pela terceirização, seja pela imposição de lógicas mercantis ao Estado. Em São Paulo, tanto no âmbito do governo estadual quanto no municipal, isso se traduziu em políticas de sucateamento da educação: cortes de investimentos, precarização do trabalho docente, terceirizações e abertura para o setor privado ditar políticas educacionais. Fundações e empresas passaram a influenciar diretamente as decisões públicas, enquanto escolas enfrentam falta de estrutura, superlotação e desvalorização crônica dos profissionais.
Assim, o discurso da “eficiência” serviu de cortina de fumaça para o desmonte dos serviços públicos, transformando direitos em mercadorias e aprofundando desigualdades. Na educação, esse projeto se expressa na militarização de escolas, terceirizações, privatizações, introdução massiva de tecnologias e plataformas digitais e ataques aos direitos trabalhistas, consolidando um sistema excludente em nome de uma falsa modernização.
As mobilizações recentes de professores e professoras das redes estadual e municipal de São Paulo, portanto, não se articulam apenas em torno de reivindicações salariais pontuais, mas são também a expressão da resistência contra um projeto de desmonte que vem sendo implementado há anos.
Os desafios do movimento e a resistência que insiste em florescer
A mobilização dos professores de São Paulo se desenvolve em um terreno minado por desafios estruturais que vão muito além da já conhecida truculência dos governos estadual e municipal. O movimento enfrenta uma guerra assimétrica onde, de um lado, está o poderio estatal e midiático e, de outro, a força coletiva de quem constrói a educação pública no dia a dia em meio a inúmeros desafios.
A batalha das narrativas
A criminalização de movimentos de trabalhadores não é fenômeno novo, e no campo da educação adquire contornos específicos. Os governos estadual e municipal se apoiam nas narrativas que associam os professores e professoras a um suposto alinhamento ideológico com as perspectivas de esquerda, além da já conhecida falta de reconhecimento social da profissão docente, para deslegitimar as reivindicações da categoria. A desvalorização material dos profissionais da educação — ilustrada pelos baixos salários e planos de carreira desestruturados —, associada a um conjunto de políticas articuladas que esvaziam o conteúdo do trabalho docente (como a imposição de materiais e plataformas digitais que retiram a autonomia docente, e mecanismos hiperburocráticos de gerenciamento do trabalho de professores e professoras) criam um cenário de controle e dominação no ambiente escolar.
Quando a categoria desafia esse sistema e luta por mudanças é imediatamente criminalizada. As punições variam e podem ser individuais ou coletivas: alguns são silenciados, outros transferidos a força para novas escolas, enquanto a categoria é simplesmente ignorada por uma estrutura política e burocrática que “negocia” reajustes salariais apresentando propostas irrisórias. As perseguições são muitas e visíveis a olho nu: durante um dia de paralisação e mobilização dos professores da rede estadual, escolas foram comunicadas sobre o fechamento imediato de turmas em pleno segundo bimestre. Isso teve como consequência imediata a superlotação de salas em função do remanejamento dos estudantes, e o realocamento e demissão de docentes contratados. Um exemplo é o que ocorreu na Escola Estadual Reverendo Professor José Carlos Nogueira, vinculada à Diretoria de Ensino Campinas Oeste.
Categoria dividida e precarizada
Outro elemento fundamental que favorece a empreitada de destruição da educação pública e cria ainda mais obstáculos à organização e mobilização da categoria docente é a precarização dos contratos de trabalho. Em 2024, cerca de 50% dos docentes atuantes na rede estadual de São Paulo eram contratados como temporários e, portanto, estavam sujeitos a vínculos flexíveis e precários em relação aos professores efetivos. Essa realidade varia conforme o nível de ensino. Em vistas ao processo de municipalização dos anos iniciais do Ensino Fundamental, as cidades em que ainda existem escolas de Ensino Fundamental I da rede estadual, enfrentam uma situação ainda mais grave: com o fim dos concursos públicos para PEB I, a proporção de docentes contratados (conhecidos como “Categoria O”) é ainda maior. Na rede municipal, a segmentação da categoria se dá também pela ampliação da rede de creches conveniadas, por exemplo, mas também porque a campanha salarial abarca todo o funcionalismo público municipal, colocando em relevância as diferenças entre os vários segmentos.
Nesse sentido, há dificuldades objetivas de mobilização e organização da categoria. Professores e professoras com vínculos precários na rede estadual, por exemplo, ficam muito mais vulnerabilizados ao se engajaram nas lutas coletivas, sob o risco constante de cessação dos contratos ou dificuldades de recondução no processo de atribuição de aulas no ano letivo seguinte.
Apesar desses obstáculos monumentais, ambas as categorias conseguiram mobilizar os professores e professoras a ponto de colocar nas ruas milhares de pessoas em defesa da escola pública e de melhores condições de trabalho. No dia 25 de abril de 2025, cerca de 3 mil professores e professoras lotaram a Avenida Paulista na assembleia da Apeoesp, exigindo que o governo do estado negociasse as pautas da categoria e dispostos à decretação imediata de greve. Já na rede municipal, a categoria permaneceu em greve entre os dias 15 de abril e 6 de maio, conquistando nas rodadas de negociação a garantia de pagamento dos dias parados. Além disso, a greve dos professores e professoras da rede municipal mobilizou também famílias e a comunidade escolar, assim como a aliança entre estudantes e professores se fez relevante na luta contra o fechamento de salas na rede estadual.
É claro que outros fatores precisam ser compreendidos em profundidade para se pensar o potencial de mobilização e organização da categoria docente e da luta pela escola pública de maneira mais ampla. A questão do enfraquecimento dos sindicatos — seja por fatores externos, como a reforma trabalhista, seja pela deterioração das condições objetivas de trabalho no chão de escola, ou ainda pela capitulação de dirigentes sindicais e uma acomodação geral em um cenário no qual a correlação de forças já se encontra precária — é fundamental para o entendimento da luta de classes no campo da educação, assim como o surgimento e fortalecimento de outras formas de organização dos profissionais da educação que se opõem à burocracia sindical (que dificulta a luta coletiva), como os coletivos de oposição sindical e de auto-organização da classe trabalhadora.
Diante do ataque, a resistência docente como última trincheira
O cenário atual da educação pública em São Paulo é desolador, mas não irreversível. Os governos Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, alinhados ao projeto ultraliberal da extrema direita, aceleram o desmonte da escola pública com privatizações, militarização, terceirizações e um sistemático esvaziamento do trabalho docente. Esse não é um fenômeno isolado: é parte de uma ofensiva global do capital, que, diante da crise estrutural do neoliberalismo, intensifica a espoliação dos serviços públicos para criação de novos mercados articulados ao processo de plataformização digital da economia.
No entanto, como demonstram as mobilizações recentes dos professores estaduais e municipais, a resistência é possível e necessária. Apesar da criminalização, da precarização dos vínculos de trabalho e da fragmentação imposta pela burocracia estatal, educadores têm conseguido construir greves, ocupar ruas e articular alianças com estudantes e comunidades. As paralisações de abril e maio de 2025 mostraram que, mesmo em condições adversas, a categoria ainda é capaz de forçar recuos e conquistar vitórias, ainda que parciais — como a garantia de pagamento dos dias parados na rede municipal e a pressão contra o fechamento de turmas na estadual.
Mas a luta vai além dos números. O que está em jogo é o próprio sentido da educação pública: uma escola democrática, laica, inclusiva e libertadora, oposta à lógica mercantil que transforma alunos em clientes e professores em gestores de plataformas digitais. A militarização, as parcerias público-privadas e a introdução das plataformas digitais de ensino e gestão não são “modernizações”, mas ferramentas de controle que aprofundam desigualdades e segregam ainda mais a juventude pobre, principal público das escolas públicas.
Os desafios são enormes. A categoria está dividida entre efetivos e temporários, enfraquecida por anos de ataques sistemáticos e por uma narrativa midiática que a desumaniza. Ainda assim, a semente da resistência germina nas ocupações, nas assembleias e na recusa cotidiana à submissão. Se a extrema direita aposta no colapso da escola pública para justificar sua entrega ao setor privado, a tarefa urgente é reconstruir a unidade da categoria, fortalecer as alianças com movimentos sociais e radicalizar a defesa da educação como direito, não mercadoria.
A história mostra que nenhum ataque do capital é inevitável. Da Comuna de Paris às ocupações estudantis no Chile, das greves docentes em Oaxaca às mobilizações em São Paulo, a luta coletiva sempre foi a única forma de frear a barbárie. O projeto ultraliberal pode ser hegemônico hoje, mas é nas brechas da resistência que se constrói o futuro. Professores, professoras, profissionais de educação e comunidades escolares, mesmo sob os escombros deixados pelos governos, seguem lutando por um mundo onde a escola pública seja, de fato, de todos.
O ataque é brutal, mas a resistência insiste em florescer. E enquanto houver um educador que se recuse a calar, a luta pela educação pública, gratuita e popular continuará viva.
Ricardo Normanha é pai, sociólogo, professor e pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Ciências Sociais na Educação da Faculdade de Educação da Unicamp.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.