A universidade refém do produtivismo
Exame de uma universidade sem dinheiro e sem projeto. Pesquisas são repetitivas ou rendidas a modismos. Cai a renovação teórica, busca-se financiamento privado e pontuação. Com saberes apartados da sociedade, portas são abertas ao mercado
Publicado 14/05/2025 às 19:50 - Atualizado 19/05/2025 às 13:16
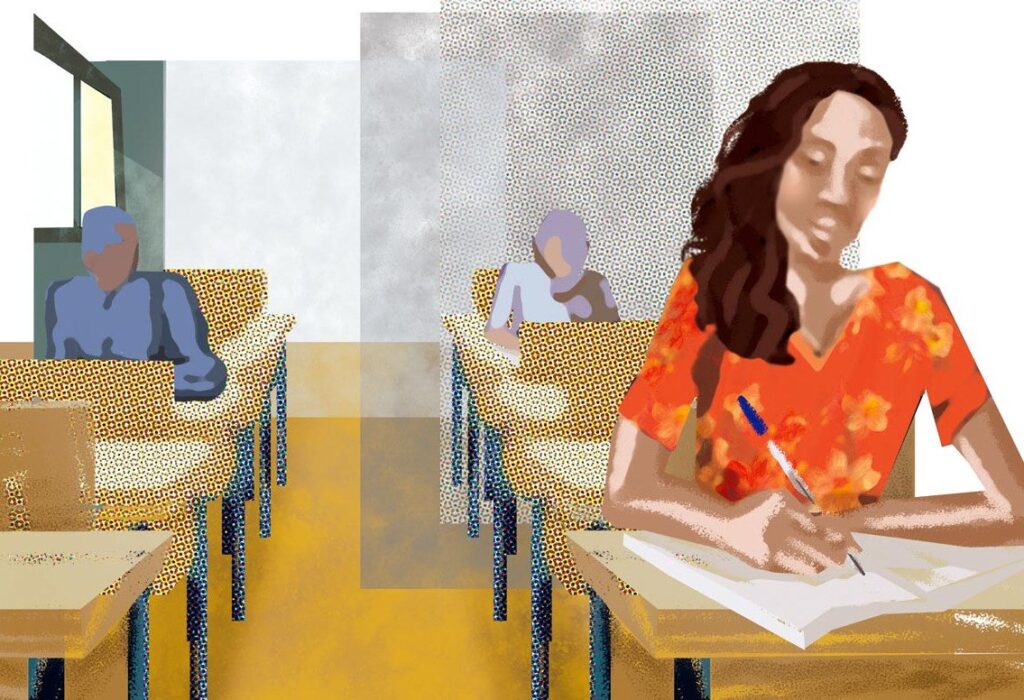
Pode-se afirmar que o fundamento que estrutura o meio acadêmico brasileiro é o da precarização, ou seja, a maior parte dos profissionais que produzem conhecimento científico o fazem em condições de extrema dificuldade. Não há muitas das condições básicas para a realização das atividades, seja em termos de estrutura física ou de pessoal, fazendo com que o pesquisador e seus colaboradores encontrem grandes dificuldades para realizar seu trabalho.
Os professores das universidades públicas, onde é realizada a maior parte das pesquisas, encontram dificuldades como a escassez de tempo para se dedicar à pesquisa e à extensão, combinada a uma extensa carga horária de aulas. Os professores das instituições privadas, com poucas exceções, não são incentivados a fazer pesquisa nem a atuar na pós-graduação. Os técnico-administrativos, além de gastar a maior parte do seu tempo em tarefas operacionais, sofrem com todo tipo de preconceitos e marginalização, tornando praticamente impossível a dedicação a outras atividades do espaço acadêmico, como pesquisa e extensão. Os centros de pesquisa públicos são poucos e, a despeito de produzirem importantes pesquisas, não conseguem dar conta das necessidades demandadas pela sociedade.
Outro aspecto a ser considerado se refere à materialização da precarização na condição dos estudantes. Como os docentes têm dificuldades de tempo e de estrutura para realizar suas pesquisas, acabam sendo os estudantes os responsáveis por realizar parte dmerco trabalho, cabendo ao coordenador do projeto se limitar a uma orientação genérica ou simplesmente colocar o nome no artigo final. Esse elemento se manifesta em especial numa divisão de tarefas em que a pesquisa dos orientadores é dividida em partes que os discentes assumem, independentemente do seu nível de formação. Com isso, grande parte das dissertações e teses desenvolvidas no interior dos grupos de pesquisa acabam sendo não o produto do interesse dos pesquisadores em formação, mas fragmentos de uma investigação cujos resultados estão voltados para os interesses e para o currículo do docente que coordena o projeto.
Os discentes, a despeito da enorme responsabilidade que acabam assumindo, inclusive eventualmente de docência, recebem bolsas cujos valores não condizem com suas necessidades vitais e mesmo de apoio às suas pesquisas. Em meio à necessidade de aquisição de bibliografia, de viagem para pesquisas e eventos, além de necessidades primordiais, como se alimentar e pagar aluguel, os valores pagos pelas bolsas vão sendo corroídos pela inflação sem que haja qualquer política de reajuste permanente. Um fator ainda mais degradante se refere ao fato de que, em um cenário de crise econômica e desemprego, para esses pesquisadores em formação a bolsa muitas vezes não está ligada a um projeto de vida e carreira como pesquisador, mas apenas à necessidade imediata de sobrevivência.
Em meio a isso, se coloca a supervalorização da titulação, onde a obtenção do doutorado não é encarada como uma fase da formação do pesquisador, mas um objeto de poder que pode ser utilizado como uma forma de distinção dentro do ambiente acadêmico. Nas universidades o título de doutor pode representar também o ponto mais elevado dentro da burocracia universitária, ocupando cargos de direção ou mesmo a reitoria. O docente doutor pode orientar pesquisadores de todos os níveis de formação, pleitear todos os tipos de financiamento e acessar todos os cargos e órgãos disponíveis na instituição. Muitos doutores fazem questão não apenas de ressaltar sua titulação, mas de destacar que isso os torna especiais e, por isso, mais importantes que todos os demais profissionais que atuam na instituição, inclusive em comparação até mesmo com técnico-administrativos que possuem doutorado. Essa relação de poder e detenção de status é uma demonstração de que “o capital universitário se obtém e se mantém por meio da ocupação de posições que permitem dominar outras posições e seus ocupantes”.1
Para que seja relevante, o título de doutor dos pesquisadores precisa estar acompanhado de uma rede de financiamento e alianças que possibilitem à instituição obter mais e mais recursos. Em função disso, não importa a relevância da pesquisa ou o papel que possui o pesquisador em sua área, mas somente a capacidade que ele tem de obter recursos, sejam públicos ou privados, e as redes de contatos em que está inserido. Para a maior parte das instituições vale mais a pena ter um pesquisador que, embora sem grandes contribuições em sua área de pesquisa, possua amigos influentes em outras universidades e centros de pesquisa.
Essa necessidade de busca por financiamento impacta na escolha do que é produzido na instituição, ainda que a pesquisa seja irrelevante em sua área do conhecimento ou apresente uma baixa qualidade teórica e metodológica. O critério passa pela publicidade que a pesquisa possa alcançar e pela sua capacidade de ser vendida ao mercado. Esse processo tem relação direta com a crise na qual se encontra o sistema capitalista, que:
“[…] reflete-se numa crise dos valores burgueses, da moralidade, da religião, da política e da filosofia. O pessimismo que aflige à burguesia e aos seus ideólogos neste período se manifesta na pobreza de seus pensamentos, na trivialidade de sua arte e no vazio de seus valores espirituais. Expressa-se no espantalho filosófico pós-modernista, que se imagina superior a toda filosofia anterior, quando, na realidade, é absolutamente inferior”.2
Muitas das pesquisas se tornam meras repetições umas das outras, com pequenas variações, dentro de grupos de pesquisas ou como parte de redes. Produz-se uma grande quantidade de teses, dissertações e artigos que basicamente discutem os mesmos assuntos, apresentando pequenas mudanças nos objetos ou nos problemas a serem discutidos. Não há uma preocupação efetiva em ensaiar novas metodologias e perspectivas, mas somente em chegar a um produto, o que obviamente é garantido por uma metodologia conhecida e utilizada de forma repetida e recorrente. Não se trata aqui de experimentos variados que levam a um novo conhecimento, podendo contribuir inclusive para uma renovação daquele campo de pesquisa, mas de um conhecimento pronto que basicamente vai sendo repetido à exaustão e, dessa forma, garantir a produção em grande escala de dissertações, teses e artigos.
Uma consequência dessa repetição de métodos e procedimentos é um completo desdém pelo debate teórico. Evita-se produzir reflexões que exijam a leitura aprofundada de clássicos e um denso debate epistemológico, e que poderiam apontar para novas interpretações ou mesmo para construções teóricas inovadoras. O caminho mais comum é partir de algum referencial pronto, normalmente algum autor ou um campo da moda na Europa ou nos Estados Unidos, e aplicar na pesquisa. Muitos pesquisadores apenas se alongam em citações que, com sorte, talvez façam sentido dentro da lógica do texto. Como consequência, a ciência “se converter numa rotina de simples absorção e arquivamento de ideias, de mera repetição de procedimentos conhecidos e sancionados, dos quais apenas se esperam os resultados seguros e rendosos que não podem faltar”.3 Torna-se, assim, praticamente impossível a construção de um referencial teórico que apresente inovações e novos olhares para os objetos de pesquisa.
Essa situação acaba se mostrando mais grave na pós-graduação, onde se estruturou uma avaliação quantitativa do trabalho realizado, embasada num sistema de controle que inicia nos projetos em andamento, passa pelas orientações e trabalhos em eventos, chegando à publicação de artigos e livros, exigindo uma coerência temática e metodológica que é medida não por critérios teóricos e metodológicos ou pela relevância para a área de conhecimento, mas, em última instância, por palavras-chave ou número de citações. Os pesquisadores, as instituições a que estão vinculados, os periódicos e os livros são categorizados e ranqueados, sendo sua classificação um critério determinante na definição da distribuição de recursos. Entende-se que essa “adoção do modo quantitativo de avaliação das produções cientificas, e o fato de que ele passa ser visto como razoável, decorre do processo de mercantilização ao qual a ciência está sujeita no capitalismo”.4
Esse cenário de pressão pela produtividade está associado às mudanças na forma de organização do trabalho, na medida em que o capitalismo necessita cada vez mais que a técnica e a tecnologia garantam a diminuição nos custos de produção. No sistema capitalista, “a grande indústria tem de incrementar extraordinariamente a força produtiva do trabalho por meio da incorporação de enormes forças naturais e das ciências da natureza ao processo de produção”.5 Cabe à pesquisa um papel decisivo nesse processo, na medida em que possibilita a incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo, exigindo-se resultados rápidos, inovadores e com impactos práticos. Como parte do processo de “reorganização econômica, a esfera de natureza simbólico-cultural altera-se, para constituir-se de valores e signos próprios da produção econômica, no contexto de tecnificação da política e da cultura”.6 Consequentemente, diante de dificuldades estruturais, de pressão pela produtividade, e de avaliações com critérios arbitrários, criam-se formas de garantir dados estatísticos de produção. Nesse sentido:
“[…] a pressão produtivista gera o efeito perverso do agir instrumental e do abandono do essencial (o processo em si, gerador de conhecimento e enriquecedor da formação intelectual) pelo aparente, isto é, o resultado espelhado na pontuação. Em outras palavras, privilegia-se a quantidade sem se importar com a qualidade”.7
Esse problema se manifesta no comércio de publicações. O mercado das revistas acadêmicas e as parcerias com empresas fazem com que se deixe de lado a possibilidade de produção de conhecimentos que possam ter um caráter socialmente refletido e que apontem para uma perspectiva minimamente crítica. Construiu-se um complexo sistema de indicadores e estatísticas que mede não a qualidade ou a importância do conhecimento produzido, mas a quantidade de textos que o pesquisador produz. Não importa o conteúdo desses textos, se repetem integralmente o que foi escrito antes ou mesmo se não tem alguma relevância, mas sim as citações que faz e as que possa vir a obter. Os textos podem não apresentar nenhuma contribuição para sua área do conhecimento, mas tornam-se importantes dentro da realidade paralela do mundo acadêmico, importância essa completamente subjetiva e que somente faz sentido para um grupo específico de profissionais. O objetivo desses artigos produzidos em grande quantidade não é a apresentação de reflexões realizadas a partir de uma pesquisa com efetiva contribuição para seu campo de estudo ou a intervenção para a solução de um problema da sociedade, mas a obtenção de resultados que sejam mensuráveis por um sistema de avaliação definido com critérios arbitrários e desconhecido pela esmagadora maioria das pessoas de fora da universidade.
Nesse cenário, de precarização do trabalho da pesquisa e de atribuição de pouca relevância ao conteúdo que se produz, a adesão aos modismos acaba sendo o caminho seguido por pesquisadores em qualquer nível de formação. Os pesquisadores acabam ou adotando os temas mais comuns do momento ou incorporando métodos e teorias mais utilizados por seus pares, na medida em que isso facilita tanto a obtenção de recursos e bolsas, como a publicação em revistas. O pesquisador deixa de ser um profissional que procura novos caminhos para seu trabalho, onde poderia encontrar saberes ainda pouco conhecidos e nada explorados, para permanecer estagnado em um lugar lotado e totalmente desgastado. Outro aspecto tem relação com o fato de esses métodos, teorias e objetos de moda normalmente expressarem interesses privados que, mesmo quando não influem de forma direta sobre o financiamento da pesquisa, determinam a importância que se deve dar ao trabalho do pesquisador.
Essa busca por estar na moda e em harmonia com os temas e teorias dominantes nos meios acadêmicos também tem como consequência o fato de se evitar quaisquer polêmicas. Se há divergências teóricas, deve-se ou fazê-las da forma mais cordial possível ou até mesmo evitar torná-las públicas, embora a produção do conhecimento necessite do debate e da crítica para apontar não apenas limitações do trabalho realizado, como indicar possíveis caminhos a serem seguidos. Nos diversos campos, dominam teorias, temas e métodos quase consensuais, parecendo que todos falam a mesma coisa, ainda que com pequenas variações na forma. O meio acadêmico atualmente existente, com raras e marginalizadas exceções, não é constituído por um espaço de debate aberto e saudável, mas por um comodismo que aceita passivamente os modismos dominantes e a precarização estrutural.
Nos últimos anos, algumas vozes têm se levantando para denunciar os problemas enfrentados pelos pesquisadores, enfatizando especialmente cortes de verbas para fomento, dificuldades estruturais e a ameaça de perda de bolsas. Contudo, de forma geral, essas críticas não apresentam uma análise da lógica perversa do meio acadêmico e do fato de que sua precarização não se limita a um projeto de governo, mas constitui-se em uma estratégia diretamente ligada aos interesses do capital, que tem como objetivo a completa transformação do conhecimento em mercadoria. Deve-se ressaltar que:
“[…] as atividades intelectuais de produção da ciência e da tecnologia não se constituem processos autônomos, independentes da realidade concreta onde se efetivam. A ciência revela-se historicamente como instrumento de poder. Ela passa a atuar junto às forças produtivas de forma cada vez mais decisiva, ampliando cada vez mais sua potência econômica”.8
O Estado, diante das variações no modo e nas relações produções, adapta as políticas educacionais e de pesquisa aos interesses do capital, priorizando ora investimentos com recursos públicos, ora a entrega da educação à gestão privada, com ou sem recursos do Estado. Portanto, a despeito de todas as mediações possíveis, em última instância, a educação sob o capitalismo é funcional à produção de valores de troca e à exploração do trabalho. Com isso, a possibilidade de avanço na produção do conhecimento mostra-se incapaz de romper as barreiras da sua mercantilização, exigindo das organizações trabalhadores ações que se coloquem no sentido de romper essa bolha perversa.
Notas:
1 BOURDIEU, Pierre. Homo academicus. 2ª Florianópolis: Editora da UFSC, 2011, p. 115.
2 Alan Woods. Reformismo ou revolução. São Paulo: Editora Marxista, 2009, p. 67.
3 Álvaro Vieira Pinto. Ciência e existência: problemas de filosofia da pesquisa científica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 255.
4 Marcos Barbosa de Oliveira. A mercantilização da ciência: funções, disfunções e alternativas. São Paulo: Scientiae Studia, 2023, p. 38.
5 Karl Marx. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 460.
6 Valdemar Sguissardi; João Reis Silva Jr. Novas faces da educação superior no Brasil: reforma do Estado e mudança na produção. 2ª ed. São Paulo: Cortez; Bragança Paulista: USF, 2001, p. 80.
7 Antonio Ozaí da Silva. A corrida pelo Lattes. In: Waldir José Rampinelli; Valdir Alvim; Gilmar Rodrigues (Org.). Universidade: a democracia ameaçada. São Paulo: Xamã, 2005, p. 89.
8 Maria de Lourdes Pinto de Almeida. A pesquisa acadêmica no século XXI. Campinas: Mercado de Letras, 2012, p. 93.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

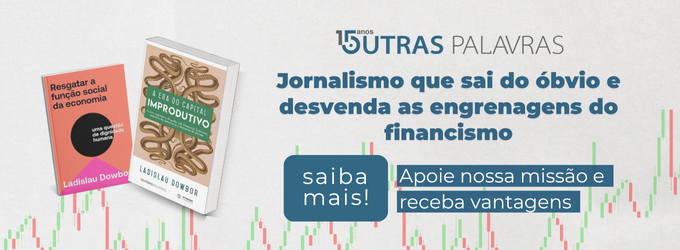
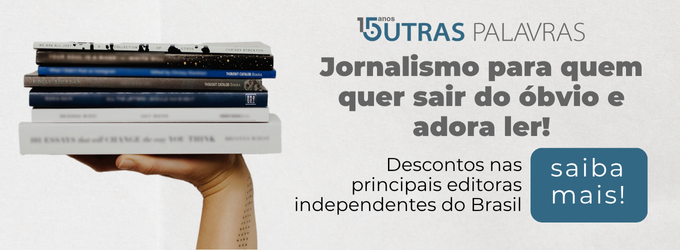
Perfeito! Vivencio intensamente todos os aspectos abordados no texto na universidade à qual estou vinculado. Há pesquisadores completamente alienados pelo produtivismo. Obviamente, isso causa uma sobrecarga enorme. É possível perceber, em alguns professores, o desgaste e o adoecimento. É lastimável essa situação…