Proust, Jameson e Benjamin em jornada anticapitalista
Que novos sujeitos políticos poderão reinventar a ideia de transformação radical da sociedade? Contra o culto alienante da imagem, proposto pelo pós-modernismo, nossos autores propõem a sensibilização político-estética do ser humano diante do confronto consciente com a própria vida
Publicado 07/02/2025 às 19:38

Título original
Memória e Estética como Teoria do Sujeito Político: sobre Fredric Jameson e Walter Benjamin (via Marcel Proust)
O objetivo deste ensaio é discutir as possibilidades de reconstrução do sujeito político da transformação radical por meio da crítica cultural e literária de Fredric Jameson e Walter Benjamin (esse via Marcel Proust). Sugiro que a memória e a estética são formas imprescindíveis para a conformação do sujeito político da mudança social diante do capitalismo contemporâneo. O texto organiza-se assim: primeiro, estabeleço quais são as linhas de força do diagnóstico de Jameson para nossa contemporaneidade cultural e política; segundo, discuto, o que podemos chamar de teorias estético-culturais de formação do sujeito político, vale dizer, as teorias da narração de Walter Benjamin e Marcel Proust; concluo com algumas considerações finais sobre a intenção geral que o ensaio se propôs ao lançar ao debate de esquerda tais reflexões.
O Diagnóstico Jamesoniano
Em seu ensaio de crítica cultural e teoria social Pós-Modernismo e Sociedade de Consumo, Frederic Jameson propõe o que talvez seja a principal intervenção teórica sobre o estatuto da era de capitalismo avançado em que estamos vivendo. Frederic Jameson diagnostica em seu ensaio que a característica fundante da sociedade e cultura contemporânea é a perda da temporalidade histórica – o que significa dizer a perda de temporalidade subjetiva. No âmbito da problematização que estrutura este artigo: Jameson apresenta um diagnóstico sobre o esfacelamento da historicidade constitutiva do sujeito. O ponto de partida de sua análise é caracterizar o que foi a experiência do modernismo clássico, para depois apresentar em comparação com esse, o sentido da vivência cultural da contemporaneidade. Com efeito; a essência existencial do modernismo clássico era a capacidade dos sujeitos sociais constituírem um mundo próprio – era sua capacidade de delimitarem as fronteiras de formação do seu Eu. A estruturação histórico-cultural e histórico-estético do Eu singular, vale dizer, de uma personalidade única e de uma individualidade única: foram os fundamentos do modernismo clássico (Jameson, 1985, p. 19). Notemos que o quadro de referência histórico e político em que a modernidade constitui seus diversos Eus singulares e, potencialmente, instituídos do ponto de vista de sua localização social (pois eram iconoclastas, sadomasoquistas, dândis rebeldes como Oscar Wilde, melancólicos e sensíveis) é o quadro de consolidação dos Estados-nação, da Primeira Guerra Mundial, da queda de Impérios e de velhas monarquias e de grandes processos insurrecionais. Assim: o modernismo sempre esteve associado a grandes transformações sociais e políticas – o modernismo sempre se confundiu com a revolução (Anderson, 2002).
Dois elementos que forjaram a natureza dos elementos sociais que deram vida ao modernismo clássico foram: a invenção de um mundo próprio e a afetação da existência pelo novoi. A realidade conturbada de personagens claramente definidos, sobrepostos a uma estrutura narrativa estilizada, e, estilizada porque singularmente definida e própria em relação a outras estruturas de narração, expressava a existência de um mundo autônomo – e esteticamente crítico da realidade a qual se distanciava. De modo que para formar-se como sujeito desse mundo próprio autônomo e crítico, o eu singular necessitava a todo o momento estar afetado pela ânsia do novo (Jameson, 1985, p. 19). A politicidade desse quadro cultural é clara: o novo, a crítica, o reconhecimento de si e do outro institucional e a rebeldia faziam parte do repertório estético do modernismo clássico. O sujeito político aqui: possuía consciência de sua narratividade histórica.
O pastiche e a esquizofrenia, expressões culturais do capitalismo tardio e corporativo, solaparam a estrutura histórico-narrativo em que o sujeito singular e particular da modernidade se orientava. Podemos definir nossa era cultural, social e política: como uma era na qual a temporalidade humana, a linguagem e as interlocuções significantes foram estilhaçadas, de tal modo que o sujeito político da ação e da intervenção apresenta dificuldades de conexão e continuidade histórica na sua atuação cotidiana. Para Jameson o comprometimento da identidade do Eu resulta da cultura esquizofrênica (Jameson, 1985, p. 22). A incapacidade de simbolização e de apreensão do sentido da existencialidade social que a esquizofrenia impõe aos “sujeitos” na contemporaneidade impede que esse mesmo sujeito recolha na dinâmica dos problemas da ordem societária vigente a consciência resolutiva das questões mais fundamentais da e para a convivência emancipada. É por isso que Jameson afirma que à perda da continuidade histórica, da temporalidade subjetiva e humana, surge na cultura e na sociedade atual a prevalência do espaço. Nosso estatuto estético contemporâneo: é o estatuto da espacialidade imagética. Estamos vivendo a era da imagem como constitutiva do espaço que se eleva sobre o tempo e a narrativa.
A cultura da imagem não permite a experiência do Eu e do mim-mesmo, do Eu com o outro, do outro e do Eu e desse com os vários outros e os vários Eus constituindo um sujeito coletivo repleto de intensidade – não permite forjar aquilo que Vladimir Safatle (2019) nomeou de o corpo do impossível revolucionário. Com efeito; a narratividade do Eu que experimenta e vive a história – está em vias de ser destruída. Um indicativo do que estamos tentando interpretar sustentados pela teoria social e estética de Frederic Jameson ocorre com a palavra democracia. A cultura da espacialidade e da imagem apresenta como substrato constitutivo a materialidade obsessiva das palavras. Vale dizer; o significante tem necessidade a todo instante de se autorrepor – abandonando seu significado que “se transforma […] em imagem” (Jameson, 1985, p. 23). A palavra democracia, por exemplo, dita e falada, obsessivamente, em todas as circunstâncias do convívio social e político, seja esse convívio conflitivo e violento, ou cotidiano e dentro da normalidade, revela a indiferenciação para com o significado da palavra ou da existência democrática face ao significante falado e propagado. A palavra democracia transformou-se em apenas uma estrutura imagética vazia que preenche os espaços de convivência societária quando assim lhe é solicitado justificar e legitimar determinadas atitudes. Com esse diagnóstico de Jameson, quais as possibilidades de irrupção do sujeito político da ação e da intervenção na cena política contemporânea diante das crises pós-2008? A possibilidade pode ser encontrada na experiência do Eu com a estrutura de interlocução política exterior – da experimentação do sujeito enquanto tal com a história, com a narratividade e com a arte literária. Vejamos como isso se coloca na obra de Marcel Proust e Walter Benjamin: seu principal herdeiro.
Marcel Proust e Walter Benjamin: reminiscência, narrativa e estética como Teoria Política
Em Busca do Tempo Perdido é a trajetória do narrador, que alguns intérpretes entendem se chamar Marcel (May, 2001), à procura de sua constituição como sujeito. Sujeito esse que é narrador, que narra e é narrado – e, portanto, estrutura toda o enredo do romance em torno de suas afetações contingentesii.
A formação do sujeito, do Eu, no romance de Proust tem estratégias literárias particulares e variadas. No interior do cipoal proustiano, chamamos a atenção para a estratégia da instabilidade interior do narrador ou as intermitências do coração e a sensibilidade crítica concernente ao esnobismo (de classe). Com efeito, a instabilidade interior de Marcel surge da relação do Eu do narrador com as de temporalidade em que ele se defronta ao longo da jornada. Configura-se no Em busca do tempo perdido um tempo que apresenta como disposição constitutiva a capacidade de mudança e alteração de seus elementos fundadores. O tempo para Marcel: é motivo de intermitência interior. Dessa forma, a construção do sujeito proustiano irrompe a cada momento que a estrutura da temporalidade, se forma e se rompe (seja com a morte de um parente, no caso a avó de Marcel; seja um amor não correspondido que foge – Albertine a fugitiva; seja com monumentos que são observados e vistos de diversos ângulos, as Torres de Martinville). Temos aqui, que o Eu singular do narrador no confronto consigo mesmo e com a realidade exterior, o mundo exterior, caracteriza-se por uma profunda instabilidade psicológica (May, 2001, p. 77). É que o mundo exterior, a contingência externa e sensitiva, não é algo estático e detentor de certa unilateralidade relacional. Porque o mundo exterior, a realidade que afeta a vivência do Eu com ele-mesmo, é construído por espaços sociais e políticos de interlocução (Motta, 1994) entre diversos indivíduos e em diversas situações que o sujeito proustiano vive e convive com intermitências, saltos e sobressaltos internos – sua conformação como sujeito de intervenção no cenário narrativo do próprio romance depende da capacidade, circunstanciada pela memória involuntária, do Eu rememorar os momentos de sua existência histórica em que registrou as intermitências internas provocadas pelos trechos de interlocução – a prosa o mundo exterior. Assim, a formação do tempo no espaço existencial de interlocução instrumentaliza o narrador a constituir seu sujeito: e a atuar no mundo. Alguns momentos do Em Busca do Tempo Perdido são exemplares neste aspecto. Descrevendo a relação de Swann com Odette, o narrador diz que:
O trajeto que o separava dela, esse era o que inevitavelmente percorria, e que era como que a própria vertente, irresistível e rápida, da sua vida […] angustia […] um outro universo […] Swann não podia deixar de inquietar- se quando indagava consigo o que Odette se tornaria para ele nos anos vindouros se quando indagava consigo o que Odette se tornaria para ele nos anos vindouros (Proust, 1999, p.231 [v.1]).
É dessa maneira que o Eu se forma como sujeito: reconhecendo através das reminiscências as angústias porque passou e os universos de conflito que teve de enfrentar para percorrer seu trajeto social, político e amoroso. A memória constitutiva da narratividade é a premissa formadora do sujeito proustiano – e dos sujeitos políticos. (Somente assim, exercitando-se na rede de reminiscências é que o sujeito política poderá ocupar seu verdadeiro lugar na política: ou seja, poderá agir e intervir porque se configurou como identidade de intervenção).
O esnobismo de classe presente em todo o Em Busca… transfigura-se ao longo do romance em elemento primordial na construção da subjetividade do Eu. Walter Benjamin, que podemos considerar o autor que melhor se apropriou do romance de Marcel Proust, fazendo dele teoria da história dedicou um ensaio sobre o tema do esnobismo no romancista da memória. Em A Imagem de Proust, Benjamin observa os elementos subversivos e revolucionários da narrativa proustiana quando Marcel descreve a convivência na alta sociedade francesa (2010, p. 41). Deste modo, somos constantemente balançados por pequenos sobressaltos que irrompem (ao longo do livro) quando verificamos ao convívio e os diálogos travados pelos personagens na mansão da Sra. Guermantes; somos atingidos repentinamente por estilhaços de enunciação xenófobas por indivíduos que professam a educação e o refinamento social como dever. E mais: o intransigente francesismo de Proust (Ibidem, p. 42), o cerimonial e o pormenorizado das relações – contrastam, no plano da própria estrutura da narrativa com o mundo de Sodoma e Gomorra e com os entrelaçamentos homossexuais dos personagens que ferem diretamente a moralidade burguesa da época (Bataille, 1977). Erotismo e profanação são instrumentos de ruptura e transgressão com as normas sociais vigentes: e como tais exercem papel insubstituível na crítica ao esnobismo, por conseguinte, na formação do sujeito político (Ibidem). De modo que é na luta final, ou nas lutas sociais cotidianas mais significativas que “os traços fisionômicos […] mais fortes do esnobismo da classe burguesa irão se revelar” (Benjamin, 2010, p. 45).
O documento estético que Marcel Proust nos oferece – como todo seu sistema literário formado pela memória, pela reminiscência, pelas intermitências interiores dos indivíduos, pelo esnobismo de classe e pelo reconhecimento das atitudes vindouras que esse mesmo esnobismo revelará nas lutas sociais – é peça teórica fundamental na constituição do sujeito político. É nas centelhas da memória, nos elementos detetivescos da reminiscência que a historicidade pode recuperar sua potência de ação frente ao mundo espacializado pelas imagens e seus fetiches (Matos, 2002).
Para terminar este ponto e passar às considerações finais vejamos dois dos ensaios mais proustianos de Walter Benjamin – e que compõem sua teoria da história e da política. Em Experiência e Pobreza e Sobre o Conceito de História, apropriando-se da estética proustiana da rememoração, Benjamin evoca o passado como evento constitutivo da formação do sujeito. No primeiro ensaio a observação de Benjamin demonstra que a sociedade moderna que se organiza a partir da ciência, da tecnologia, da eficácia, do desempenho incessante e da rapidez das transformações capitalistas: não permite a conformação da experiência.
A pobreza da experiência é, numa espécie de Albertine que após deixar marcas de sofrimento foge de seu companheiro apaixonado e angustiado para não ser transformada (superada) em desejo logrado, resultado de uma momento histórico em que as metrópoles e a convivência cotidiana dos indivíduos e dos grupos sociais perderam a esperança de se tornarem estilos linguísticos do patrimônio cultural decorrente do avassalador desenvolvimento da técnica e da pletora angustiante de imagens – que nos impossibilita de fixar nossas experiências mais humanas. Com o fim da possibilidade de experiência, vale dizer, com o surgimento da contingência econômica pela inflação, da contingência do corpo pela fome (corpo sem-trabalho), da contingência moral dos governantes, da contingência do capitalismo-fetiche – “surge assim uma nova barbárie” (Benjamin, 2010, p. 115). É em Sobre o Conceito de História que a recepção da narrativa e estética proustianas ficam mais “explícitas” em Walter Benjamin. Neste último escrito de Benjamin, a poeticidade político-proustiana do ensaio expressa a importância atribuída por Benjamin à questão da reminiscência e da história lembrada e relembrada como atributo constitutivo do sujeito – e do sujeito político. Com efeito, quando “uma reminiscência […] relampeja no momento de um perigo” (Ibidem, p. 224) é que irrompem no cenário político normatizado: as centelhas da esperança (Ibidem). O relâmpago ou feixe de luz fugaz que ilumina o passado dos vencidos, a tradição dos oprimidos que se revela na política; (o que poderíamos chamar da intermitência desvelada pela narrativa como em Proust) permite que os indivíduos se transformem de simples homens que vivenciam a barbárie da civilização do capital, em sujeitos históricos do conhecimento.
Ao Estado de exceção permanente, faz-se necessário rememorar e contrapor: o sujeito da transformação social, o sujeito político que sabe do Eu e/ou dos diversos Eus que foram sacrificados na construção da civilização moderna do capital. Assim, a força de identidade do sujeito político que está, neste momento, comprometido pela existência da cultura esquizofrênica, só pode ser reconstruída se, por meio de suas experiências cotidianas, esse mesmo sujeito reconhecer a narrativa que deu vida ao Estado de exceção e sua própria narrativa como ator que sofre a sistemática civilidade desse Estado de exceção, mas que é ao mesmo tempo a alternativa concreta no que concerne a uma ruptura com normalidade contínua da política de exceção na contemporaneidade. É a memória, a narrativa e a estética que nos ensinará que “precisamos construir um conceito de história [e de política] que corresponda [a] um verdadeiro Estado de exceção […] na luta contra o fascismo” (Benjamin, 2010, p. 226).
Narrativa e Arte: algumas considerações finais…
Como podemos então construir uma teoria política contemporânea, objetivando a reconstrução do sujeito político, que seja capaz de se defrontar com os problemas da ordem social vigente tendo como referência o diagnóstico de Friedrich Jameson e as teorias da história e estética de Marcel Proust e Walter Benjamin
Com Fredric Jameson vimos que a sociedade e a cultura contemporânea determinaram, ou tentam determinar por intermédio de vários expedientes, o fim da temporalidade humana. A esquizofrenia narrativa impede o indivíduo de se tornar sujeito contínuo e presciente de sua ação e intervenção na cena política atual. Os indivíduos, com efeito, não têm mais condições de reunir os fragmentos do passado e do presente – com vistas o um futuro diferenciado. O capitalismo corporativo e fetichizado por imagens, imagens essa que subsumem o tempo à espacialidade isolada, é que bloqueia aquela possibilidade. Não obstante este cenário melancólico: é o indivíduo mesmo que, por um salto ao seu passado histórico e ao seu próprio passado interior intermitente, poderá superar a situação sócio-política vigente.
Uma teoria cultural-política contemporânea deve se apropriar da estética da narração e da rememoração proustiana para ter a sensação da angústia interior dos homens das classes baixas e desfavorecidas e do esnobismo das classes sociais dominantes que configuram e dão “alma” ao Estado de exceção. (O esnobismo violento das classes sociais dominantes para com a vida e memória dos de baixo compõem uma das narrativas mais intensas no quadro da luta política luta cotidiana.) Deve, também, e, sobretudo, se apropriar da recepção de Marcel Proust na teoria da história de Walter Benjamin. A política contemporânea, e as diversas lutas sociais que ela impulsionará, dependem para o sucesso daqueles que mais necessitam dela – os sujeitos histórico-políticos da transformação social – da capacidade de narrar e rememorar sua resistência e luta social histórica; que os sujeitos estéticos e narrativos tenham capacidade de se transfigurar em sujeitos políticos da ação e da intervenção. Somente a narrativa do Eu e o conhecimento dela através da rememoração pode forjar os sujeitos mesmos e fazê-los se contraporem ao Estado de exceção histórica e ironicamente construído sobre os ombros dos homens. Proust e Benjamin são imprescindíveis na criação de uma teoria cultural-política contemporânea criativa e radical que impulsione transformação radical da sociedade vigente. Mas o debate está posto!
Bibliografia
ANDERSON, Perry. Modernismo e revolução In: Perry Anderson, Afinidades seletivas. 1a ed. São Paulo, Boitempo, 2002, pp. 101-135.
BATAILLE, Georges. La literatura y el mal: Emily Bronté – Baudelaire – Michelet – Blake – Sade – Proust – Kafka – Genet. Madrid. Taurus, 1977.
BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza In: Walter Benjamin, Obras escolhidas. 1a ed. São Paulo. Brasiliense, 2010, pp. 114-120.
_________________. A imagem de Proust In: Walter Benjamin, Obras escolhidas. 1a ed. São Paulo. Brasiliense, 2010, pp. 36-50.
_________________. Sobre o Conceito de História In: Walter Benjamin, Obras escolhidas. 1a ed. São Paulo. Brasiliense, 2010, pp. 222-235.
JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo e sociedade de consumo. Revista Novos Estudo Cebrap, São Paulo, nº 12, 1985, pp. 16-26.
MAY, Derwent. Proust. México. Fondo de Cultura Económica, 2001.
MATOS, Olgária. A cena primitiva: capitalismo e fetiche em Walter Benjamin In: Newton Bignotto (org.) Pensar a república. 1ª ed. Belo Horizonte. UFMG, 2002, pp. 87-104 .
MOTTA, Leda Tenório. A voz do outro na literatura: Proust. Revista Psicologia da USP, São Paulo, nº 5, 1994, pp. 61-72.
PROUST, Marcel. O Caminho de Swann. São Paulo. Globo, 1999.
_______________ Sodoma e Gomorra. São Paulo. Globo, 1998.
_______________ A Fugitiva. São Paulo. Globo, 19
i Em seu livro Os Filhos do Barro o poeta e ensaísta mexicano Octávio Paz afirma que uma das características da arte moderna de vanguarda é a ânsia pelo novo e pela invenção em contraposição ao tempo circular e estático da cultura da Idade Média. Ver Octávio Paz – Os Filhos do Barro. Ed. Nova Fronteira, 1984.
ii O que na teoria literária chama-se de monólogo interior. Que é um dos fundamentos estéticos do romance moderno de vanguarda. A disposição narrativa de Em Busca do Tempo Perdido pode ser encontrada no Ulisses de James Joyce, no O Processo e no O Castelo de Franz Kafka e no Mrs. Dalloway de Virginia Woolf.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

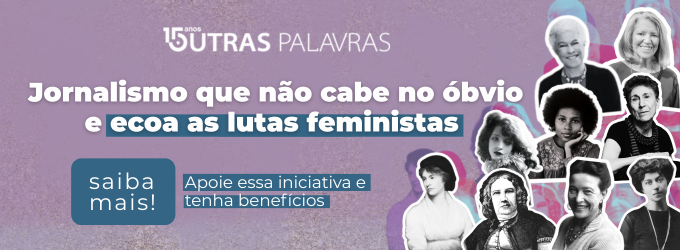

Um comentario para "Proust, Jameson e Benjamin em jornada anticapitalista"