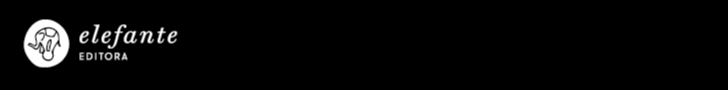Sérgio Vaz e a pedagogia dos saraus
Poeta que fundou a Cooperifa aborda o impacto da literatura periférica hoje – nas escolas, quebradas, presídios e até na “lista dos mais vendidos”. Como ela pode instigar outras visões da juventude sobre o futuro e seu lugar no mundo? “Distraídos, venceremos”, cita ele
Publicado 04/02/2025 às 19:15 - Atualizado 04/02/2025 às 19:16

Este texto integra a última edição da revista Comunicação e Educação, do Departamento de Comunicações e Artes da ECA/USP, com tema Mídia, juventude e democracia: o desafio da Educação. Leia aqui

O poeta Sérgio Vaz está dando um tempo do Sarau e da Mostra Cooperifa, movimentos de referência que instigaram a expressão e deram suporte à cultura periférica em São Paulo por mais de 20 anos. Mas o mineiro de Ladainha, morador de Taboão da Serra (SP) que desde a juventude circula nas bordas da grande metrópole arrastando muita gente pela poesia, está em plena atividade. Tem a agenda cheia com as oficinas literárias que ministra em escolas públicas de todo Brasil. Se convidam, lá vai ele conformar palavras, lirismo e realidade junto a meninos e meninas, moças e rapazes que, cada vez mais, também têm versos para mostrar, confirmando que “vida loka é quem estuda”, frase repetida por Vaz e que dá nome a uma canção do rapper MN MC¹.
Nascido em 1964 no norte de Minas Gerais, o poeta, cronista e produtor cultural chegou criança com a família para viver em Taboão da Serra. Teve vários ofícios, trabalhou no bar de seu pai, mas foi fisgado pela literatura a partir da vontade de fazer letras de música para uma banda que formou com amigos. Começou a declamar suas poesias em apresentações de rap, percebendo que a periferia tinha muito a dizer em suas diversas manifestações artísticas. Cria então o Sarau Cooperifa em 2001, iniciativa de ação cultural que se consolida no Bar do Zé Batidão, no Jardim São Luiz, bairro periférico da Zona Sul de São Paulo, aliando literatura e vida comunitária. “Povo lindo, povo inteligente!”, saudava Vaz a cada sarau, convidando esse mesmo povo a apresentar e consumir poesias e textos próprios ou de autores consagrados. O Sarau, como as Mostras Cooperifa organizadas a partir de 2007, ajudou a estruturar e a dar visibilidade à produção cultural das periferias, um fenômeno que se firmava com a publicação de autores periféricos, cobertura crescente da imprensa, multiplicação de outros saraus, e com a criação de editais públicos específicos para artistas da periferia. Consagrado como agitador cultural, ganhador de vários prêmios como Unicef (2007), Orilaxé (2010), Trip Transformadores (2011), e Governador de São Paulo (2011), Vaz publicou de sua própria lavra os livros Subindo a ladeira mora a noite (1988), A margem do vento (1991), Pensamentos vadios (1994), A poesia dos deuses inferiores (2005), Cooperifa: antropologia periférica (2008), Colecionador de pedras (2007), Literatura, pão e poesia (2011), Flores de alvenaria (2016) e Flores de batalha (2023).
Nesta entrevista para a revista Comunicação & Educação², Vaz avalia a força que a literatura negra e periférica ganhou nas últimas décadas, a importância da arte periférica na cultura brasileira e as mudanças que vivemos no pós-pandemia. “As pessoas ficaram com medo das ruas”. O poeta se debate com as promessas e contradições trazidas pelas plataformas digitais e redes sociais, aparatos que aproximam as pessoas ao mesmo tempo que as afastam; dão oportunidade de expressão, mas fecham a todos em bolhas; espalham campanhas em hashtags, mas desmobilizam as ruas. Nesse cenário, a poesia será sempre necessária, seja contra a violência e o racismo, seja como autoajuda, ou como pão para alimentar os que sonham com uma vida melhor. Vaz acredita que, embalados pela prosa e pela poesia que ampliam os horizontes periféricos, “distraídos, venceremos”, citando Leminski ao falar da pedagogia de seus saraus.
Comunicação & Educação: O Sarau Cooperifa e a Mostra Cultural da Cooperifa, que teve 14 edições de muito sucesso, estão por ora suspensos. Por que essa pausa, poeta? Qual foi o acúmulo dessas atividades?
Sergio Vaz: A Cooperifa encerrou suas atividades depois de 22 anos pra gente ter um momento de reflexão, um ano sabático, para entender o que a gente estava fazendo. A gente percebeu que o mundo tinha mudado muito depois da pandemia. A juventude, a quebrada tinham mudado. A gente achou que era necessária essa pausa, sair de cena. Como disse Saramago, sair da ilha para ver a ilha, né? E procurar descansar também, porque são 22 anos trabalhando na comunidade, junto com a várzea, junto com a quebrada, e é cansativo também. Eu acho que na maioria das vezes a gente não corrige os nossos erros porque não para pra refletir. A gente vai trocando o pneu com o carro em movimento e não percebe que o carro já está desenfreado. Percebemos que tinha muita gente indo no sarau achando que era um evento. A pessoa chegava lá e já chegava gravando um vídeo. A gente tem que explicar que o sarau não é um evento, é um movimento. A Cooperifa tem um propósito de criação poética, de incentivo à leitura. Em relação à pandemia, a gente estava com aquele discurso de que vai todo mundo sair melhor. Eu achei que as pessoas saíram com mais medo das ruas, ficaram pensando mais em si próprias. Hoje em dia você liga para o amigo e fala: “posso te ligar?”. É quase uma invasão. Você manda uma mensagem no WhatsApp e ela te manda um foguinho, um emoji como resposta. Mano, a comunicação agora é assim. E a gente estava acostumado ali no sarau que era nosso terreiro, nossa igreja, nosso quilombo, com aquela troca de afetos e lágrimas, de sorrisos, aquela coisa real do ser humano, né? E a gente sentiu que o povo estava diferente depois da pandemia. Hoje, todo mundo acha que quando faz uma hashtag Fora Temer, o Temer vai se sensibilizar e sair. Então perderam esse apetite das ruas. A gente está tentando influenciar o mundo real através do mundo virtual e isso é totalmente contraproducente. As pessoas estão pensando que vão mudar o mundo no virtual. Se estão pensando isso, quem deve estar errado somos nós. Então, fomos pensar no que estávamos fazendo.
C&E: Cultura e periferia são noções em constante construção. O Sarau da Cooperifa e a Mostra Cooperifa foram grandes núcleos de formulação da ideia de cultura da periferia. Quais são os elementos que dão base à cultura periférica?
SV: Eu acho que a cultura de periferia é quase uma antropofagia. É quando ela pega todas as culturas e artes existentes, canibaliza e realiza de forma periférica. O futebol de várzea talvez seja a maior cultura que temos na periferia. São as pessoas que sonhavam ser jogador de futebol, e que no final de semana realizam seus milagres em nome dos seus clubes, para alegria dos moradores do seu bairro. Você não tinha aqui a cultura do cinema. Aí você cria o cinema na laje, como o da Cooperifa, onde exibimos filmes de pessoas da periferia para a periferia. Então a pessoa começou a olhar o cinema com a cara dela. Pessoas com 60 anos, a primeira vez que foram ao cinema foi numa laje, assistindo a um documentário feito por alguém que provavelmente morava no mesmo bairro e que viram pessoas parecidas com elas na tela. Bonito ver a vida dela, e nem sempre pedindo esmola, nem sempre sendo assassinada, né? Quando trouxemos o teatro, um senhor agradeceu e disse que poderia ter morrido sem nunca ter ido ao teatro. Aí você percebe que era isso que a gente estava fazendo ali, evitando que as pessoas morressem sem ter direito à literatura, sem ter direito ao cinema, sem ter direito ao teatro. E aí as pessoas começam a ir pro sarau e começam a falar assim: “a dona Maria tá fazendo poesia, isso eu também sei fazer”. A periferia foi se assanhando. Eu sou fruto do hip hop, comecei a fazer poesia em show de rap. Então já surgia ali, nos anos 1980, essa ideia de “sou da periferia, e daí?”. E eu fui aprender ali. E aí começa a se formar um cidadão através da poesia, que é apenas uma isca para trazer a pessoa para o mundo das artes.
C&E: Qual é a importância da literatura marginal-periférica e da arte de periferia em geral na conformação dos discursos sobre a periferia no Brasil dos anos 2000 para cá?
SV: Em 1996, essa região do Jardim Ângela, do Capão [Redondo]³, foi considerada o lugar mais violento do mundo pela ONU [Organização das Nações Unidas]. De uma sexta-feira a um domingo foram 52 assassinatos. Então, nós que morávamos ali, para arrumar emprego, tínhamos que mentir que morávamos em outro lugar. Aí, com a arte, a periferia se apropriou do discurso de cidadão: eu moro onde tem os caras da Cooperifa, eu moro onde tem sarau, onde moram os Racionais. Então ele começa a ter um lugar, e ele começa a pensar em estudar, porque a palavra começa a alimentar essas pessoas de uma forma que nunca tinham sido alimentadas dentro da escola ou dentro do trabalho. Com a poesia nos saraus, eles começam a ouvir pessoas falando de sonho. De onde viemos, a ninguém é permitido sonhar, tanto é que o sonho era limitado a você ser jogado de futebol, né? Hoje em dia a molecada está no Enem [Exame Nacional do Ensino Médio], quer entrar na faculdade. A poeta Teresinha [Paiva] escreve: quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Eu acho que as pessoas começaram a se sentirem iluminadas, a querer um pouco mais. O discurso mudou porque perceberam que podiam e que queriam mais. Eu acho que a literatura, a cultura e a arte foram a ferramenta dessas pessoas. Quando você quer mais, você vai à luta.
C&E: Quais são os impactos dessa afirmação cultural periférica na cultura mais geral do país? Algo mudou na percepção das elites em relação à periferia e da periferia em relação às elites?
SV: Em relação às elites não mudou nada, mas em relação à classe média, sim. Porque a classe média começou a fazer o caminho inverso, sair de lá para vir aqui ver o que a gente estava fazendo. E começou a perceber que nós não éramos belicosos do jeito que todo mundo fala, que a gente também fazia cultura. E a gente também começou a perceber que existem pessoas [da classe média] que são da hora, entendeu? E que essa aproximação, esse entendimento, é fundamental para o crescimento do país. Acho que quanto mais gente se une é muito melhor. Mas quando a gente começou a gritar, a gente pensou em gritar para acordar os nossos. Entendeu? Não era para fazer sucesso para sair da ponte. Era para fazer sucesso aqui onde nós estamos, para que o nosso vizinho saiba o que estamos fazendo, e para ele se manifestar também. Então acho que o impacto foi esse, e a forma foi tão simples, poesia num bar, que uma pessoa que vinha de outro bairro periférico falava assim: “nossa, isso eu não tenho no meu bairro”. Faça no seu bairro, faça no bar, faça debaixo da ponte, faça na praça. Aí as pessoas começaram a fazer e praticar a literatura. Agora, para a elite tanto faz o que acontece aqui, de bom ou de ruim. Talvez eles nem saibam que a gente existe, a não ser quando fazem as contas no banco e veem que a gente quer mudar a lei da escala 6×1. Acho que eles imaginam: “o que que esse povo quer? Quer descansar dois dias?”. Acho que o nosso aliado e o nosso inimigo é a classe média. Porque uma parte pensa que é rica, né? E outra parte entende que é trabalhadora. E essa nos interessa. E a cultura do país enriqueceu, houve o reconhecimento do que já estava aí. Hoje a molecada do funk com 20 anos já está milionária. Se você pegar os livros mais vendidos são de autores e autoras negras: Conceição Evaristo, Itamar Vieira, Jefferson Tenório, Joice Berth, Eliana Sousa. Vieram à baila Tony Morrison, Grada Quilombo, bell hooks, Carlos Assumpção, Chimamanda [Ngozi Adichie]. Essas vozes eram silenciadas. Elas já existiam, mas foi preciso a gente ouvir aqui no porão para que elas chegassem lá. Elas chegavam como formas exóticas, mas aqui elas chegaram com força, como alimento, como pão, como trigo e isso fez com que a gente criasse força. No ano passado, na Mostra Cultural, a gente trouxe a Conceição Evaristo, tinha uma fila quilométrica para ver a escritora no nosso bairro. Então acho que esse foi o impacto que não teve como segurar. A gente sempre produziu ideias, mas eu, por exemplo, quando era jovem, achava que fazer sucesso era aparecer no Fantástico e no Jô Soares. E a gente descobriu com o tempo que o sucesso não era mudar da periferia, era mudar a periferia. Então acho que foi isso que impactou o Brasil, a gente quis mudar na periferia e não mudar da periferia.
C&E: O que é distintivo e o que há de comum nas expressões artísticas das periferias e das elites? A arte na periferia é mais engajada politicamente?
SV: É necessário, porque a nossa literatura negra periférica está recontando a história, está reconstruindo a história. Está dizendo, por exemplo, nós não fomos escravos, nós fomos escravizados, né? Só que a história está reconstruindo pessoas, ela tem uma utilidade. Além de belas, as palavras precisam ser úteis. Então, se você pegar, por exemplo, um filósofo da academia, importante, não tiro o mérito, ele vai escrever que Nietzsche, em Assim falou Zaratustra, não estava certo, que estava errado. O outro vai dizer que ele estava certo, o outro que virá vai dizer que não estava tão certo, e vai ficar essa discussão. E a nossa literatura está precisando de soluções para que acabe o racismo, para que acabe a fome, para que acabe a violência policial, para que a gente tenha emprego, que a gente tenha moradia. A gente precisa contar a história desse povo. Então, a gente ainda não teve tempo de gozar a nossa humanidade, como essas pessoas se expressam, esses escritores maravilhosos. A gente ainda precisa contar. A Conceição Evaristo chama de escrevivência, né? Acho que essa é a expressão correta, nós estamos escrevendo a nossa experiência. A gente ficou tão, tão, fora do centro das coisas que é preciso contar do começo. E as pessoas estavam esperando os artistas da periferia se somarem ao que estava sendo feito. Não, nós temos que contar de um outro jeito.
C&E: Você considera que essa narrativa, esse pé na realidade, antecede a aspiração filosófica?
SV: Não, acho que não. Nós temos nossos filósofos, que não são da academia, como Saloma Salomão, Allan da Rosa, Rosane Borges, Joice Berth. O que eu quero dizer é que essa literatura não estava acostumada a frequentar as prateleiras das livrarias. Porque as pessoas não se interessavam em ouvir a história de quem viveu a história. Quem viveu a história? Foi o Sérgio Buarque de Holanda? Não, ele tem uma ideia, ele fez uma pesquisa, e nós vivemos. Só que através de nossas histórias a literatura se transforma em coisas riquíssimas, porque há lirismo nisso, há dramaturgia, há filosofia. Agora quem vem de fora, acha bonitinho, vê o exótico. Não vê entendimento, não vê literatura, não vê grandeza, não vê arte. Só acha que se ele puser a mão, fica melhor. Há um texto do João Antônio, chama-se “Zicartola” [o bar que o compositor Cartola e sua mulher, dona Zica, tinham no Rio de Janeiro], que é um exemplo clássico. A classe média começou a frequentar o bar, mudar o bar, a favela foi embora, a classe média consumiu, depois não gostou mais e acabou. É mais ou menos assim, eles questionam: “esses caras fazem poesia, mas isso é poesia?”. Mas ninguém está pedindo autorização, ninguém está perguntando se é ou se não é. Nós estamos fazendo. A Cooperifa fez as Mostras Culturais que trouxeram Mia Couto, Djamila Ribeiro, Daniel Munduruku, Chacal, Danilo Miranda, do Sesc. Estiveram aqui, de graça, na nossa quebrada, no bar, na escola pública, debatendo. A Zezé Mota entrou cantando: “Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil…” [trecho de “Canto das três raças”, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro].
C&E: Mais de uma vez você afirmou que um dos grandes objetivos do Sarau Cooperifa era formar leitores na quebrada. Além do sarau, a Cooperifa tem um projeto de oficinas de literatura e poesia nas escolas. Qual é o apelo dessas atividades literárias na formação de jovens e adultos?
SV: Acho que é preciso ensinar as pessoas a praticarem literatura. É diferente você falar para um jovem que nunca fez poesia, explicar para ele o que é, e fazer ele fazer a poesia e falar depois. Então, quando a gente vai na escola, faz uma oficina e depois faz o sarau, são os jovens falando e se ouvindo. O professor começou a perceber através da poesia dos alunos quem sofre racismo, quem sofre bullying, quem sofre abuso, quem apanha do pai. Ou seja, é a literatura salvando vidas, literalmente. São as pessoas pedindo ajuda através da poesia. Nosso projeto se chama Poesia Contra Violência e que já faço há 20 anos. Toda semana vou em escolas públicas. Vou lá, faço sorteio de livros, distribuo cartões postais com poesia, e falo da importância da escola e da literatura. A minha poesia, dada como simples, se espalhou na educação. A literatura, que é um código da elite, está sendo apropriada e está comendo solta na mão da molecada. A ideia da Cooperifa era dessacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Então nós precisamos ir atrás desse sagrado. E como? Simplificando.
C&E: E o que você escuta dos jovens nas escolas? Estão interessados, ou estão dispersos, alheios à educação e mais ligados no celular?
SV: O jovem incluiu a poesia no seu rolê cultural. Eu gosto de funk, eu gosto de trap, eu gosto de samba, eu gosto de sertanejo e gosto de poesia. E as redes sociais ajudaram muito nisso, porque ele pode se gravar recitando um poema. Existem inúmeros saraus acontecendo no Brasil, slams e batalhas de rimas. Eles têm onde se expressar. E eles não tinham. A minha geração teve que criar o sarau para ter. Então essa juventude já chegou com o mato ceifado. Já tinha um caminho para trilhar. Então a escola também entendeu, a educação entendeu, que isso é uma ferramenta poderosa também, a aliada à educação. Então nunca se falou tanto de poesia como se fala hoje. Desde o tempo de Carlos Drummond, de Ferreira Gullar, João Cabral, onde tinha uma efervescência, trocavam cartas pelos jornais, falavam de poesia, mas era restrito. Essa aqui veio do povo, o sarau nasceu no boteco. Já há alguns anos que eu não vou mais nas escolas para falar poesia sozinho. Tem sempre seis, sete, dez jovens que fazem poesia e querem falar também. E eu aprendo muito nas escolas. Eu estudei muito pouco, né? Fiz só até o colegial [Ensino Médio], e eu percebi que, indo nas escolas, eu tinha voltado a estudar. E voltando às escolas, eu descobri a grandeza do professor e da professora da rede pública, que são as melhores pessoas desse país, e como elas são injustiçadas, como elas são abandonadas pelo governo, ignoradas pela mídia e pela sociedade, e que a escola é o melhor lugar da quebrada. É isso que eu aprendo todos os dias, quando eu vou numa escola. Eu acho que os professores, muito mais do que respeitados, têm que ser protegidos.
C&E: E o que tem de pedagógico nos encontros literários fora das escolas, nas trocas de experiências cotidianas que os saraus proporcionam?
SV: Distraídos, venceremos, como diria Leminski. Eu diria que é isso, nossa pedagogia é: distraídos, venceremos. Sabe por quê? A Cooperifa teve um projeto chamado Várzea Poética que patrocinava os jogos de camisa de dez times de futebol da quebrada. Em troca, os jogadores tinham que ir ao Sarau da Cooperifa. Então você vai pegar a boleirada, onde está o machismo ali, uma cultura bem hermética. Aqueles caras que nunca foram a um sarau chegam lá e tem uma menina falando contra o machismo. E aí eles falam: “qual é a dessa mina?”. Mas aí você dá a chance de ouvirem e pensarem. E sem perceber, percebendo, as ideias começam a mudar. E também sobre política. A gente nunca fala diretamente de política. Se entende que o sarau é um movimento nem de esquerda e nem de direita, que é do porão. A gente vota na esquerda porque é o que está mais próximo do que a gente pensa, mas o que a gente quer mesmo é essa revolução mental, que as pessoas se apropriem da própria vida. Tem gente que vai e depois fala: “eu não sabia que estava acontecendo no Brasil, eu não sabia o que acontecia comigo. Eu pensava que o patrão era meu Deus”. Então acho que o que tem de pedagógico é isso: distraídos, venceremos. Porque ninguém na periferia gosta de ser tratado como burro e ignorante. Mas distraidamente vai pegando uma ideia aqui, outra ali, vai dando uma desconstruída.
C&E: A consolidação do Sarau da Cooperifa e mesmo da literatura periférica passou pela construção de redes de apoiadores fora da periferia, como o Itaú Cultural, a Ação Educativa, imprensa, acadêmicos e artistas. Há contradição entre essa cooperação e a ideia de independência, de “nós por nós”, que está na base do discurso periférico?
SV: Há contradição. Mas, como a gente ia fazer as coisas que a gente fez sem ter esse apoio? A nossa contrapartida era: nós fazemos o que nós queremos. Fazemos o que nós pensamos. Então, nem o Itaú Cultural, que foi muito importante, e nem o Sesc, que talvez tenha sido nossos maiores apoiadores, nunca chegaram para mim e disse: olha, isso não pode e isso nós não queremos. Tanto é que as pessoas que nós formamos na Cooperifa se apresentaram no Itaú Cultural. Então, foi uma quebra de paradigma. A gente tem que entender, e eu falei, que não vai ser o cara do mercadinho aqui que vai nos ajudar. E o que eu quero é muito mais do que isso. Então me sujeito a ser crucificado, salve seu mundo com a minha dor, como diria Lupicínio Rodrigues.
C&E: Mas qual seria a contradição, então?
SV: A contradição é a desse discurso independente que a gente tinha. E as pessoas falavam: “ah, mas vocês estão sendo ajudados por um banco”. Mas o Itaú Cultural é um instituto que usa dinheiro público, com as leis Rouanet disso, lei Rouanet daquilo. E o Instituto Itaú são pessoas que olharam pra gente e pensaram: “dá pra colocar esse discurso aqui”. E nós estamos falando de 20 anos atrás. Agora é tudo nosso, digamos assim. Mas era preciso experimentar, era preciso ver para crer. Eles estão estendendo a mão para você, então vamos pegar a mão dessas pessoas e vamos ver. E deu tudo certo. Aliás, eu só tenho a agradecer pelo respeito com que eu e a Cooperifa fomos tratados. Nós fomos fazer um sarau na Rocinha, no Rio de Janeiro. O Instituto Itaú bancou o ônibus e o hotel para levar 44 pessoas daqui. Era a primeira vez que muita gente ficava num hotel, quase 90% nunca tinha ido ao Rio. Como eu posso recusar isso em nome da minha ideologia e não deixar o evento acontecer? Meu desejo, a minha ideologia, não estão acima da minha comunidade.
C&E: Assim como em todos os lugares, os serviços das plataformas digitais perpassam a vida nas periferias, no trabalho, comunicação, diversão e consumo. Em troca, todos entregamos dados pessoais, registros de vida e conhecimento a essas plataformas. Quais mudanças você percebe na periferia, seu cotidiano e sua expressão com a chegada das plataformas e redes sociais?
SV: Eu acho que as mudanças foram para o bem. As pessoas estão mais próximas, apesar de estarem distantes. Eu sou do tempo que a gente não podia ir no bairro do lado porque arrumava briga. Hoje essa molecada tem uma mobilidade, tem mobilização, tem informação o tempo inteiro, full time. Você ficava aqui no bairro ouvindo a música que tocava no rádio, porque os caras pagavam uma música pra tocar e aquilo virava lei. A gente era obrigado a curtir aquela música sabendo que não tinha nada a ver com a gente. É o caso do Cazuza. É poeta lá pras negas dele, digamos assim. Como é que a gente pode ouvir “Dia de luz, festa do sol, e o barquinho deslizando…” morando aqui, num lugar extremamente violento, uma música que nos amortece. Isso não tira a qualidade dela, não é disso que eu estou falando. Mas a partir do momento que você pode ouvir coisas sobre o que tá acontecendo no seu bairro, é ferramenta para você dialogar. Antigamente você tinha que ir num show, comprar um disco, e hoje está tudo na palma da mão. Agora foram não sei quantos anos da morte de Malcolm X e vários moleques colocaram foto nos seus perfis e assim estão dizendo o que pensam. As meninas vão na literatura negra feminina, a Grada Quilombo, a Chimamanda, com isso estão dizendo o que pensam. Então tem um perfil ali, eu sou esse perfil, e talvez na rua era mais difícil você explicar quem você era, porque não tinha tempo desse diálogo inteiro. Então se eu entro na sua plataforma digital, eu já sei mais ou menos como você pensa. Se alguém vai me contratar, ele já dá uma sacada em mim. Então isso ajudou. Ah, qual é a contrapartida que é ruim? É ruim que é distante, a gente parou de conversar diretamente, parou de trocar ideia, trocar afetos, é tudo muito distante. Mas a tecnologia é implacável. Eu não vou contra tecnologia, eu vou resistir até onde dá. Agora eu coloco meu livro na livraria e ele não chega da mesma forma do que quando eu vendo pelo site. Agora eu coloco uma poesia aqui e eu tenho 15 mil pessoas curtindo, 20 mil. Eu aviso que vou estar em tal lugar, levo 100 livros e eu vendo 100 livros porque a pessoa sabe que eu vou estar em tal lugar. E isso se deve à minha própria mídia. Eu não tinha mídia, eu estava esperando o jornal Bom Dia São Paulo para anunciar o meu evento, e ele não vai anunciar meu evento. O jovem agora não precisa se humilhar para uma editora, não precisa se humilhar para um estúdio. Ele mesmo grava a música dele, ele filma, põe no Spotify, põe no Youtube, ele ganha dinheiro ali mesmo. Olha, nos anos 70, 80, nossos artistas, entre tantos maravilhosos, quantos a gente não conheceu porque tinha que pagar o jabá, pagar para ir no Faustão. Hoje você tem 500 podcasts. As pessoas falam que tem muito podcast, eu não acho não. Tem muita gente para falar! Você só tinha a Marília Gabriela e o Jô Soares, só eles dois ali pra gente ouvir as pessoas falarem sobre política, sobre futebol, sobre qualquer coisa. E quem ia lá falar? O Caetano? O Gil? E nós? Não tinha a nossa fatia, entendeu? Então, como que não é bom? É bom sim. Agora, o que vai virar com a inteligência artificial, eu não sei. A tendência é uma nova ordem mundial. A inteligência artificial vai tomar conta, e é isso aí. Todo mundo aplaudindo, ninguém controla. Hoje o Elon Musk é quase o presidente dos EUA [Estados Unidos da América]. O Suplicy vai colocar a renda mínima mundial, que vai ter que ter uma renda mínima porque o povo já está à míngua. Eu acabei de ver agora as entregas por drones na China. Quer dizer, aquele emprego que você achava que não ia ser substituído, com o cara de moto 12, 14 horas por dia, você vai ter um drone que faz entrega 24 horas por dia. Você vai fazer o quê com essa pessoa que dirigia a moto? O que eu acho que é ruim na internet, nas redes sociais, é que todo mundo acha que tudo vai ser resolvido ali. Esquecemos que a gente precisa conversar, que precisa sentar, que precisa ir para a rua. Se a gente quiser acabar com essa escala 6×1, é preciso que os políticos vejam a gente na rua. No Rio Grande do Sul [Porto Alegre], o Sebastião Melo foi um dos responsáveis por aquela enchente e ele foi reeleito massivamente. Em Valença [na Espanha], com as enchentes as pessoas foram à rua e jogaram lama no rei. Essa é a diferença das redes sociais, elas servem para adestrar. É como se eu colocasse lá “Fora Bolsonaro” e pudesse ir para a praia porque eu já fiz a minha parte. E que o Bolsonaro olhasse e falasse assim: vou sair de cena. Então as pessoas não se importam mais, esse é um grande problema. Elas se importam com si próprios, e ninguém tá ligando para ninguém. E as redes ajudam isso, ajudam a potencializar. Elas podem ser uma ajuda para alguma coisa, mas ela não pode ser referência. A luta pelo fim da escala 6×1 é uma chance da esquerda ressuscitar o panfleto, entregar nas portas das fábricas, do comércio. A quem interessa mudar a escala 6×1? Aos trabalhadores. O cara tá no ponto de ônibus, eu duvido que ele não tenha tempo de ler um panfleto. Ah, mas tá na internet. Na internet ele não segue você. O algoritmo coloca cada um com o seu cada um. Quem segue o Bolsonaro, só vai ver notícias de Bolsonaro. Quem segue o Boulos, só tem notícia do Boulos e assim sucessivamente. Então é preciso furar a bolha fazendo o quê? Uma coisa antiga.
C&E: No seu último livro, Flores da batalha, você contempla o corre de homens e mulheres da periferia por sobrevivência, na batalha. Essa luta sempre existiu. Mas essa luta é mais difícil hoje, poeta? Qual é a pauta da periferia?
SV: Eu acho que a pauta hoje é o fim do racismo.
C&E: Aí eu tenho que perguntar: ainda?
SV: Bom, o Ryan, que acabou de morrer com quatro anos, é capaz de responder lá do céu para você: “ainda!”. Eu acho que essa pauta é a mãe de todas, porque se acabar com o racismo, acaba com tudo. Se você imaginar uma loja na periferia, o dono vai escolher na cabeça dele a menina mais bonita para trabalhar lá. Se o cara for escolher entre uma menina negra, ainda que seja bonita, e uma menina branca, ele talvez escolha a branca. Então acho que esse ainda é o grande problema. Porque eu acho que a vida do pobre em São Paulo, não vou falar por toda a periferia, deu uma melhorada. Não do jeito que a gente queria, mas não é do jeito que estávamos. Você vai chegar numa quebrada hoje, dificilmente você não vai ver uma geladeira, uma TV e um micro-ondas. Não é luxo, é necessidade. Lógico que ainda vai ter a miséria, a pobreza, mas ela mudou em relação à da minha geração. Mas o racismo não mudou, ele continua o mesmo. A polícia do Tarcísio já matou este ano mais do que no ano passado. E quem são as pessoas que morrem? São os negros. Eu estive agora em um presídio em Araçatuba que tem um projeto chamado Remissão de Pena por Leitura de Livros, que é fantástico. A cada livro lido, o cara ganha quatro dias de liberdade. Aí você vê que a maioria lá são negros. Aí eu fui ao presídio de Guarulhos, negros. Uma juíza em Porto Alegre inocentou dois jovens, e na sentença ela colocou meu poema “A vida é loka”. Ela libertou os moleques e disse: “vocês deveriam estar estudando, e se não estão, a culpa é do Estado”. O poema diz assim: “Esses dias eu vi um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. Um cara sem Nike no pé indo para o trampo com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus”. E assim vai… Então eu acho que a pauta ainda é o racismo estrutural, pessoal, individual, ambiental, de toda forma que você imaginar. Tem uma enchente, quem que vai sofrer com as mudanças climáticas? Esse é o problema a ser enfrentado.
C&E: O poema “Faz teu corre”, no livro Flores da batalha, tem um quê de autoajuda, no sentido de dizer: vá, continue, insista… Estou interpretando errado?
SV: Não, não está errado. É porque no pós-pandemia eu encontrava as pessoas na rua e estava todo mundo doente. Ainda estamos doentes, né? E as pessoas falavam: “Vaz, está difícil”. E eu sempre falava: “meu, faz seu corre, mano”. E falavam: “ô Vaz, eu fiz uma música e a música não vira…”. E eu falava: “você não gosta de cantar, de fazer música? Então faça! Se você gosta, continue fazendo, porque pelo menos você está ouvindo o que você gosta”. E aí você percebe que falta uma palavra. E eu queria escrever um poema sobre isso. O Ferreira Gullar, que foi um poeta bunda mole, foi importante uma certa época, depois ele falou mal da literatura negra, era contra as cotas raciais, mas, antes disso, escreveu “o canto não deve ser uma traição à vida. E só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz”. E eu sempre pensei nisso. Eu queria escrever uma coisa que arrastasse pessoas. Então essa “Faz teu corre” era pra isso. E eu percebi que as pessoas usavam isso. O retorno que eu tenho é: “caralho, mano, quando estou meio assim, eu leio isso”. E é isso. Se é de autoajuda, se tem lirismo, pra mim pouco importa, porque a pessoa que recebeu falou: “essas palavras têm utilidade pra mim”.
A vida é loka
Esses dias tinha um moleque na quebrada
com uma arma de quase 400 páginas na mão.
Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia.
Um cara sem nike no pé indo para o trampo com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus.
Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando
versos na calçada.
O tráfico de informação não para, uns estão saindo algemado aos diplomas depois de
experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias, coniventes, estão em êxtase.
Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os Datenas.
A Vida não é mesmo loka?
Faz teu corre
Faz teu corre,
bota tudo que é no que faz
e se joga no que acredita.
Não confie no tempo,
os dias são canalhas,
eles te enchem de beijos
sussurram nos ouvidos
promessas de futuro,
depois te larga no passado.
Lute agora
enquanto os olhos brilham
e sonhe com as mãos,
pois seja qual for o resultado,
vai ter que viver com o acontecido.
É e bem melhor conviver
com as cicatrizes da batalha
do que com a vergonha
de ter fugido.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras