O intelectual entre a torre de marfim e o mundo cruel
Notas sobre sua crise existencial no século XXI. De um lado, uma academia elitista e afastada das realidades concretas. De outro, as fake news e “verdades” superficiais. Como, então, recuperar seu compromisso ético e político com o mundo?
Publicado 03/02/2025 às 19:38

A figura do intelectual no século XXI atravessa uma crise existencial sem precedentes. De acordo com a visão clássica, o intelectual vai além dos limites de sua especialidade para se engajar nas questões mais urgentes de seu tempo. Para Jean-Paul Sartre, pensar criticamente é uma obrigação ética e política, e o intelectual deve ser um agente de transformação, revelando as opressões sistêmicas e trabalhando em prol da emancipação humana. Porém, o cenário contemporâneo, marcado pelo academicismo estéril e pela falsa neutralidade técnica, obscurece esse papel, relegando-o ao ostracismo ou à irrelevância social.
Em vista disso, o academicismo moderno, com sua desconexão das demandas sociais, se vê imerso em debates autorreferenciais e em produções intelectuais que, embora rigorosas em método, carecem de impacto prático. Paralelamente, a imprensa, outrora um bastião da verdade e do esclarecimento, sucumbe à lógica mercadológica do sensacionalismo e das narrativas enviesadas, oferecendo ao público uma dieta intelectual superficial e manipuladora. A ascensão da “neutralidade técnica” contribui ainda mais para essa crise. Essa ideologia dissimula compromissos políticos e econômicos sob a pretensa imparcialidade científica, ignorando as implicações éticas e sociais do conhecimento. Para Sartre, tais tendências são manifestações de uma alienação profundamente enraizada, na qual o intelectual que se recusa a assumir a responsabilidade de seu saber abdica de sua liberdade e, consequentemente, de sua humanidade. Ao invés de se refugiar na abstração ou na tecnocracia, o intelectual deve enfrentar os desafios de seu tempo, resistindo às forças que buscam despolitizar e mercantilizar o pensamento crítico.
Contudo, essa responsabilidade intelectual encontra um obstáculo crescente na cultura anti-intelectualista que permeia o mundo contemporâneo, especialmente sob a influência de figuras como Olavo de Carvalho. O sistema de crenças que ele promove se tornou emblemático do anti-intelectualismo característico do discurso público contemporâneo. Carvalho, ao se posicionar como crítico das instituições acadêmicas, da ciência e da mídia, construiu uma narrativa que rejeita as bases epistemológicas do pensamento moderno. Para ele, a academia e a ciência não são fontes legítimas de conhecimento, mas instrumentos de uma “elite globalista” empenhada em subjugar as massas. Essa retórica simplificadora, ao reduzir problemas complexos a explicações conspiratórias, encontra forte apelo em uma sociedade saturada de desinformação e polarização.
A materialidade dessa estrutura, em percepções amolas, comprova que, de forma boçal, a ascensão de figuras com ideais olavistas também contribui para a corrosão da confiança nas instituições do saber. Em seu lugar, prevalece um discurso pautado na emoção e na crença dogmática. Ao se posicionar como um outsider que desafia o establishment, Carvalho incorpora o arquétipo do anti-intelectual carismático, cuja rejeição ao rigor acadêmico é vista como um sinal de autenticidade. Contudo, essa cultura anti-intelectualista não se limita a desacreditar o conhecimento; ela promove uma inversão de valores, onde a ignorância é glorificada como virtude e o pensamento crítico é vilipendiado como arrogância elitista. Nesse cenário, o legado sartriano de engajamento intelectual parece ameaçado, uma vez que o próprio ato de pensar se torna subversivo em um contexto em que o obscurantismo encontra terreno fértil.
Esse extrato conjuntural da atualidade delineia uma crise do intelectualismo moderno, imerso em dilemas e contradições que comprometem sua capacidade de cumprir a função crítica e transformadora que tradicionalmente lhe foi atribuída. Jean-Paul Sartre, um dos mais importantes pensadores do século XX, abordou de forma incisiva a condição do intelectual na sociedade moderna. Para ele, o intelectual não deve ser um mero observador, abstraído e indiferente às lutas concretas, mas um sujeito ativamente engajado na construção de uma realidade mais justa e humana. Sartre criticava aqueles que se distanciam dos problemas existenciais e sociais em favor de uma reflexão impessoal e desvinculada das condições de opressão e injustiça que marcam o cotidiano. Na sua visão, o intelectual deve assumir uma postura de intervenção, questionando as estruturas de poder e atuando como mediador entre a arte, a filosofia e as realidades sociais. O intelectualismo, para Sartre, é mais do que uma simples prática de conhecimento teórico; é um compromisso ético e político com o mundo.
Entretanto, no cenário atual, essa concepção do intelectual como agente de transformação parece diluída, ou ao menos fragmentada, por um fenômeno crescente de academicismo estéril, que também ecoa nas reflexões de Antônio Gramsci. A teoria gramsciana distingue entre intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos. Enquanto os intelectuais tradicionais estão integrados às instituições que reproduzem as estruturas de poder estabelecidas, os intelectuais orgânicos emergem das classes subalternas e são responsáveis por articular as demandas populares. Gramsci adverte contra a tendência dos intelectuais tradicionais de se isolarem em uma academia descolada da realidade social, uma postura que, longe de contribuir para a transformação, acaba por servir aos interesses da hegemonia dominante. A crítica contemporânea ao cientificismo exemplifica a crise do intelectualismo no século XXI. O cientificismo propaga uma visão da ciência como neutra e objetiva, uma entidade que detém todas as respostas e deve ser seguida sem questionamentos. Esse saber excessivamente especializado, ao perder de vista as condições sociais, históricas e culturais que envolvem a produção do conhecimento, reforça mecanismos de opressão e exclusão. A filósofa Marilena Chaui, em sua obra A Ideologia do Poder (1995) e O que é Ideologia (1995), argumenta que o intelectual não pode se furtar ao seu compromisso social. Para ela, o intelectual deve ser um militante no sentido amplo de se comprometer com a luta por um mundo mais justo, refletindo criticamente sobre os mecanismos de poder que estruturam a sociedade.
Nos últimos tempos, a polarização crescente do debate público tem reduzido as questões intelectuais a confrontos ideológicos desprovidos de profundidade crítica. Esse processo, intensificado pelas redes sociais e pelo fortalecimento de discursos populistas, fragmenta a intelectualidade, tornando mais difícil o consenso teórico e o debate democrático e plural. A consequência disso, como alerta Chaui, é o que ela denomina de “suicídio da intelectualidade”, um processo no qual os intelectuais, ao se submeterem às dicotomias políticas, perdem sua capacidade crítica e sua autonomia. Nesse cenário de radicalização, o intelectual se vê forçado a tomar partido de forma simplista, correndo o risco de se tornar um mero instrumento de legitimação das disputas ideológicas.
A crise do intelectualismo no século XXI, portanto, é marcada pela tensão entre o compromisso com a transformação social e as pressões de um ambiente acadêmico cada vez mais afastado das realidades concretas. A fragmentação do debate público e a ascensão de um cientificismo redutor criam um dilema profundo: ou o intelectual se aliena em uma torre de marfim, sem interagir com as questões urgentes de seu tempo, ou se submete a um campo ideológico que limita sua capacidade crítica e autonomia. Para retomar sua função histórica, o intelectual precisa recuperar a coragem de se engajar nas lutas sociais e políticas de seu tempo, rompendo com a neutralidade imposta pelo cientificismo e resgatando a militância crítica como princípio orientador de sua prática. Só assim poderá contribuir para a construção de um futuro mais justo e humanizado.
Além disso, a letargia que assola as instituições educacionais no século XXI é consequência de um processo histórico de perversões estruturais, marcado pelo empobrecimento do pensamento crítico e pela banalização do saber. Esse fenômeno encontra terreno fértil na busca por respostas rápidas e fórmulas simplistas, que desconsideram a complexidade das questões sociais e políticas. A imprensa, em vez de atuar como um agente esclarecedor, tem cumprido o papel de disseminadora de falácias, criando um discurso superficial que obscurece a realidade e impede a reflexão crítica. Esse saber fragmentado, amplificado pela mídia, torna o público incapaz de questionar o status quo e o intelecto, em vez de ser um bastião da crítica, é corrompido pela pressão de um mercado que exige conformidade com as expectativas do momento.
Em um contexto como esse, o elitismo intelectual surge como um fenômeno insidioso, alimentado pela “tecnologia da opressão intelectual”. Esse elitismo, disfarçado de erudição inacessível, falha ao se distanciar das questões sociais urgentes e das necessidades de transformação social. Judith Butler, em obras como Corpo em Ruínas (1993) e Quadros de Guerra (2009), critica a ideia de neutralidade técnica, argumentando que todo discurso técnico é impregnado de uma política subjacente. Para ela, a pretensão de uma objetividade científica desinteressada é uma falácia que ignora as condições históricas e sociais que estruturam o saber. Nesse sentido, o elitismo intelectual contemporâneo não é apenas uma consequência das dinâmicas mercadológicas e políticas, mas também uma forma de deslegitimação do saber popular e da valorização de formas de conhecimento emergentes das práticas cotidianas. A despolitização do conhecimento técnico revela-se, na verdade, uma das expressões mais perniciosas de um sistema que perpetua a hegemonia e a dominação, negando os direitos das populações marginalizadas.
A eloquente ideia de um cenário, no qual a crise do intelectualismo contemporâneo se agrava a cada dia, é essencial refletirmos sobre o papel do intelectual na sociedade e sua capacidade de cumprir a função crítica e transformadora que sempre lhe foi atribuída. A figura do intelectual, segundo pensadores como Sartre, Gramsci, Chaui e Butler, tem um compromisso ético e político com o mundo, que não pode ser substituído por um saber apolítico, técnico ou descomprometido com as realidades sociais. Ao se afastar das questões urgentes do seu tempo, o intelectual perde sua função de mediador das contradições sociais e deixa de ser um agente de transformação, fragmentando ainda mais o debate público e permitindo a ascensão de discursos ideológicos simplistas e polarizados. O que observamos, na prática, é que a intelectualidade atual está imersa em um vórtice de desinformação e distorção do conhecimento, seja pela repetição de narrativas sensacionalistas na mídia, seja pela diluição da reflexão crítica em uma academia cada vez mais desconectada das demandas sociais. As redes sociais, ao invés de promoverem um debate plural e enriquecedor, se tornam palco de disputas ideológicas rasas, nas quais o intelectual é pressionado a se posicionar de maneira binária e muitas vezes sem profundidade. Essa polarização, aliada ao crescimento do cientificismo e do anti-intelectualismo, tem consequências desastrosas para o futuro da educação, do conhecimento e da democracia. A deslegitimação das instituições de saber reflete uma dinâmica na qual o conhecimento crítico é substituído por narrativas simplistas e emocionalmente carregadas, moldadas para atender a uma sociedade dominada pela lógica do espetáculo. Nesse cenário, o pensamento complexo e reflexivo cede lugar a discursos que privilegiam a aparência da autenticidade em detrimento da substância, promovendo a exaltação de verdades aparentes que fragmentam a realidade. Esse fenômeno não apenas alimenta a polarização, mas também consolida uma cultura que glorifica a ignorância como resistência e vilipendia a crítica como elitismo.
Tudo isso corrobora de forma unânime a função essencial do conhecimento, de questionar estruturas de poder e desvelar as contradições sociais, é assim capturada por um sistema que reduz a verdade a mercadoria ideológica, facilmente manipulável e consumível. O resultado é uma sociedade incapaz de discernir entre o essencial e o acessório, onde o pensamento se dissolve em uma competição por narrativas superficiais. Resgatar o papel transformador do intelectual exige a ruptura com essas dinâmicas, reconstruindo o saber como prática de resistência às forças que promovem o conformismo e a desinformação, e reafirmando seu compromisso com a emancipação coletiva e a justiça social.
Dentro dessa realidade, vislumbra que, sequencialmente, o discurso anti-intelectualista, ao rejeitar os métodos críticos e a reflexão profunda, acaba por enfraquecer as bases do conhecimento e da verdade, substituindo-as por uma retórica de “verdades simples” que atende às demandas de uma sociedade cada vez mais polarizada e desinformada. O intelectual, em sua essência, deve ser um agente de resistência a esse processo, resgatando o compromisso com a crítica social e a busca por uma realidade mais justa e humanizada. Em virtude dessa realidade que conturba a estalidada democrática e de pensamento plural de uma sociedade, a dúvida metódica em vislumbre a esse emaranhado de dicotomias e retrocessos, impera o seguinte questionamento: há um caminho concreto para uma fuga dessa crise intelectual na contemporaneidade? O imperativo categórico dessa pergunta é respondido ao analisar o questionamento, para quem ou se é mesmo necessário essa fuga? Em síntese, essa realidade absorta ao conhecimento e a estabilidade do intelectual é aos defensores do intelectualismo o suprassumo da ignorância humana, a qual é digna de uma hecatombe do conhecimento. Ainda que muito clara e objetiva essa pergunta, o debate acerca da superação dessa crise intelectual passa por um resgate da militância crítica, pela retomada do papel do intelectual como um sujeito engajado nas lutas sociais e políticas de seu tempo. É preciso romper com a neutralidade imposta pelo cientificismo, que muitas vezes se esconde por trás de uma suposta objetividade, e recuperar a coragem de se posicionar e questionar as estruturas de poder. O intelectual não deve se refugiar em uma torre de marfim, mas deve ser, como Sartre propôs, um agente de transformação que contribua para a construção de uma sociedade mais democrática, justa e inclusiva.
Porquanto, a educação, por sua vez, deve ser vista como um campo de resistência e transformação, e não como um espaço isolado das questões políticas e sociais. A letargia das instituições educacionais é uma consequência direta de um processo histórico de empobrecimento do pensamento crítico e de banalização do saber. Para que a educação cumpra seu papel emancipatório, é urgente uma reorientação que retome o compromisso com a verdade, com a crítica social e com a construção de um futuro mais equitativo. A intelectualidade deve ser, mais do que nunca, um campo de resistência ao pensamento único, ao reducionismo e à desinformação, sendo capaz de articular um discurso que vá além das superficialidades e que enfrente as questões estruturais que marcam a sociedade contemporânea.
Em um mundo saturado por discursos de ódio, fake news e polarização, o papel do intelectual como sujeito crítico, reflexivo e transformador é mais necessário do que nunca. Só assim, ao retomar a coragem de questionar, de se engajar e de lutar por um futuro mais justo, ele poderá resgatar sua relevância e contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, em que o conhecimento seja uma ferramenta de emancipação e não de dominação. A crise do intelectualismo, portanto, é também uma oportunidade de repensar o papel da intelectualidade na modernidade e de restaurar seu compromisso com a transformação social, a justiça e a verdade.
Referencias bibliográficas:
- Cf. Em defesa dos intelectuais, ed. Ática, 1994 [1965], p. 40. Ibidem, p. 41.
- Sobre esse debate acerca da busca por reconhecimento dos intelectuais: ver a polêmica entre o próprio Kojève e Leo Strauss em Da Tirania-Incluindo Correspondência Strauss-Kojève (especialmente o ensaio de Kojève, Tirania e Sabedoria), ed. É Realizações, 2016.
- Com efeito, chama-se “excitação estéril, [a] característica de determinados intelectuais, principalmente russos, [que expressam] […] o romantismo do intelectualmente interessante, dirigido ao vazio e sem nenhum senso objetivo”.
- Cf. Max Weber, Política como Vocação. In: Escritos Políticos, ed. Martins Fontes, 2013, p. 443-444.
- Cf. Em defesa dos intelectuais, ed. Ática, 1994 [1965], p. 42.
- Ver Judith Butler, Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France, ed. Columbia University Press, 1987.
- SARTRE, Jean-Paul. Entre Quatro Paredes e Outros Textos. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Nova Fronteira, 2021. Sartre apresenta sua visão do intelectual engajado, que transcende sua especialidade para se posicionar criticamente nas questões sociais.
- GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.
- CHAUÍ, Marilena. A Ideologia do Poder. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995. Discute a responsabilidade dos intelectuais frente às estruturas de poder e opressão.
- CHAUÍ, Marilena. O Que é Ideologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1995.
- BUTLER, Judith. Corpo em Ruínas: Sobre as Consequências do 11 de Setembro. Tradução de Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
- BUTLER, Judith. Quadros de Guerra: Quando a Vida é Passível de Luto?. Tradução de Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
- ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: Fragmentos Filosóficos. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
- BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais da Ciência: Por uma Sociologia Clínica do Campo Científico. Tradução de Denise B. Chame. São Paulo: Unesp, 2004.
- DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

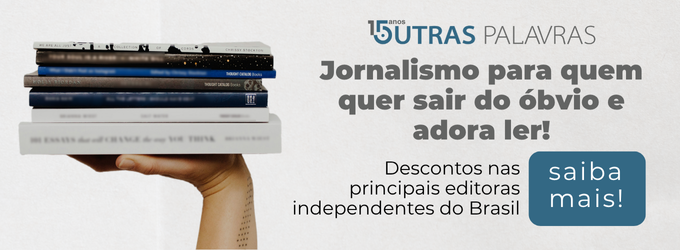
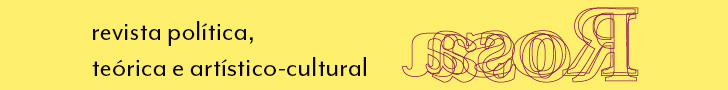
Concordo com o que foi dito, mas acho necessário pontuar que enquanto intelectuais utilizarem esse tipo de escrita, sempre vai existir uma abismo de comunicação entre o acadêmico e os 90% da população.
Sempre leio artigos interessantes por aqui e em outras fontes, mas enviá-los pros meus parentes, conhecidos, vizinhos, é uma perda de tempo, pois a linguagem não é a mesma que usam, e ninguém vai entender nada.
Como criar um futuro possível, se a linguagem acadêmica ainda teima em trazer discussões importantes como essa, de uma maneira que somente os próprios acadêmicos irão entender?
Sempre acreditei que é possível ser intelectual utilizando-se de uma linguagem simples, acessível. E em tempos sombrios como o que estamos vivendo hoje, trazer essas discussões pra outros espaços, para além dos muros da academia, é mais necessário (e urgente) do que nunca.
Ótimo artigo!
Excelente!