A hegemonia anglo-americana em queda livre
A decomposição da ordem liberal nos EUA e no Reino Unido é evidente. Internamente, a desigualdade e a pobreza aumentam e, além das fronteiras, ambos perdem espaço para a China e a Rússia. A aposta em guerras sem fim já foi perdida
Publicado 16/07/2024 às 18:11
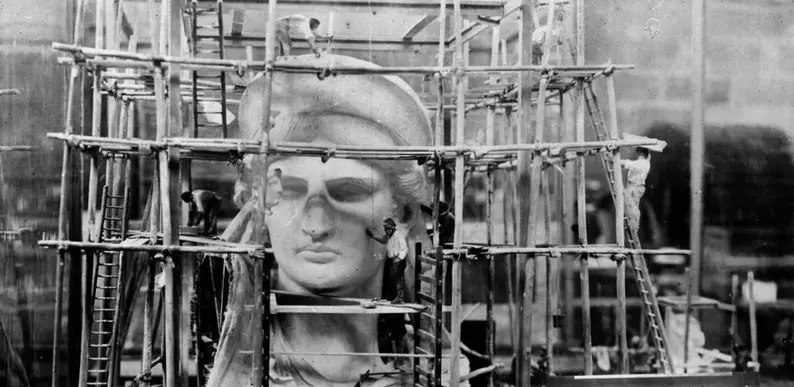
Por André Ferrari Haines, do Observatório Internacional do Século XXI
“Quando movimentos de direita e retoricamente populistas como o Brexit e líderes como Trump venceram as eleições em 2016, triunfaram nos dois países que tinham sido fundamentais para o longo esforço para criar e sustentar uma ordem internacional liberal.”
Com esta frase, James Cronin, professor do Boston College, conclui seu novo livro sobre a queda da chamada ordem liberal internacional¹. Apontando para o iliberalismo que emergiu no Reino Unido e nos Estados Unidos, nações que considera como eixos essenciais dos valores liberais e democráticos globais, Cronin destaca a natureza interna da decomposição da ordem liberal – além das ameaças bem conhecidas de autocracias estrangeiras. E o que chama a atenção nesse sentido é que as causas apontadas por Cronin persistem atualmente.
Enquanto o Partido Republicano, liderado por Donald Trump, é apresentado como favorito nas eleições deste ano nos Estados Unidos, David Cameron, que lançou o complicado processo do Brexit, é o atual chanceler britânico de um governo que parece estar a dar os últimos suspiros da recente era conservadora. Por um lado, tanto o regresso ao poder do Partido Trabalhista como de Trump podem ser vistos como mudanças significativas; por outro lado, uma parte considerável da sociedade em ambos os países afirma não ter esperança em qualquer resultado eleitoral.
Após a “vitória” do modelo liberal com o colapso da União Soviética, as políticas econômicas aplicadas pelos governos de ambos os partidos deixaram a maioria da sociedade em dificuldades e com poucas perspectivas de melhoria. Externamente, grande parte do mundo não-ocidental mostra sinais de se afastar dos países anglo-saxônicos, independentemente de quem seja o seu líder político.
1. A frente doméstica
No Reino Unido, a pobreza afeta uma grande parte da população, sendo que 56% das pessoas que a vivenciam pertencem a uma família com emprego. Em particular, chamou a atenção o fato de o país ter registrado o maior nível de pobreza relativa infantil entre as economias avançadas, no período de 2014 e 2021, afetando cerca de 4,3 milhões de crianças. Este contexto gerou também um aumento anual de 15,8% entre outubro e dezembro de 2023 na taxa dos sem-abrigo. Outro efeito é que a Associação das Lojas de Conveniência afirmou que em 2023 os furtos quintuplicaram em relação ao ano anterior – principalmente carne, álcool e doces.
Este quadro estrutural da pobreza britânica explica certamente o motivo pelo qual uma sondagem recente do YouGov concluiu que, para as próximas eleições, o Partido Trabalhista tem uma vantagem de 30 pontos sobre os Conservadores, que, de acordo com outra sondagem, teriam um novo mínimo histórico de votos [N.E. O texto foi publicado em maio, antes das eleições britânicas]. No entanto, a mudança de governo não é razão para pensar que o Reino Unido abandonaria a política de austeridade dos conservadores vigente desde 2010.
De acordo com declarações do gabinete sombra do Partido Trabalhista, um novo bloqueio fiscal será imposto por lei, sujeitando todas as alterações fiscais a uma previsão do Gabinete de Responsabilidade Orçamental – uma das principais instituições de austeridade criadas por Cameron em 2010. O secretário de Saúde Sombra, Wes Streeting, delineou planos para reformar ainda mais o NHS, através de mais privatizações e mercantilização.
O quadro é semelhante nos Estados Unidos. Em abril, um inquérito mostrou que quase metade da população acredita que a economia está indo na direção errada (o dobro dos que pensam o contrário), enquanto cerca de 42% dizem que a sua situação financeira piorou no ano passado. De acordo com um relatório da Universidade de Harvard, aproximadamente 650 mil americanos viveram sem-abrigo em algum momento do ano passado, um aumento de quase 50% desde 2015. Uma pesquisa da Pew Charitable Trusts descobriu que 90% dos americanos acreditam que o país está a passar por uma crise de saúde mental. As tensões também se revelam no número recorde de suicídios e no fato de cada vez mais americanos acreditarem que uma nova guerra civil é possível.
Biden, por sua vez, comemora o sucesso da sua gestão econômica; muitos analistas consideram que o país dá sinais de estagflação, dada a combinação de um crescimento anual de 1,6% com uma inflação persistentemente elevada (3,5% em março). No entanto, com base na atual medida de inflação da Reserva Federal, um dólar compra 20% menos hoje do que em 2020; mas utilizando o método empregado no início da década de 1980, a inflação atual seria quase o triplo do que é atualmente reportado.
A economia tem falhado consistentemente em assegurar crescimento, embora Biden tenha incluído políticas de gastos elevados na sua agenda através de grandes pacotes fiscais, como o Plano de Resgate Americano (US$ 1,9 trilhões), a Lei Bipartidária de Infraestruturas (US$ 1,2 trilhões) e a Lei de Redução da Inflação (US$ 750 bilhões) entre 2021 e 2022.
A possível chegada de Donald Trump não parece alterar este quadro econômico – para além do fato de o seu projeto de expulsar os imigrantes ilegais ser bem recebido por uma parte considerável da população americana. Trump prometeu mais uma vez grandes cortes de impostos a alguns dos doadores mais ricos do país, tal como fez com a sua reforma fiscal de 2017, quando reduziu tributos para eles e também para as grandes empresas. Várias destas disposições expirarão em 2025, pelo que Trump propõe a sua continuidade.
Outro impacto econômico a considerar deste corte é o que o Centro de Orçamento e Prioridades Políticas acaba de salientar, ou seja, o fato de que estes cortes de impostos de Trump, bem como os de Bush anteriormente, “corroeram seriamente a base de recursos do nosso país”. Os esforços econômicos colaboraram para uma explosão da dívida nacional, que atualmente ascende a quase 34,6 trilhões de dólares.
Esta tendência, que já tinha acelerado com medidas para enfrentar a crise de 2008, tornou-se ainda mais intensa sob Biden: a dívida nacional aumentou cerca de 6,8 trilhões de dólares desde que ele assumiu o cargo em janeiro de 2021. Os pagamentos da dívida em 2024 atingirão 870 bilhões de dólares – mais do que o orçamento do Pentágono – um aumento de 32% em relação a 2023. Durante a próxima década, pelo plano orçamentário do presidente, as receitas federais excederiam os 70 trilhões de dólares, mas Biden propõe gastar 86,6 trilhões de dólares.
De acordo com o Comitê de Orçamento do Congresso, os déficits orçamentais anuais estão numa trajetória ascendente explosiva. Assim, o déficit de 1,6 trilhão de dólares projetado para 2024 seria de 2,6 trilhões de dólares (2034), 4,4 trilhões de dólares (2044) e 7,3 trilhões de dólares em 2054 – ano em que a dívida do governo federal totalizaria 114 trilhões de dólares (aproximadamente 4 vezes o PIB atual dos EUA). O Senado aprovou por unanimidade uma resolução qualificando a dívida de “uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos” e esperando que os futuros déficits orçamentários sejam “insustentáveis, irresponsáveis e perigosos”.
Na mesma linha, o Comitê para um Orçamento Federal Responsável, uma organização sem fins lucrativos que defende déficits mais baixos, afirma que “o nível de endividamento no âmbito do orçamento do presidente seria sem precedentes fora de uma guerra ou de uma emergência nacional”. Mas embora não afirme diretamente que o seja, Biden apoia abertamente a Ucrânia no seu confronto com a Rússia. Em ajuda, deu mais de US$ 42 bilhões à Ucrânia e está tentando conceder mais US$ 55 bilhões, o que não conseguiu devido à oposição parlamentar dos republicanos.
Além disso, Biden passou a apoiar Israel nos seus ataques a Gaza com recursos que se somam para gerar o maior orçamento militar do mundo que excede o dos próximos nove países, que também mantêm, entre outras coisas, cerca de 300 bases militares e vários conflitos menores que já se arrastam há muito tempo, como o Iêmen e a Somália. Outro aspecto em comum entre Biden e Trump é que, apesar das suas promessas eleitorais, nenhum deles conseguiu acabar com as guerras intermináveis nos Estados Unidos.
2. O quadro geral
A nível global, a decomposição da ordem liberal internacional significa a perda de aceitação por grande parte dos países dos pilares que Roosevelt e Churchill estabeleceram na Carta do Atlântico em 1941, o que mais tarde se refletiria na criação das Nações Unidas. Este entendimento entre os líderes anglo-saxônicos baseava-se na “relação especial” que ambas as nações afirmavam possuir devido às linhagens políticas, culturais e linguísticas que as colocavam no topo da ordem liberal e democrática.
Essa visão reforçou a identificação britânica com a liderança americana, fundamentalmente após a era Thatcher e continuada pelo Novo Trabalhismo de Tony Blair, que o levou a apoiar de forma confiável as guerras de Bush contra o terrorismo. O processo do Brexit teve entre as suas promessas mais importantes (não cumpridas) uma relação comercial especial com os Estados Unidos. Essa seria uma das cartas de Boris Johnson para obter apoio social para finalmente encerrar a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia.
Sendo primeiro-ministro quando começou o conflito na Ucrânia, Johnson comportou-se de acordo com a lógica da “relação especial”, apoiando irrefutavelmente as posições de Biden. Johnson ganhou destaque pela sua oposição ativa a qualquer possibilidade de uma solução pacífica entre a Ucrânia e a Rússia. O jornal ucraniano Ukrainska Pravda, em maio de 2022, nomeou-o como sabotador das negociações diplomáticas entre Kiev e Moscou no início daquele ano, quando inesperadamente apareceu argumentando que o Ocidente não queria acordos, mas sim pressionar Putin até à sua queda.
Recentemente, Johnson expressou que uma derrota ucraniana contra a Rússia significaria o fim do domínio ocidental sobre o mundo: “será uma catástrofe para o Ocidente; será o fim da hegemonia ocidental”, sustentou, “uma humilhação total para o Ocidente – a primeira vez nos 75 anos de existência da OTAN que esta aliança até agora bem-sucedida foi completamente derrotada – e em solo europeu”. “Será um ponto de viragem na história, o momento em que o Ocidente finalmente perderá a sua hegemonia do pós-guerra”, queixou-se.
Atualmente, o primeiro-ministro do Brexit e da austeridade, David Cameron, agora como chanceler de Rishi Sunak, ex-ministro da Economia de Boris Johnson, atravessou o Atlântico para encorajar os Estados Unidos a continuarem a apoiar a Ucrânia — afirmando que se a Rússia não for derrotada, irá sentir-se encorajada a invadir outros países. Repetindo a lógica que o próprio Biden utilizou, argumentou que o apoio ocidental à Ucrânia é “um custo extremamente bom”, uma vez que enfraqueceu a Rússia, criou empregos no país e fortaleceu a OTAN “sem a perda de uma única vida americana”.
O que é surpreendente na agressividade britânica em relação à Rússia é que, em termos militares, ela é ofuscada em todos os aspectos possíveis; especialmente agora que as suas contribuições para a Ucrânia não lhe deixaram mais nada. Nem mesmo projéteis. Segundo o tenente-general Sir Rob Magowan, o Reino Unido não poderia suportar uma guerra convencional com a Rússia por mais de alguns meses. Em Unherd, Nina L. Khrushcheva, professora russo-americana na The New School em Nova Iorque, argumentou que “Putin não demonstrou nenhum desejo de declarar guerra à OTAN. Mas ao alimentar receios de que este seja o caso, a OTAN corre o risco de criar uma espécie de profecia autorrealizável. Até eu, um crítico constante de Putin, acho isso completamente provocativo e bobo.”
Embora os republicanos não pareçam querer atribuir mais recursos à Ucrânia, as suas posições globais coincidem com as de Cameron. Uma dúzia de senadores republicanos enviaram uma carta ao promotor Karim Khan, do Tribunal Penal Internacional, ameaçando-o de que se ele investigar Israel “nós o atacaremos” com “ações severas contra você e sua instituição”, porque elas seriam “não apenas uma ameaça para a soberania de Israel, mas também para a soberania dos Estados Unidos.” De forma semelhante, a equipe econômica de Trump está a desenvolver sanções contra países que deixem de usar o dólar como moeda internacional.
Embora os líderes anglo-saxões preservem as suas tradições, de acordo com uma sondagem Gallup, a aprovação dos Estados Unidos na África caiu e é agora superada pela China – enquanto a da Rússia aumentou consideravelmente. Da mesma forma, no inquérito Índice de Percepção da Democracia 2024 realizado pela empresa alemã Latana em 53 países, a maioria na Ásia, Médio Oriente e Norte de África tem uma visão tão positiva da Rússia e da China como dos Estados Unidos.
Os resultados também revelaram que o apoio aos Estados Unidos entre os europeus diminuiu, com queda particularmente acentuada na Alemanha, Áustria, Irlanda, Bélgica e Suíça. Frederick DeVeaux, investigador sênior da Latana, destacou que esta é “a primeira vez desde o início da administração Biden que muitos países da Europa Ocidental voltaram a ter percepções claramente negativas dos Estados Unidos”.
Quase 80 anos desde que Churchill cunhou o termo “relação especial”, o jornalista inglês Thomas Fazi afirma que “a noção de que o Reino Unido goza de uma posição ‘subimperial’ privilegiada entre os aliados ocidentais da América continua a informar a auto-identidade do país como uma das grandes potências mundiais”.
Por sua parte, Francis Fukuyama, cujo livro de 1992 do fim da história marcou a consolidação da “ordem liberal internacional”, numa recente entrevista para Internationale Politik Quarterly afirma que tanto Trump quanto Biden possuem problemas mentais, concluindo: “É um pouco triste que a política americana dependa de qual candidato se deteriora mais rapidamente. Mas é onde estamos agora.”
¹ Cronin, James. The Paradox of Prosperity: The Leap in the Dark of 2016. Yale University Press, 2024.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras


