Quando cientistas sociais assistem a Game of Thrones
Ameaças das instituições financeiras. Armas de destruição em massas. “Utilidade” das guerras. Sexo e violência. Por trás da fantasia de zumbis e dragões, série aborda poder e geopolítica. O que Maquiavel, Bourdieu e Foucault teriam a dizer?
Publicado 24/05/2019 às 18:51 - Atualizado 24/05/2019 às 19:45

Game of Thrones (GOT) é o nome da série da HBO baseada na epopeia fantástica de George R. R. Martin: As Crônicas de Gelo e Fogo. A série estreou em abril de 2011 e terminou em maio de 2019, completando oito anos de duração, tendo marcado um ciclo inteiro da vida de muitas pessoas. Como ocorre com todas as séries mais longas, o risco de se perder o fôlego de acompanhar a história é grande, mas esse não foi o caso de Game of Thrones. GOT é um fenômeno global que conseguiu reunir pessoas no mundo real para assistir juntos e ao vivo a estreia de cada novo episódio. Um enorme sucesso.
Muitas pessoas não gostam de universos fantásticos, mas é inegável o valor desse gênero. Esses produtos culturais formaram leitores, criaram espaços de compartilhamento de interesse comum, aproximaram pessoas e produziram debates que transcendiam em muito a proposta original dos autores, roteiristas e diretores. Que ótimo que o autor não controla a interpretação que fazem de sua obra, porque os debates promovidos pelos fãs muitas vezes parecem melhores que os filmes e as séries em si.
Game of Thrones, entretanto, parecia diferente desde o início, porque a série já apresentava diversas camadas de informação que, na fase certa da trama, se revelaria como o debate principal a ser abordado pela história. O enredo trazia estruturas políticas, sociais e econômicas complexas e incomuns para o gênero, fato que colaborou para colecionar uma legião de fãs ao redor do mundo. Pelo menos assim parecia ser na primeira metade da série.
Por conta do caráter peculiar de Game of Thrones, elaboramos um breve ensaio sobre alguns pontos interessantes da perspectiva das Ciências Humanas. Esse ensaio tenta explorar questões importantes trazidas ao longo da narrativa, que permitem reflexões históricas e políticas pertinentes – embora o desejo fosse que esses debates pudessem ter recebido um pouco mais de destaque na própria série. Ainda que o desenlace das últimas temporadas tenha se desviado do curso inicial, GOT definiu um marco no gênero do universo fantástico, no formato comercial das séries de TV e permitiu discutir aspectos mais profundos do jogo de poder por trás da guerra dos tronos.
Política
A dinâmica política foi um dos principais atrativos de GOT. Os diálogos no Pequeno Conselho eram de uma franqueza, cinismo e ceticismo absolutamente fascinantes. Se pudesse assistir às primeiras temporadas, Maquiavel (2004) extrairia outros conselhos ao príncipe.
Tudo fica ainda mais interessante e realista após a morte de Ned Stark. Além do choque de ver o protagonista ser eliminado de forma bastante injusta, a primeira temporada se encerra deixando claro que não existe mais um referencial absoluto do “bem” e do “mal”. As tramas, especialmente aquelas ambientadas na capital, jogam luz no Deep State das grandes potências. Foi nesse núcleo que se desenvolveram os personagens mais interessantes, coerentes e sem moralismos.
Tyrion Lannister, por exemplo, é um nobre, anão, intelectual, promíscuo e arguto analista político, que apresentou diversas sacadas geniais ao longo da série, dentre elas destaca-se: “É tentador pensar que seus inimigos são maus, mas sempre existe o bem e o mal em ambos os lados”. Essa afirmativa, se analisada pela perspectiva de Jonathan Haidt (2012), em “The righteous mind”, permite uma análise menos maniqueísta da política, na qual é possível encontrar fundamentos morais genuínos nas escolhas do “outro”, ainda que seja seu inimigo. Basta observar a polarização estúpida da atualidade para perceber que ela não dá conta da complexidade da realidade política.
Varys é um estrangeiro, pobre, sem nome de família, eunuco e com uma rede de espiões entre as crianças pobres, o que gera justificado mal-estar na audiência. Por ter sido castrado na infância, parecia ser, de alguma maneira, solidário com essas crianças, embora as empregassem para o seu interesse. Varys encarna o espírito de que os fins justificam os meios. À certa altura da epopeia, Varys diz que sabe que um espião é sempre visto com suspeição, mas que os sofrimentos de sua origem pobre tinham estabelecido nele o firme propósito de encontrar as melhores soluções políticas em benefício das camadas populares. Para isso, sua rede de espiões estaria à disposição do regime político que ele julgasse melhor, fazendo lembrar Thomas Morus, que considerava moral a espionagem e o assassínio, desde que envolvessem lideranças políticas que ameaçassem a paz. Sua frase: “Há quem diga que conhecimento é poder”, poderia ser muito bem lida à luz de Michel Foucault (2014).
Petyr Baelish, oriundo da baixa nobreza, tornou-se um mestre das palavras, sabendo dosar bajulação e traição na medida certa, além de contar com uma rede de espiões por meio de seu bordel de luxo. Sua ânsia por poder causou as principais intrigas que movimentaram a narrativa, bem ao estilo de Steve Bannon. Seu lema: “Caos não é um abismo. Caos é uma escada” corrobora a tese de Naomi Klein (2008), defendida em “A doutrina do choque”, onde argumenta que eventos catastróficos podem ser janelas de oportunidade para a ascensão de determinados grupos políticos. Petyr Baelish fez escola e ficaria orgulhoso de assistir à articulação política de Dick Cheney.
Esses personagens mereceriam biografias do porte daquelas escritas por Stefan Zweig (2015), já que estamos aceitando todos os anacronismos.
Guerra
A lógica da Guerra dos Sete Reinos segue uma matriz análoga às guerras de unificação estatal, bem anterior ao processo de formação e imaginação dos mitos de fundação nacional, tão bem explorado pelo romantismo das histórias de cavalaria. R.R. Martin assumiu, inclusive, que o enredo de GOT era livremente inspirado na Guerra das Duas Rosas, cujo resultado foi a formação do Estado moderno inglês.
Os paralelismos com as guerras ocorridas na transição do período medieval para o moderno ajudaram a (re)despertar o interesse por esse período histórico, fazendo com que livros acadêmicos sobre esse assunto voltassem a ocupar as prateleiras centrais de livrarias. De acordo com Norbert Elias (1993), um autor clássico sobre o tema, nas guerras de formação dos Estados modernos: “quem não sobe cai”. Palavras que parecem ter ecoado no ouvido de Cersei Lannister ao proferir: “Quando você joga o jogo dos tronos, você ganha ou morre”.
A escolha das guerras de unificação estatal despertou muito interesse histórico. Charles Tilly (1996) e Perry Anderson (2016) dariam um aval positivo para a retratação das disputas entre as casas nobres com o objetivo de obter o monopólio sobre a estrutura de poder em um determinado território e no sistema interestatal. Afinal, é exatamente essa a lógica apresentada por Martin, quando representantes dos sete reinos entram em conflito direto ao buscar o trono de ferro.
A série destacou a importância dos exércitos permanentes e de mercenários na composição de forças, bem como explorou as diferentes estratégias de batalhas em cenas de tirar o fôlego, com uma qualidade cinematográfica difícil de ser superada no curto prazo. Contudo, faltou analisar melhor o poder naval, embora ele não tenha sido decisivo na Guerra das Duas Rosas. Mesmo de modo anacrônico, é de se admirar que uma série que aborda figurativamente a unificação britânica não tenha destacado a importância imprescindível da Armada. De outro modo, como uma ilha gelada isolada no Mar do Norte conseguiria formar o maior império formal da história? Os Greyjoys podem simbolizar as pilhagens dos Vikings, mas não representaram nem de longe o valor bélico e logístico do poder naval.
Game of Thrones nos obriga a recordar que a guerra é o fenômeno organizador central do sistema político que vivemos, quer você goste ou não (Morris, 2015; Diamond, 2014). Ainda que o universo fantástico da série não seja um trabalho historiográfico, é possível debater questões essenciais como a guerra e a moeda na formação dos Estados modernos.
Economia
Foi formidável quando o Banco de Ferro apareceu pela primeira vez em Braavos. Por um breve instante, pareceu que finalmente um produto de entretenimento colocaria a dimensão material, econômica e financeira na centralidade da política internacional. Embora tenha atraído maior atenção nos últimos anos, os debates sobre economia nas redes sociais ainda é muito superficial e normalmente centrado em afirmações de cunho moral. Se pudéssemos sugerir leituras introdutórias, gostaríamos de indicar “A dinâmica do capitalismo”, de Fernand Braudel (1987); “A grande transformação”, de Karl Polanyi (2000); e “Dívida: os primeiros 5.000 anos”, de David Graeber (2016).
A série poderia ter aproveitado o crescente interesse popular pelo assunto para elevar o debate a um patamar intelectual impensável para um bem cultural de massa. A presença do Banco de Ferro permitiria trazer para o centro das discussões: a existência de uma moeda de referência internacional, a formação de um sistema de dívida pública e os vínculos entre guerra e capital. Seria ótimo, mas, infelizmente, o debate não avançou.
Nobreza e corrupção
Outro aspecto relevante é a apresentação de um complexo sistema de vassalagem e de suserania, com dezenas de casas da nobreza. O contrato feudo-vassálico era, segundo o medievalista Hilário Franco Júnior (2006), uma expressão de laço de parentesco artificial, soldando as relações sociais entre as elites políticas envolvidas. As intrigas que colocavam em xeque a balança de poder surgiram a partir de questões envolvendo o direito sucessório, doações de terras, cobrança de tributos, exigências de parte da produção e demandas por recrutas. Em linhas gerais, esses aspectos, muito bem retratados na série, faziam parte da realidade política medieval, sendo possível conferi-los em autores como François-Louis Ganshof (1970) e Jean Flori (2014).
Ao retratar a origem violenta e corrupta das casas nobres, a série também contribuiu para apresentar uma perspectiva crítica que desnuda a tão frequente idealização sobre a nobreza medieval. Se, por um lado, a série apresentou essa perspectiva crítica; por outro lado, sustentou um viés conservador, ao privilegiar a narrativa pela ótica das elites e ao silenciar e invisibilizar as camadas pobres de Westeros e de Essos.
Referências civilizacionais
Cada reino – palavra de origem latina que se remete tanto ao rei quanto à região – apresenta uma cultura peculiar, com uma vida político-social integrada à paisagem natural. Mesmo com um excesso de ênfase nesses particularismos da geografia possibilista, o mosaico cultural criado pelo mapa-múndi da série é fascinante.
Apesar de as referências geográficas e civilizacionais serem anacrônicas, foi extremamente criativo combinar grandes civilizações já desaparecidas ou que existiram em épocas distintas, fazendo-as interagir ao mesmo tempo. Aliás, essas referências mereciam um destaque muito maior.
Porto Real espelha a rica, poderosa e impenetrável Constantinopla. Os Dothrakis são uma mistura de mongóis com hunos, povos cavaleiros das estepes. As cidades da Baía dos Escravos lembram os entrepostos comerciais do Mediterrâneo e do Magreb. Valyria é um misto da mítica Atlântida, com doses de Roma e Grécia. As cidades livres de Essos, como Pentos e Braavos aludem às poderosas cidades-Estados italianas de Gênova e Veneza. Dorne remonta ao Sul da Espanha, marcado pelas temperaturas mais agradáveis e pela belíssima arquitetura mourisca. A Campina é uma espécie de França fisiocrata, rica e esnobe dos Tyrells. Tal como a Suíça, o Vale dos Arryn é isolado pelos Alpes, o que permite se manter afastado dos conflitos. A Cidadela lembra as universidades medievais de Bologna, Paris-Sorbonne, Salamanca, Oxford e Cambridge. Os continentes Sothoryos e Ulthos, que simbolizam os povos africanos e asiáticos, não foram explorados pela série, reforçando o viés eurocêntrico da história.
O projeto de regime teocrático proposto pelo Alto Septão, líder da Fé Militante, dialoga com a ideia de um Estado controlado por uma ordem religiosa, tal como ocorrido no Norte da Europa durante os quase três séculos de existência do Estado dos Cavaleiros Teutônicos. O projeto expansionista das Cruzadas – sustentado pela ainda “atual” ideia de guerra justa, proposta por Santo Agostinho – contou com o apoio de outras ordens militares cristãs – representados pelos Filhos do Guerreiro, nos livros da epopeia –, que se tornaram um desafio para o posterior projeto de centralização monárquica. Desafio resolvido por Cersei ao explodir o Septo de Baelor. A Igreja perdeu suas ordens militares, mas passou a ser defendida pela forças estatais. O Estado também garantiu poderes extraordinários a órgãos eclesiásticos, como os tribunais da Inquisição, que, na série, condenaram Cersei à caminhada da vergonha. As questões religiosas sempre foram uma dimensão relevante da vida política e, surpreendentemente, no século XXI, elas ganharam um destaque inimaginável.
Referência ainda mais atual é a Muralha de Gelo, que traça um paralelo com a Muralha de Adriano, construída para marcar o limite do Império Romano na Britânia com o extremo norte da ilha, ocupado pelos “selvagens” de origem celta. A dicotomia civilização-barbárie delineada a partir da construção de uma fronteira artificial é um dos referenciais histórico-geográficos mais interessantes da série. Muito antes da criação de um muro entre Israel e Palestina, entre Estados Unidos e México, entre Linha Vermelha e Maré, a narrativa do medo já tinha construído uma muralha de pânico no imaginário coletivo da população. Uma outra solução ficcional para os white walkers (como será apresentado a seguir) poderia ter um efeito discursivo de repercussão significativa para a desconstrução dessas narrativas de ódio ao “outro” que permeiam os debates geopolíticos contemporâneos.
Da fantasia à ciência
A primeira cena do primeiro episódio envolve um white walker. Para muitos, a vontade era de desistir da série logo de cara. Apesar da decepção inicial, os caminhantes brancos poderiam se tornar uma excelente metáfora para a chegada antecipada de mudanças climáticas intensas e que a função deles seria varrer os seres humanos da face da Terra, por serem os responsáveis pela degradação planetária. A existência dessa ameaça comum faria os reinos superarem suas diferenças e criarem alguma espécie de regime de governança global e a muralha daria lugar a “pontes” entre os reinos. Seria um insight bem importante, ainda mais se resgatassem os ideais de comunhão com a Natureza e com as forças de Gaia a partir dos ensinamentos ancestrais do filhos da floresta. Mas, no final, eram só zumbis. Lamentável.
Os dragões, por sua vez, poderiam ser uma referência fantástica para armas de destruição em massa. Tal como as armas nucleares, os dragões poderiam desequilibrar completamente a balança de poder tanto em Essos quanto em Westeros. No último episódio, fica evidente que os dragões são sencientes. Contudo, isso não ajuda muito para o fato de serem apenas dragões mesmo. Aliás, teve até dragão zumbi, algo totalmente dispensável.
A série ainda desenvolveu outros elementos que são interessantes do ponto de vista histórico. O potente fogo-vivo, por exemplo, remonta a uma arma real: o misterioso fogo-grego, criado pelos piromantes do Império Bizantino durante a Idade Média.
A tensão entre o meistre Pycelle e o ex-meistre Qyburn simboliza o choque entre uma matriz de pensamento medieval e outra moderna. Ao receber carta branca de Cersei, Qyburn explora seu potencial criativo, sendo responsável por uma revolução científica na capital, solucionando problemas de ordem prática como nenhum outro meistre havia feito. Qyburn – passando por cima dos limites morais impostos à pesquisa científica pelo monopólio do saber pela religião – vai utilizar a medicina para salvar o Montanha, além de projetar – tal como o gênio renascentista Leonardo da Vinci – balestras gigantes, capazes de matar os dragões. A ascensão social de Qyburn e a decadência de Pycelle parece representar os ventos da modernidade e a vitória da ciência sobre a superstição.
O último episódio aborda ainda mais o tema da relação entre clima político e avanço científico. Em um breve debate no Pequeno Conselho discute-se a necessidade de investimentos em infraestrutura e saneamento básico para a promoção da saúde coletiva, menos como preocupação com o bem-estar e mais como aritmética do poder de William Petty (2018). Arya Stark prenuncia as “grandes navegações”, inaugurando aquilo que Yuval Noah Harari (2018) chama de “sistema de pensamento aberto”, contestando as verdades herméticas do status quo (os mapas fechados) e assumindo a possibilidade de um mundo desconhecido a ser explorado.
Feminismo
A participação de muitas lideranças femininas fortes pode ser interpretada como anacrônica, embora seja indispensável para trazer os debates dos Estudos de Gênero para o centro das atenções. No entanto, muitas vezes, as personagens mulheres replicavam a lógica masculina de poder. A relação entre o feminino e o poder foi abordada de forma extremamente superficial e, para piorar, Daenerys Targaryen, a personagem mais forte da série, termina assassinada por seu amante e ícone moral da série, reforçando o estereótipo de mulheres poderosas histéricas.
Se fosse um homem a proferir o discurso de vitória do último episódio, incitando o expansionismo em nome de uma causa nobre, provavelmente essa figura masculina seria exaltada por sua liderança, sua capacidade de comando e sua visão política. O destino trágico de Daenerys acabou prestando um desserviço para a urgente causa feminista. O mote “não sou uma princesa, sou uma Khaleesi” já tinha conquistado corações e mentes mundo afora, causando impacto político relevante no mundo real. O autor e os diretores deveriam ter tido maior sensibilidade e ter levado isso em consideração.
No entanto, o saldo final é bastante positivo, mesmo após as quedas de Cersei e de Daenerys. Outras mulheres ganharam destaque ao longo da trama, passando a representar arquétipos importantes. A cavaleira Brienne conquistou o acesso ao mais alto grau da hierarquia militar e se tornou líder da guarda pessoal do rei Bran. Sansa Stark reafirmou a abertura das instâncias de governo às mulheres, ao ser aclamada “the Queen in the north”, por sua reconhecida liderança e competência. Arya Stark simbolizou, desde o início, o importante debate sobre emancipação feminina, encarnando valores como a coragem – ao assassinar o Rei da Noite – e o destemor – e ao desbravar “mares nunca dantes navegados”.
Constrangimentos
A libertação dos povos escravizados trouxe questões importantes, como abolir um sistema político sem um projeto de transformação social efetivo. A série trouxe a questão do medo atávico e da força disciplinar do poder simbólico, mostrando que abolir um sistema não é simples e que essas desigualdades deixam feridas profundas como herança difícil de ser resolvida.
Será que Daario Naharis – o interventor nomeado por Daenerys para manter a paz e a prosperidade entre os povos recém-libertos por ela nas cidades da Baía dos Escravos – criou mecanismos de superação da miséria, promoveu a justiça social, refundou as instituições, criou mecanismos democráticos de gestão participativa? A verdade é que a série não desenvolve esse núcleo e, verdade seja dita, quase ninguém se importa com essas questões. Ademais, poucos vão admitir, mas a maioria vibrou com as conquistas coloniais de Daenerys. Sentimento ainda mais constrangedor para um público pós-colonial e periférico como o brasileiro.
Constrangedor também foi verificar o quanto o fino verniz de civilização que nós, o público, julgamos apresentar é ainda mais precário do que se imagina. A série desperta sentimentos de ódio, desejo de vingança e prazer na morte. Sigmund Freud não poderia estar mais certo em constatar nossa pulsão por violência como uma dimensão inconsciente fundamental da vida psíquica humana (Jorge, 2005).
Na série, isso fica particularmente evidente quando da tentativa frustrada de Daenerys de encerrar os jogos mortais nas arenas. Os divertimentos públicos sempre flertaram perigosamente com a barbárie. Nas arenas esportivas, onde vários esportes acabam emulando uma dimensão do combate, o público é autorizado moralmente pela sociedade a fazer sua catarse coletiva, como válvula de escape para a pulsão de morte. A arte também nos fornece esse tipo de autorização, conforme ocorre em GOT. O problema é quando se quer transformar todos os espaços públicos em arenas violentas para promover um massacre social, político e econômico diariamente.
Apesar da constatação de que ainda sucumbimos aos nossos instintos primitivos, é importante o processo de reconhecimento da queda e a renovação dos esforços de construção de uma ética de respeito, de tolerância e de justiça em torno de projetos progressistas para a sociedade.
Violência
Max Weber (2003) define o Estado como “uma comunidade humana que reivindica com sucesso o monopólio do uso legítimo da violência física em um território determinado”. Nessa perspectiva, somente as forças do Estado teriam legitimidade para a prática da violência. No “contrato social”, as pessoas abririam mão de resolver os conflitos de interesse por meio de disputas diretas, recorrendo aos mecanismos estatais de polícia e de justiça, recalcando sua pulsão por resolver violentamente suas questões. Daí a importância política de espaços públicos para os indivíduos extravasarem suas pulsões violentas, como nas arenas esportivas e mesmo nas artes, conforme citado anteriormente.
A violência direta exercida pela polícia (palavra de origem grega que se remete ao aparato estatal responsável pela manutenção da ordem da polis) é essencial em qualquer organização política. Há Estados (semi-)independentes que abriram mão de suas forças armadas, mas nenhuma polis prescindiu da polícia. Segundo George Orwell: “As pessoas dormem tranquilamente à noite porque existem homens brutos dispostos a praticar violência em seu nome”. Nas democracias, as elites e as classes médias aderem a projetos políticos violentos porque elas não precisam sujar as suas mãos para manter os seus privilégios e, no final das contas, esses projetos violentos sempre oferecem alguma narrativa de moralidade de luta do bem contra o mal, reduzindo seus sentimentos de culpa.
Mas o poder não se sustenta apenas pela violência direta. É fundamental recorrer, igualmente, à violência simbólica e estrutural. Pierre Bourdieu (2012) acrescentou ao pensamento weberiano a dimensão de que, mais que o monopólio da violência física, a ordem se sustenta pela crença atávica de que as elites estariam investidas de algum mandato especial, iludidos pelas pompas das cerimônias públicas, com diversas vestimentas espalhafatosas, até hoje usadas e abusadas pelo poder judiciário e pelos militares. O poder teria uma dimensão simbólica cuja violência se manifestaria muito mais no campo mental do que no físico. Violência simbólica que reduziria o ímpeto de mudança das forças profundas da sociedade, por mais violenta e desigual que fosse a estrutura política e econômica vigente na sociedade.
Varys, em seu famoso diálogo com Tyrion, concordaria com essa perspectiva de Bourdieu:
“O poder é uma coisa curiosa… [Imagine] três grandes homens: um rei, um sacerdote e um homem rico. Entre eles está um mercenário comum. Cada grande homem tenta convencer o mercenário a matar os outros dois. Quem vive? Quem morre? […] O Poder reside onde os homens acreditam que ele reside. Nem mais, nem menos. É um truque, uma sombra na parede; e mesmo um homem muito pequeno pode lançar uma sombra muito grande”.
Slavoj Zizek (2011; 2014) questiona se a violência estrutural do sistema político que exclui silenciosamente, que agride diariamente, que mata lentamente seria menos letal do que a violência direta inerente dos projetos revolucionários que precisam romper com as forças estruturais em vigor. A reflexão trazida por Zizek pode ser identificada nas questões feitas por Daenerys de como ela iria “quebrar a roda”.
Qualquer projeto que envolva a destruição de um sistema e sua substituição por outro encontra muitas resistências. Maquiavel, atento à falta de apoio para as ideias de mudança político-social, afirmou: “Devemos convir que não há coisa mais difícil de se fazer, mais duvidosa de se alcançar, ou mais perigosa de se manejar do que ser o introdutor de uma nova ordem, porque quem o é tem por inimigos todos aqueles que se beneficiam com a antiga ordem, e como tímidos defensores todos aqueles a quem as novas instituições beneficiariam”.
O polêmico Zizek não defende a substituição da violência estrutural pela violência revolucionária; ele é cioso das contradições inerentes a qualquer projeto político. O filósofo esloveno alerta que não se deve subestimar o potencial totalitário dos projetos revolucionários por três motivos. Em primeiro lugar, o governo revolucionário precisa enfrentar as coalizões contrarrevolucionárias das elites desencasteladas e, com isso, acaba optando, várias vezes, por dizimar os membros da antiga elite. Em segundo lugar, como o ambiente político pós-revolução é altamente instável, é comum a promoção de expurgos dos membros das novas elites que porventura questionassem o dirigente central. Em terceiro lugar, o governo revolucionário, ao não conseguir promover as mudanças profundas prometidas pela causa revolucionária, geraria descontentamentos legítimos, que acabaram, muitas vezes, sendo resolvidos por meio de massacres fratricidas. Daenerys não estaria equivocada em admitir que, para “quebrar a roda”, ela ainda teria que recorrer à violência. A questão que fica é se seria possível evitar que a violência se convertesse em terror e brutalidade generalizada, tal como ocorrido no episódio de destruição da capital.
Aos que ansiavam por uma resposta da série, fica claro que nem George R. R. Martin nem nenhum cientista político conseguiu encontrar uma solução ideal. Mas uma opção foi feita, e a mensagem final é um nítido recado antiautoritário que parece ter sido extraído diretamente das duas primeiras lições do historiador Timothy Snyder (2017), em seu livro “Sobre a Tirania”, a saber: jamais obedecer de antemão e preservar as instituições.
Especialmente sobre o segundo ponto, a sensação que fica é que as normas e regras já estabelecidas pelas instituições políticas – por mais imperfeitas que sejam – muitas vezes são um contrapeso ante um futuro completamente imprevisível. O destino político de um povo não deve ser guiado apenas pelos caprichos de um líder que se julga capaz de refundar a sociedade a partir de sua própria visão de mundo. Faz sentido pensar que houve esse tipo de preocupação durante o desenvolvimento do roteiro? Se foi proposital, não sabemos, mas – diante do cenário de recrudescimento dos populismos, dos extremismos e de soluções que desprezam a liberdade, a igualdade e a fraternidade – a ênfase nos valores iluministas foi muito bem-vinda.
A forma como o roteiro é conduzido ao tratar desse tema parece reproduzir o dilema apresentado por Alexis de Tocqueville (1982), em seu livro “O Antigo Regime e a Revolução”. Na visão do intelectual francês, existiriam dois modelos com duas experiências históricas correspondentes para enterrar de vez os resquícios do mundo medieval e inaugurar uma sociedade pautada em princípios liberais: o reformismo inglês e as revoluções francesas. Em GOT, a solução é pela via da reforma. E se o mundo ainda não estava pronto para a democracia proposta por Samwell Tarly, notam-se avanços rumo à uma monarquia eletiva não hereditária. Ademais, a opção por Bran é justificada por critérios que vão além de sua origem nobiliárquica, flertando com uma espécie de despotismo esclarecido. Além de nobre, o novo rei é apresentado como aquele que melhor conhece o povo, o território e o passado de Westeros.
Para Aristóteles, o ser humano é um animal político (zoon politikon); assim, toda vida humana estaria permeada pela política e por suas contradições infinitas, apresentando constantes dilemas éticos. Tudo é política e nada seria mais ingênuo do que atribuir à História o papel neutro de mestra da vida, representada pela figura de Bran Stark, o “corvo de três olhos”.
História e identidades coletivas
“O que une o povo? Os estandartes? O ouro? As bandeiras? Não, não há nada mais poderoso do que uma boa história”. Tyrion Lannister, no último episódio, reflete sobre os possíveis caminhos de recomeço da normalidade política depois de tantas rupturas e perdas de referência sobre o que representa de fato o poder legítimo. O derretimento do Trono de Ferro, símbolo máximo da autoridade em Westeros, é uma metáfora que nos conduz novamente ao sociólogo francês Pierre Bourdieu (2012), quando afirma que, para se sustentar, o poder precisa recorrer à sua dimensão simbólica. No caso, a História estaria se tornando a fonte legítima da sabedoria para se governar, sendo o arquivo mental do Bran o símbolo da legitimidade do poder.
Não há dúvidas de que as narrativas criadas para dar sentido ao mundo tiveram papel preponderante na organização de uma ordem social. Com a revolução cognitiva, surgem o pensamento abstrato e a autoconsciência. Mitos, lendas, religiões, ideologias e artes começam a aparecer a partir de 70 mil anos atrás. A imaginação permitiu criar narrativas ficcionais que tanto davam sentido para as questões existenciais iniciais quanto conferiam um sentido maior para a existência humana coletivamente. (Paiva, 2019)
Nunca houve uma era de ouro de neutralidade e de justiça nas ordens abstratas; elas sempre estabeleceram hierarquias sociais, também sustentadas por narrativas ficcionais. Essas ordens abstratas poderiam ser fundadas na dimensão simbólica do trono de ferro, ou amparadas na origem divina do nascimento da nobreza, ou apoiadas na sabedoria do conhecimento histórico, como proposto por Tyrion, como novo fundamento social. Independentemente de qual fosse o argumento ficcional a sustentar essa ordem abstrata, essas narrativas criam e cristalizam hierarquias sociais.
As elites favorecidas tendem a querer justificar seus privilégios como sendo naturais, de origem divina, amparados por leis ou sustentados em um conhecimento neutro. Para impedir a contestação violenta do fundamento simbólico do poder e, assim, garantir a perpetuação da ordem em um contexto de tensão social, monta-se um aparelho coercitivo capaz de manter tal ordem. Sai o trono de ferro, entra a História, mas a violência estará lá para sustentar as bases da nova sociedade.
Em última instância, a espécie humana está sempre enxergando o mundo por uma metanarrativa construída socialmente. Quando se desconstrói uma, faz-se isso com base em outra metanarrativa que oferece uma outra cosmovisão. Ou seja, nunca se está fora desses moldes mentais. (Paiva, 2019)
A questão levantada por Tyrion, que passa despercebida para muitos, ultrapassa a ficção e toca nos debates contemporâneos sobre a revalorização da identidade nacional. Se existe um ponto de confluência entre os diversos teóricos sobre o nacionalismo, essa convergência é a importância que as narrativas sobre um passado comum ocupam no imaginário social. O historiador britânico Keith Jenkins (2014) afirma que “a história é a maneira pela qual as pessoas criam, em parte, suas identidades”.
Em alguns casos, essas identidades nacionais podem se converter em chauvinismo e xenofobia; como a extrema direita tem evocado o sentimento nacional hodiernamente. Eric Hobsbawm (2012), ao comentar sobre o uso da história para alimentar extremistas, alertou: “Eu costumava pensar que a profissão de historiador, ao contrário, digamos, da de físico nuclear, não pudesse, pelo menos, produzir danos. Agora sei que pode”.
História e memória são coisas bem diferentes. Quando Brienne reescreve a biografia de Jaime Lannister, atribuindo-lhe características positivas, ela está escrevendo a memória dos vencedores e não realizando um trabalho historiográfico. Caso Daenerys tivesse se perpetuado no poder, a memória preservada sobre Jaime seria, provavelmente, o descrevendo como um traidor. Os papiros, pergaminhos e códices da Cidadela muito provavelmente são apenas relatos de uma história tratadística oficial, muito diferente dos empregos contemporâneos da disciplina histórica, que permitem entender dinâmicas e domínios mais amplos da vida em sociedade.
A História não é um mero acúmulo de dados e de informações sobre acontecimentos pretéritos; tampouco ela é neutra, como qualquer outra ciência. Ainda que Bran Stark goze do privilégio de acessar o passado coletivo de Westeros, o resultado da consulta a esse arquivo mental que ele traz consigo sempre será sua versão pessoal do passado. O ofício do historiador sempre terá marcas de subjetividade (Schaff, 1995).
No entanto, a História, como disciplina científica, obedece a rigorosos métodos que ajudam a remontar as condições políticas, econômicas e sociais que estavam em jogo em um dado contexto histórico e que poderiam ter resultado em inúmeros caminhos diferentes, mas acabou seguindo a trajetória que já se conhece, não como telos, mas como o resultado das forças em disputa nesse dado contexto. Cada momento ao longo da história apresenta uma encruzilhada, na qual não se pode antever o caminho que irá seguir. (Barraclough, 1964)
A referência de Tyrion sobre o valor das histórias contadas ao redor da fogueira, cantadas por bardos ou exibidas nas telas, de fato, unem as pessoas, como Game of Thrones uniu. Contudo, a justa valorização das histórias e das narrativas ficcionais dada por Tyrion não poderia ter se convertido no argumento que daria poder ao Bran. Por mais importante que seja a construção narrativa de memórias coletivas na estruturação das identidades pessoais, a História não pode (ou não deveria, pelo menos) se arrogar o papel de fornecedor da verdade absoluta na política. Isso é uma noção ao mesmo tempo tola e perigosa do que seja a História. O conhecimento histórico é fundamental para as pessoas e principalmente para os estadistas, mas a perspectiva de História como fornecedora do sentido maior para a vida das pessoas é uma armadilha.
Em tempos de astrólogo youtuber autoproclamado filósofo, essa atribuição de poder a um rei-filósofo é uma compreensão tão ingênua quanto ameaçadora do que seja a política. História e Filosofia nem são fontes de doutrinação nem são panaceia política. Não existe solução mágica. O campo da política é o espaço do conflito de interesses por definição. Governar exige escuta, diálogo, reflexão, negociação e soluções possíveis. Não existem projetos perfeitos, nem conhecimentos puros, muitos menos mitos salvadores.
Sexo
HBO é um canal premium da TV a cabo conhecido por recorrer a cenas de violência e de sexo explícito em seus programas. Sem a necessidade de seguir as restrições da TV aberta, a HBO ofereceu ao público o que ele desejava: sexo e violência. Engana-se quem acha que os roteiristas tenham se aproveitado dessa liberdade para produzir shows grotescos. Sexo e violência podem sim atrair um público buscando apenas uma representação recreativa de suas fantasias incompletas por meio de sua identificação com os protagonistas das histórias, mas sexo e violência também podem trazer debates interessantes no campo dos estudos psicanalíticos e de gênero. Em Game of Thrones, o erotismo é uma dimensão importante da vida política. A relação entre sexo e poder é inequívoca e a série explorou isso de diversas maneiras.
O casamento por amor é uma conquista burguesa relativamente recente. Na inexistência de serviços previdenciários, famílias pobres arranjavam casamentos para garantir o sustento dos pais da moça na velhice. As famílias ricas sabidamente utilizavam o casamento como forma de aliança política, sendo uma das principais tarefas dos corpos diplomáticos lidar com esses tratados dinásticos. Por isso, surpreende o aparecimento de casais românticos nas últimas temporadas, atendendo aos apelos da fanbase de “shipar” os personagens principais.
O exercício “legítimo” da pulsão por sexo é “autorizado” na sociedade ocidental se a conjunção carnal for para fins reprodutivos e ocorrer no âmbito do casamento heterossexual monogâmico. Qualquer relação fora desse ambiente seria considerado pecaminosa, portanto, proibida. Apesar da forte repressão sexual na história do Ocidente, as relações sexuais sempre foram muito mais plurais. Nas sociedades patriarcais, era tolerado (quiçá incentivado) que o homem mantivesse relações sexuais fora do casamento, sendo a monogamia um dever conjugal feminino. Zonas de meretrício e bordéis de luxo estão presentes na maioria das sociedades e foram importantes espaços de sociabilidade, como constatou Petyr Baelish, que oferecia serviços de realizações de fantasias no campo hétero e homoafetivo. Na primeira reunião do Pequeno Conselho recém-empossado por Bran, uma das primeiras pautas de debate foi a reabertura dos prostíbulos.
Como se o tema já não despertasse polêmicas per se, Game of Thrones não apenas explorou a relação entre sexo e poder, mas também entre sexo e violência em suas manifestações mais bizarras. Alguns ficaram chocados com o uso do estupro como arma de guerra, embora seja uma informação trivial nos livros de história. Muitos ficaram escandalizados com as cenas macabras de sexo protagonizadas por Joffrey “Baratheon”, ele mesmo filho de uma relação incestuosa entre irmãos, campo de interdição do desejo. Causaram repulsa as cenas de estupro contra Daenerys, Cersei e Sansa. Apesar do mal-estar criado por essas representações, a série despertou um necessário debate no campo dos estudos de gênero, tão atacados pelo contexto atual de retrocesso conservador.
Quando o eunuco Varys elegeu Jon Snow como o soberano ideal, ao invés de Daenerys, ele diz: “Porque é um homem, e receio que os paus importem”. O autor da epopeia é homem; os diretores da série são homens; e apenas quatro episódios foram dirigidos por mulheres. A realidade da indústria de entretenimento continua sendo masculina. Não à toa, a nudez feminina abundou nas primeiras temporadas. À medida que a série alcançou um público cada vez mais global e que o recrudescimento conservador ganhou protagonismo ao redor do mundo, a série cedeu aos apelos moralistas, reduziu a complexidade política e não abordou mais temas polêmicos, tornando-se uma mercadoria de entretenimento palatável para todos os gostos: um produto mais próximo da Disney do que da HBO.
E ao fim…
Quando Game of Thrones começou, a crueza das guerras, o sexo explícito, o destemor do autor para matar protagonistas, as intrigas do deep state, as ameaças do banco de ferro, uma possível referência a mudanças climáticas e a provável existência de armas de destruição em massa tornaram as quatro primeiras temporadas uma narrativa sem equivalente nesse universo fantástico.
Naturalmente, as expectativas eram enormes com relação à complexificação da trama e da personalidade dos personagens na segunda metade da série. Como expectativa demais é ótimo para nos deixar frustrados, a série terminou sendo uma história típica do universo fantástico, com dragões, zumbis, feitiços, protagonistas preservados magicamente (com direito à ressurreição), casais românticos e final político para uma audiência da sociedade do espetáculo. Não que fossem necessários mais episódios e mais temporadas; bastava que as quatro últimas temporadas tivessem encaminhamentos bem diferentes. Provavelmente, se tivessem seguido nossas expectativas, a série não teria se tornado o sucesso que é. No fim das contas, GOT cumpriu o seu papel no mundo do entretenimento nesse momento histórico. Uma história de sucesso reflete as angústias de seu tempo.
Game of Thrones valeu muito a pena! Acompanhar a série marcou positivamente uma fase importante da vida de muitas pessoas ao redor do mundo. GOT foi uma experiência compartilhada que conectou pessoas pertencentes a bolhas distintas em torno do debate do que seja Política e Poder. Debate que parecia impossível de ser realizado por pessoas em lados opostos nessa bipolaridade insensata. Essas marcas só são deixadas por bens culturais de massa, quando esses alcançam o patamar de arte.
Nossos agradecimentos a George R. R. Martin, a David Benioff, a D. B. Weiss, a todos e todas envolvidas na série, e, por que não, a Carol Moreira e a Mikannn, responsáveis por pautarem os debates no Brasil e, assim, criarem esses espaços de troca e de afeto em torno da série.
Já que você chegou até aqui, gostaríamos de indicar ficções históricas e científicas fantásticas, cujos debates apresentam um maior rigor intelectual. Começamos por “O nome da rosa”, de Umberto Eco; “Criação”, de Gore Vidal; “Cem anos de solidão”, de Gabriel García Márquez; a epopeia “Fundação”, de Isaac Asimov; e, por fim, menos conhecido e talvez uma leitura de transição para esses cânones: “Q, o caçador de hereges”, do coletivo Luther Blissett, hoje chamado de Wu-Ming.
O inverno já passou? Definitivamente não no mundo real. Mas esperamos que cada vez mais bens culturais da literatura, do cinema e da TV possam despertar a emancipação intelectual crítica e ensejar a primavera dos povos!
Referências
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo: Unesp, 2016.
ASIMOV, Isaac. Trilogia da Fundação. São Paulo: Aleph, 2019.
BALAKRISHNAN, Gopal (org.). Um mapa da questão nacional. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000.
BARRACLOUGH, Geoffrey. Introdução à história contemporânea. São Paulo: Círculo do Livro, 1964.
BIROLI, Flávia;. MIGUEL, Luiz Felipe. Feminismo e Política. São Paulo: Boitempo, 2014.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.
DIAMOND, Jared. Armas, germes e aço: os destinos das sociedades humanas. Rio de Janeiro: Record, 2014.
ECO, Umberto. O nome da rosa. Rio de Janeiro: Record, 2018.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: formação do Estado e civilização (v. 2). Rio de Janeiro: Zahar, 1993.
FLORI, Jean. A Cavalaria. São Paulo: Editora Madras, 2014.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
FRANCO JR., Hilário. A Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006.
GANSHOF, François-Louis. Que é o feudalismo?. Sintra: Europa América, 1970.
GRAEBER, David. Dívida: os primeiros 5.000 anos. São Paulo: Três Estrelas, 2016.
HAIDT, Jonathan. The righteous mind: why good people are divided by politics and religion. Nova York: Pantheon Books, 2012.
HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM, 2018.
HOBSBAWM, Eric. Sobre história. Rio de Janeiro: Companhia de Bolso, 2012.
ISAACSON, Walter. Leonardo da Vinci. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.
JENKINS, Keith. A História Refigurada: Novas reflexões sobre uma antiga disciplina. São Paulo: Editora Contexto, 2014.
JORGE, Marco Antônio Coutinho. Fundamentos da psicanálise: de Freud a Lacan (v. 1; v. 2). Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 2008.
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. Rio de Janeiro: Record, 1977.
MORRIS, Ian. Guerra: o horror da guerra e seu legado para a humanidade. São Paulo: LeYa, 2015.
MORUS, Thomas. A Utopia. Porto Alegre: L&PM, 1997.
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Cia das Letras, 2009.
PAIVA, Henrique. Et tu, Brute! À procura das origens do imperativo humanitário no jogo de poder. Tese de Doutorado em Economia Política Internacional, Instituto de Economia, UFRJ. Rio de Janeiro, 2019.
PETTY, William. Essays on mankind and political arithmetic. Washington: Franklin Classics, 2018.
POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier: 2000.
SCHAFF, Adam. História e Verdade. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
SNYDER, Timothy. Sobre a tirania: vinte lições do século XX para o presente. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
TILLY, Charles. Coerção, capital e Estados europeus. São Paulo: Edusp, 1996.
TOCQUEVILLE, Alexis de. O Antigo Regime e a Revolução. Brasília: UnB, 1982.
TOYNBEE, Arnold. Um estudo da história. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
WEBER, Max. A política como vocação. Brasília: UnB, 2003.
VIDAL, Gore. Criação. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
ZIZEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. São Paulo: Boitempo, 2014.
ZIZEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011.
ZWEIG, Stefan. Joseph Fouché: retrato de um homem político. Rio de Janeiro: Zahar, 2015.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


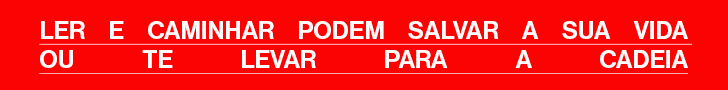
Quando cara perde tempo procurando sentido nesses lixos industriais norte-americanos é porque vamos mal, uma bosta dessa não tem nada a acrescentar, só depravação e colonização mental, lamentável..
Vocês são geniais! Bela análise, os criadores da série deveriam ler e ficar contentes. Esse site é um tesouro.
Genial, Henrique Paiva e Leandro Gavião.