Outras Palavras. Outras Culturas. Outra Educação
Pensamento em rede abre portas para encontro com culturas pré-modernas. Elas têm chaves que talvez nos permitam religar universal ao singular
Publicado 05/11/2015 às 20:39

“Layla e Majnun na escola”: originada na tradição corânica, é uma estória popular de dois amantes que, impedidos de se encontrar, escrevem-se mutuamente poemas que lhes chegam aos ouvidos pelo vento
Emergência do pensamento em rede abre portas para um encontro com culturas pré-modernas. Elas têm chaves que talvez nos permitam religar universal ao singular
Por Bia Machado
Em um belo artigo publicado na Folha de São Paulo em 2009, Pedro Cesarino põe em cena um convite a interlocuções de uma ordem ainda pouquíssimo explorada no país. Mostrando “estruturas de fundo” comuns a poéticas orientais e indígenas, ele alude ao fato de que talvez hoje sejamos mais capazes que antes de abrir as portas para um diálogo com a cultura indígena devido à disseminação de novos modos de pensar entre nós:
Os povos indígenas falam outras línguas, imaginam outras literaturas, têm outras matrizes de pensamento, colocam-se na arena pública a partir de outras (e ainda ignoradas) premissas. Os conhecimentos xamanísticos têm mesmo muito a ver com a proliferação de redes do mundo digitalizado, ou seja, com a quebra das verticalizações reguladoras via multiplicação intensiva de conexões e descentramento da figura do autor/criador. Os traços particulares de suas poéticas e demais expressões estéticas compõem um vigoroso panorama intelectual com o qual uma interlocução não é apenas possível, mas desejável.1
Ao mesmo tempo, está claro que qualquer interlocução é ainda menos uma questão de vontade que de capacidade:
O problema não é apenas de disponibilidade de materiais, mas também de ausência de arcabouço conceitual para pensar os horizontes ameríndios, radicalmente distintos dos nossos2.
Se a disseminação de um “pensamento em rede” e os muitos descentramentos a que assistimos favorecem uma abertura da visão eurocêntrica do mundo para outros olhares, como avançar na investigação destas premissas que ainda desconhecemos?
Como pesquisadora em filosofia da educação, interessa-me no contexto seguir esta mesma via e pensar como encontrar aí modos de reflexão sobre novos tipos de educação que suportem aprender com esses outros saberes.
O esplêndido caminho aberto por Boaventura de Sousa Santos – diálogos transculturais3, sociologias das ausências e das emergências4 – é uma vereda para um grande Sertão: entre “Oriente” e “Ocidente”, entre brancos e índios, ou, simplesmente, en- tre “os povos conhecidos” e “os povos desconhecidos” há, finalmente, muito a ser conversado, aprendido, investigado. Esta experiência de transculturalidade pode hoje apresentar aspectos fascinantes na medida em que começamos a aprender como levá-la a cabo:
No caso de um diálogo intercultural, a troca não é apenas entre diferentes saberes, mas também entre diferentes culturas, ou seja, entre universos de sentido diferentes e, em grande medida, incomensuráveis. Tais universos de sentido consistem em constelações de topoi fortes. Os topoi são os lugares comuns retóricos mais abrangentes de determinada cultura. Funcionam como premissas de argumentação que, por não se discutirem, dada a sua evidência, tornam possivel a produção e a troca de argumentos. Topoi fortes tornam-se altamente vulneráveis e problemáticos quando «usados» numa cultura diferente. O melhor que lhes pode acontecer é serem despromovidos de premissas de argumentação a meros argumentos. Compreender determinada cultura a partir dos topoi de outra cultura pode revelar-se muito difícil, se não mesmo impossível. Partindo do pressuposto de que tal não é impossivel, proponho a seguir uma hermenêutica diatópica, um procedimento hermenêutico que julgo adequado para nos guiar nas dificuldades a enfrentar, ainda que não necessariamente para as superar.
Recentemente, o Outras Palavras publicou uma matéria sobre Medicina Tradicional Chinesa, prática completamente inserida nos hábitos de uma parcela da classe média brasileira, mas cuja filosofia é pouquíssimo conhecida. O mesmo se dá com a Yoga e a Medicina Ayurvédica, por exemplo.
Mesmo desconsiderando o mau hábito que um certo tipo de mídia tem de divulgar – como entretenimento ou auto-ajuda – curiosidades de outras culturas, tais como previsões do fim do mundo segundo algum calendário ameríndio ou estórias míticas acompanhadas de interpretações moralistas, é forçoso admitir que “outras culturas” têm adentrado o espaço público “ocidental” de um modo diferente daquele ocupado pelos zoológicos humanos no início do século passado.
Frases ditas por índios norte-americanos ou monges budistas espalham-se pelo facebook junto a falsos dizeres de Einstein e Clarice Lispector. O Dalai-Lama participa de fóruns internacionais de desenvolvimento. O termo “ubuntu”, alçado à fama pela luta de Mandela contra o apartheid, é usado hoje em comunidades, empresas de publicidade, apresentações de powerpoint. De todos os modos possíveis, o senso comum, lentamente, começa a abrir-se para outros povos e para outros pensamentos, o que, certamente, traz todo um conjunto de novas demandas aos educadores.
Se não queremos tratar esta abertura como meros consumidores de cultura, somos forçados a experimentar a mesma perplexidade (e o mesmo rigor) de Viveiros de Castro:
(…) Isabella Lepri, estudante de antropologia (…) perguntou-me, penso que em maio de 1998, se eu acreditava que os pecaris são humanos, como dizem os índios. Respondi que não e o fiz porque suspeitei (sem nenhuma razão) que ela acreditava que, se os índios diziam tal coisa, então devia ser verdade. Acrescentei, perversa e algo mentirosamente, que só ‘acreditava’ em átomos e genes, na teoria da relatividade e na evolução das espécies, na luta de classes e na lógica do capital, enfim, nesse tipo de coisa; mas que, como antropólogo, tomava perfeitamente a sério a idéia de que os pecaris são humanos. Ela me contestou: “Como você pode sustentar que leva o que os índios dizem a sério? Isso não é só um modo de ser polido com seus informantes? Como você pode levá-los a sério se só finge acreditar no que eles dizem?”
Essa intimação de hipocrisia me obrigou, é claro, a refletir. Estou convencido de que a questão de Isabella é absolutamente crucial, de que toda antropologia digna desse nome precisa respondê-la, e de que não é nada fácil respondê-la bem. Uma resposta possível, naturalmente, é aquela contida em uma réplica cortante de Lévi-Strauss ao hermeneutismo mí(s)tico de Ricoeur: “É preciso escolher o lado em que se está. Os mitos não dizem nada capaz de nos instruir sobre a ordem do mundo, a natureza do real, a origem do homem ou o seu destino” (1971:571). Em troca, prossegue o autor, os mitos nos ensinam muito sobre as sociedades de onde provêm, e, sobretudo, sobre certos modos fundamentais (e universais) de operação do espírito humano (Lévi-Strauss 1971:571). Opõe-se, assim, à vacuidade referencial do mito, sua plenitude diagnóstica: dizer que os pecaris são humanos não nos ‘diz’ nada sobre os pacaris, mas muito sobre os humanos que o dizem. (…)
Essa solução não me satisfaz. Ao contrário, ela me incomoda profundamente. Ela parece implicar que, para levar os índios a sério, quando afirmam coisas como “os pecaris são humanos”, é preciso não acreditar no que eles dizem, visto que, se o fizéssemos, não estaríamos nos levando a sério. É preciso achar outra saída. (…)5
A idéia de que “os mitos não dizem nada capaz de nos instruir sobre a ordem do mundo, a natureza do real, a origem do homem ou o seu destino” é desmentida todos os dias atualmente, no entanto, ainda não é possível dizer exatamente como essa “instrução” poderia se dar isenta dos vícios que uma parte fundamental do Racionalismo, sabiamente, buscou evitar: esoterismos mágicos, delírios místicos, moralismos disfarçados, totalitarismos, etc.
Possivelmente, Max Weber, ao cunhar a expressão “desencantamento do mundo” para designar, em seu clássico “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, a especificidade e o ineditismo do racionalismo moderno frente ao “pensamento mágico” antigo, não supôs a amplitude que a idéia poderia alcançar. Se podemos hoje, ainda que parcimoniosamente, utilizar a expressão “Mundo Encantado” para designar tudo o que foi antes do Desencantamento, isso não pode querer dizer que imaginamos ser possível identificar uma unidade – histórica, cultural, psicológica, etc. – nos homens que povoaram a Terra desde Adão até Descartes. No entanto, há, de fato, todo “um mundo” que o Período Moderno deixou para trás, não de forma abrupta, é óbvio, nem de forma absoluta, porém, de modo a encerrar no passado e eliminar da vida comum uma série de “realidades” humanas que, hoje, “retornam” variadamente.
Nesse contexto, falar em Encantamento seria vislumbrar a possibilidade de que “outras culturas” emprestem-se mutuamente entendimentos que a razão indolente6, com toda a evidência, é incapaz de conceber. É forçoso admitir que o diálogo entre a Medicina Tradicional Chinesa e a Ayurvédica flui com mais facilidade que aquele entre estas e a chamada Medicina alopática, ainda que respeitadas as múltiplas diferenças entre o Taoísmo e o Hinduísmo.
Em uma primeira e ainda simples abordagem do problema, pode-se dizer que o Mundo Encantado é formado por todas as culturas que não desenvolveram as noções de indivíduo moderno, ciência moderna e mercado moderno. Claro está que esta espécie de via negationis não pode pretender levar muito adiante a questão, mas ela é suficiente para começar a formar um cenário.
Em segundo lugar, é preciso lembrar que o tema dos diálogos transculturais – sobretudo os que buscam fazer-se em bases que criticam o etnocentrismo – é relativamente novo e somos planetariamente inexperientes nisto. Possivelmente, os perigos que já podemos prever são ainda pequenos frente aos que sequer suspeitamos que advirão.
Em terceiro lugar – e aqui me desloco para um campo epistemológico – há nas culturas pré-modernas algo em comum que poderia justificar a idéia de um Mundo Encantado: uma articulação entre totalidade e singularidade – ou melhor, entre lugares totais e lugares singulares – que, salvo engano de minha parte, não se encontra mais entre nós a partir da Modernidade7.
Penso que é importante investigar esta articulação porque ela seria, analogicamente falando, um topos por meio do qual um vasto campo de diálogo intercultural poderia abrir-se. Especificamente na minha área de trabalho tal diálogo tem norteado algumas novas propostas, como veremos. Começo então a situar a questão propondo um exercício imaginativo.
Podemos ter uma experiência sensorial e analógica desta articulação imaginando uma pessoa postada a céu aberto e mirando o zênite, o ponto mais alto da cúpula celeste, um ponto relativo que ocupa sempre o lugar exatamente acima da cabeça do sujeito que o observa. Para uma suposta pessoa A, sua própria posição “A” é central em relação à cúpula como um todo e ela percebe o zênite como imediatamente acima de sua cabeça. Para um sujeito B, no entanto, é sua posição “B” que constitui o lugar central, pelo mesmo motivo. Isso ocorre porque no céu essas medidas são angulares e não lineares como na terra. Ou seja, o zênite é sempre “um e um para cada um”. Eis um outro modo de apresentar a questão:
“(…) cada espectador que olha o sol nascer ou se pôr além de uma superfície de água vê a “via” dos raios refletidos na água virem diretamente em sua direção; quando o espectador se desloca, esta via luminosa o segue. Observemos, de passagem, que os índios da América do Norte consideram esse caminho luminoso projetado sobre a água pelo sol poente como o caminho das almas para o mundo dos ancestrais; de fato, pode-se ver nisso uma projeção “horizontal” do “raio solar” que, segundo o simbolismo hindu, representa o laço pelo qual cada ser particular liga-se diretamente a seu princípio. Sabe-se que os textos sagrados do Hinduismo descrevem este raio como o que vai da “coroa” da cabeça até o sol. O mesmo simbolismo – implicando simultaneamente as idéias de um laço direto e da “Via Divina” – encontra-se nesta passagem da Sura Hûd (no Corão): Não há nenhum ser vivo que Ele não sustente por seu topete; em verdade meu Senhor está numa via reta (Corão, 11:56). Como a “Via Divina”, a direção que vai de um ser terrestre qualquer a um ponto determinado da abóboda celeste é ao mesmo tempo única para cada um e uma para todos”.8
Fazendo a passagem sugerida no texto, temos que, nesta perspectiva medieval, Deus é paradoxalmente “um e um para cada um”. Isto é muito diferente de um Deus que é “um para todos”, como estamos habituados a pensar a partir de uma visão teológica. Nesta fórmula, Deus é a totalidade e a totalidade é a mesma para todos, naquela, a totalidade é única para cada um, isto é, não pode dissociar-se do singular. As consequências desta sutil distinção apontam, obviamente, para um portal de novas significações.
Um dos maiores expoentes do Sufismo9, Muhyiddîn Ibn ‘Arabî (m. séc. XIII), cuja vasta obra encontra-se significativamente preservada até nossos dias, tira consequências de grave importância quando considera que o Corão – portanto a Lei simbólica – é, igualmente, um e um para cada um.
Questão de crucial importância: para Ibn ‘Arabî, o Corão é “irmão do Universo”, o que deve ser entendido como consequência de uma perspectiva analógica: assim como qualquer língua pode ser traduzível em qualquer outra, qualquer aspecto da realidade pode ser análogo a qualquer outro, a revelação sendo então o lugar de todas as operações analógicas possíveis, de todas as traduções do mundo. O mesmo pode ser dito a respeito do I-Ching, da Torá ou, se quiserem um exemplo surpreendente, das Mil e Um Noites10.
O universo é um livro, um “grande Corão” (…). Reciprocamente, o Livro é um universo. Falar de um é falar do outro. Entre estes dois universos – ou dois Livros – há um intermediário: o homem – trata-se, evidentemente, do insân kâmil11 – que participa da natureza de um e de outro (ele é “irmão do Corão” e é também ‘alâm sagîr, “pequeno mundo”, microcosmo). É a ele que se dirige o discurso divino sob essa dupla forma, é a ele que cabe decifrar este discurso, de ser ao mesmo tempo tarjumân al-qur’an e tarjumân al-‘alâm, o intérprete do Corão e o intérprete do mundo criado, aquele que lhes dá sentido. A manifestação universal é o desdobramento dos âyât Allâh, dos “sinais de Deus” (mas igualmente dos “versículos”, tendo a palavra “âyât” um e outro significado)12.
No entanto, este “dar sentido aos âyât” não pode ser entendido no nível rasteiro que, infelizmente, é o que povoa nosso imaginário a respeito da “Idade das Trevas”: doutores da igreja ou juristas islâmicos interpretando as escrituras para crédulos analfabetos. Os sufis foram perseguidos pela radicalidade de suas proposições e sua constante crítica ao establishment; Ibn ‘Arabî opõe-se de forma contundente às posições exteriorizantes dos doutores da lei islâmicos.
Deus fez da divergência nas questões legais uma misericórdia para Seus servidores e um alargamento daquilo que Ele lhes prescreveu fazer para testemunhar sua adoração. Mas os fuqahâ (doutores da lei) de nossa época proibiram e restringiram, para aqueles que os seguem, aquilo que a Lei sagrada havia ampliado em seu favor. (…) A Lei afirmou a validade do estatuto daquele que faz um esforço pessoal de interpretação para si mesmo ou para aqueles que o seguem. Mas, hoje, os fuqahâ condenaram esse esforço pre- tendendo que isso conduz a uma zombaria da religião. Isto, de sua parte, é o cúmulo da ignorância13.
Tampouco este “dar sentido” pode ser equivalente ao esforço racional da ética protestante ou à interpretação subjetiva do romantismo, ambos operações modernas e, no sentido weberiano, desencantadas.
Dar sentido, no contexto, é estabelecer uma relação entre uma “estrutura” (entre aspas porque o termo é aproximativo) total e uma realidade singular (não individual, não particular).
Possivelmente, operação análoga dá-se no caso, por exemplo, de um praticante da Medicina Chinesa: o fígado, que não é um órgão e sim um lugar qualitativo na estrutura da “língua” corporal, pode ser estimulado num ponto do pé ou da mão. Qualquer ponto ou região do corpo está conectado – e só faz sentido desse modo – com os diversos arranjos totais da corporeidade. Toda a realidade possui a mesma “estrutura” de uma língua e toda ação é vista como o falar, isto é, como algo que não se dissocia da presença total da língua. Escolher os locais onde colocar as agulhas seria exatamente como escolher as palavras ao falar, um processo análogo de formação de sentido.
Com a diferença fundamental, no entanto, de que o falar desencantado obedece a processos de fragmentação, de vigilância e punição, de normalização e de controle que dificultam ao extremo o vislumbre do que essa(s) totalidade(s) implica(m)14. Igualmente, obedece a processos inconscientes cuja “interlocução” com a exposição acima escapa ao modesto porte do presente artigo.
Olhando por um dos muitos ângulos da questão, este dar sentido é criar, isto é, dar forma a uma das infindáveis possibilidades da intertextualidade do real. Olhando por outro, dar sentido é conhecer ou dar a conhecer, pois, como lembra constantemente Ibn ‘Arabî, Deus disse sobre a criação do mundo: “Eu era um tesouro escondido, amei ser conhecido e por isso criei o mundo e as criaturas a fim de ser conhecido por elas“. Desse modo, criar e conhecer obedecem ao mesmo propósito de emancipação do homem em constante embate frente à amplitude, à variabilidade e à imprevisibilidade dos totais.
Eis como Amadou Hampâté Bâ, um dos maiores divulgadores da tradição oral africana, explica a noção de pessoa entre os Fula e os Bambara.
Nas tradições fula e bambara dois termos servem para designar a pessoa. Para os fulas, são eles Neddo e Neddaaku. Para os bambaras, Maa e Maaya. As primeiras palavras significam “a Pessoa” e, as segundas, “as pessoas da pessoa”.
A tradição ensina que existe antes Maa, a “Pessoa receptáculo”, e depois Maaya, ou seja, os diversos aspectos de Maa contidos no Maa-receptáculo. Como diz a expressão bambara Maa ka Maaya ka ca a yere kono: “As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa”. Encontramos exatamente a mesma noção entre os fulas.
A noção de pessoa é, portanto, a princípio, muito complexa. Implica uma multiplicidade interior de planos de existência concêntricos e superpostos (físicos, psíquicos e espirituais, em diferentes níveis), bem como uma dinâmica constante. (…) Em nenhum momento a pessoa humana é considerada como uma unidade monolítica, limitada a seu corpo físico, mas sim como um ser complexo, habitado por uma multiplicidade em movimento permanente. Não se trata, portanto, de um ser estático ou acabado.
(…) É por isso que a tradição considera o corpo do homem como o mundo em miniatura, conforme a expressão Maa ye dinye merenin de ye, isto é: “O homem é o universo em miniatura”. (…) O psiquismo do homem é, portanto, um conjunto complexo. Como um vasto oceano, sua parte conhecida não é nada comparada à ainda por conhecer. O ditado malinês é eloqüente a esse respeito: “Nunca se acaba de conhecer Maa…” Por que esta complexidade?
De um lado, o nome divino do qual Maa é investido confere-lhe o espírito, e o faz participar da Força Suprema. Esta chama-o à sua vocação essencial: tornar-se o interlocutor de Maa-Ngala. De outro, os diversos elementos que estão nele o tornam depositário de todas as forças cósmicas, tanto as mais elevadas como as mais baixas. A grandeza e o drama de Maa consistem em ser ele o lugar de encontro de forças contraditórias em perpétuo movimento, que somente uma evolução bem realizada no caminho da iniciação lhe permitirá ordenar, ao longo das fases de sua vida.
(…) A pessoa, assim, não está encerrada sobre si mesma, como uma caixa bem fechada. Ela se abre em diversas direções, diversas dimensões, poderíamos dizer, ao mesmo tempo interiores e exteriores. Os diversos seres, ou estados, que estão nela, correspondem aos mundos que se escalonam entre o homem e seu Criador. Eles estão em relação entre si e, através do homem, em relação com os mundos exteriores. Antes de tudo, a pessoa está ligada a seus semelhantes. Não se saberia concebê-la isolada ou independente. Assim como a vida é unidade, a comunidade humana é una e interdependente.
(…) Enquanto o homem não tiver ordenado os mundo, as forças e as pessoas que estão nele, ele é o Maa-nin. Ou seja, um tipo de homúnculo, o homem ordinário, o homem não realizado. A tradição diz: Maa kakan ka sé i yere Ia naate a be to Maa ni yala. Isto é: “Não podemos sair do estado de Maa-nin, para reintegrar o estado de Maa, se não formos o mestre de nós mesmos”.
(…) Síntese do universo e confluência das forças de vida, o homem é assim chamado a tornar-se o ponto de equilíbrio onde poderão reunir-se, através dele, as diversas dimensões das quais é portador. Então ele merecerá verdadeiramente o nome de Maa, interlocutor de Maa-Ngala, e fiador do equilíbrio da criação15.
Principalmente com a Psicanálise, o século XX assistiu à crítica da noção de personalidade – categoria moderna, como demonstra Foucault – como uma forma fixa e acabada, como tipificação e naturalização dos sujeitos. Não obstante, em muitas escolas de qualquer parte do mundo esta noção ainda vigora como um parâmetro fundamental e a revista Veja ainda esmera-se em publicar as pesquisas científicas que, para nossa tristeza, a legitimam no contexto ideológico que bem conhecemos. Os lugares da pessoa no Encantamento mostram como um pensamento complexo e in- teressante esteve (em alguns lugares está) em curso de um modo claro, ainda que, para retomar Boaventura, contra-hegemônico.
Maa ye dinye merenin de ye, isto é: “O homem é o universo em miniatura”, ou o ‘alâm sagîr, “pequeno mundo”, microcosmo, situam o ser humano em uma posição (mais preciso seria dizer: um conjunto de posições), por um lado, de abertura integral para o mundo – isto é, de conhecimento como prática “espontânea”, permanente e cotidiana – e por outro, de autoconhecimento em um sentido às vezes difícil de captar para nós, “ocidentais contemporâneos”. Se não se trata de conhecer a própria personalidade, as “qualidades e defeitos”, as características de alguém, como querem os manuais atuais de auto-ajuda, trata-se do quê então?
Como interlocutor de Maa-Ngala ou como tarjumân, o tradutor-intérprete de Deus no mundo, o homem é quem atualiza a escrita dos possíveis (ou, em liguagem encantada, a escrita de Deus) e, portanto, encontra-se em permanente criação e recriação do mundo e de si mesmo, pois, o macrocosmo é análogo ao microcosmo. Conhecimento e autoconhecimento são exatamente a mesma coisa em planos analógicos diferentes e ambos referem-se à decifração da escrita do real. A existência é “uma escrita inscrita, testemunhada por aqueles que foram tornados próximos (Corão, 83:20-1), mas ignorada por aqueles que não são próximos”16.
O que me parece crucial nesse contexto é compreender que a totalidade não é um sistema, um conjunto acabado, um savoir de survol, uma realidade transcendente (tal como a teologia a entende), um discurso determinado. Como um caleidoscópio, ela é antes de tudo um modo de abordagem: concebendo os possíveis como estando sempre ordenados por uma “estrutura linguística” – ilustrada pela ordenação geométrica rigorosa – a consciência mantém-se pacientemente aberta para a permanente mudança – pois basta um pequeno giro para que a imagem no caleidoscópio mude completamente. Experimentando o máximo de rigor com o máximo de flexibilidade, a ciência encantada busca produzir esta dificílima operação perene com o transitório.
Aquele cuja compreensão é idêntica por ocasião de duas recitações sucessivas [do Corão], é perdedor. Aquele cuja compreensão é nova a cada recitação, é ganhador. Quanto àquele que recita sem nada compreender, que Deus lhe tenha misericórdia!17
Dito de outro modo, a totalidade é o Outro do singular, o modo pelo qual esta misteriosa interlocução se dá. Deus é um e um para cada um. Desta maneira, talvez possamos vislumbrar algumas consequências da idéia de que o equilíbrio buscado é sempre “cósmico”, nunca individual. Volto ao artigo de Cesarino.
Para compreendê-los, é necessário deslocar a matriz do processo de criação para outro plano que o do ego, do sujeito autocentrado, da autoria individual e fechada. Algo na direção do que disse Eduardo Viveiros de Castro em uma frase dedicada ao pensamento de Lévi-Strauss: “O criador não como sujeito ou substância, mas como pura relação-intermediário, veículo, laço, mediador, transmissor”18.
Intermediário entre o Livro e o universo, o homem “participa da natureza de um e de outro (ele é “irmão do Corão” e é também ‘alâm sagîr, “pequeno mundo”, microcosmo)”, nesse sentido, ele analogicamente é o Livro e o universo. Nas palavras de outro grande sufi, considerado um dos maiores poetas da Turquia, Jallaludin Rumi:
O mistério da natureza está inteiramente expresso na forma humana. O homem foi produzido do fundo do mais longínquo passado do planeta; ele traz em si, como seu próprio destino, todo o destino do planeta e, com este, o destino do universo infinito. Toda a história do mundo dorme em cada um de nós19.
Desse modo, o objetivo não é apenas contemplar mas sim, e sobretudo, tornar-se a totalidade, isto é, realizar o que “potencialmente” somos. Aquilo que, em termos bambara aparece como ordenar “os mundos, as forças e as pessoas que estão nele”, pode ser traduzido, em termos sufis, como “tornar-se Corão”, ser integralmente a Lei simbólica, daí a justeza da expressão: tornar-se autônomo20. Ou talvez possa ilustrar-se pela máxima do Ubuntu: “Aquele que faz um mal a um homem, o faz a todos os homens e principalmente a si próprio, quem faz um bem a um homem, o faz a toda a humanidade” e do Talmud: “Por esta razão foi o homem criado em separado, para ensinar que quem destrói uma única alma (…) a Escritura o imputa como se ele tivesse destruído o mundo todo, e aquele que preserva uma única alma (…), a Escritura concede-lhe mérito como se ele tivesse preservado o mundo todo.21”
Não se trata aqui, é importante observar, apenas de uma ética, trata-se de uma posição e de um trabalho perante o real. Dizer que “aquele que faz um mal a um homem, o faz a todos os homens e principalmente a si próprio” não tem como objetivo primeiro ameaçar com uma punição aquele que “pratica o mal”, porque a faculdade cognitiva que deve ser usada para pensar a recompensa e o castigo – a da causalidade eficiente – é diferente da que entra em cena para estabelecer esta relação com “a humanidade”. Realizar que a humanidade está implicada em cada ato é ter em si a perspectiva, o olhar e a dimensão do Outro.
Meu servidor não cessa de se aproximar de Mim pelas obras excedentes até que Eu o ame. E quando Eu o amo, Eu sou o ouvido pelo qual ele ouve, o olho pelo qual ele vê, a mão com a qual ele pega, o pé com o qual ele anda…22
O pensamento analógico é um dos recursos mais utilizados em operações com a totalidade. De fato, a conhecida fórmula alquímica segundo a qual “o que está em cima é igual ao que está embaixo” é um correspondente do alâm al-mithâl (mundo das analogias) de Ibn ‘Arabî. Por meio dele, podemos ter um vislumbre da relação que o Mundo Encantado tem, por exemplo, com as histórias da tradição oral e as chamadas histórias de ensinamento, isto é, aquelas contadas por mestres budistas, taoístas, sufis, etc. Ou com os incontáveis padrões geométricos expostos de Bagdá a Granada, nas mesquistas, nos palácios, nas ruas, nos quintais. Ou com a caligrafia. Tudo é Corão, tudo é fala no eloquente silêncio do Outro a quem dirigimos nossa palavra.
Ao mesmo tempo, é preciso dizer que o uso do pensamento analógico como uma abordagem científica – isto é, coerente no que se refere a suas premissas, objetivos e resultados – não é uma novidade. O pioneiro Gregory Bateson é um dos principais responsáveis pela “re-introdução” da analogia num contexto pedagógico mais amplo e, em última análise, pela febre atual de exaltação das metáforas – muitas vezes sem nenhum fundamento crítico – como “instrumento de criatividade e inovação” em grandes corporações. O que considero pertinente observar é que, extraindo simplesmente o pensamento analógico de seu contexto encantado, corremos o risco de mimetizar a prática farmacológica de extrair o princípio ativo das plantas medicinais sem levar em conta que – conforme explicou-me um médico e pesquisador homeopata – os efeitos não se devem apenas ao princípio ativo mas à planta como um todo.
Outro alerta refere-se ao fato de que estamos habituadíssimos a utilizar o pensamento analógico com objetivo argumentativo, como por exemplo quando o governo Bush estabeleceu uma analogia entre Sadam Hussein e, claro, Hitler para justificar a invasão ao Iraque. A analogia, no contexto aqui focalizado, não tem o objetivo de convencer ou de definir. Muito ao contrário, ela é uma operação de montagem e desmontagem, de proposta e abertura, de foco e amplitude, rigor e flexibilidade.
Como exemplo de lugares ainda incipientemente percorridos, atenho-me a um relato de minha experiência pessoal como pesquisadora, sobre aprendizados em torno desse tipo de pensamento no contexto do Encantamento.
Imaginemos a seguinte situação: uma criança está chorando. Em nosso mundo desencantado, o que nós adultos normalmente fazemos em tal situação? Pedimos a ela que pare de chorar e explique o que está acontecendo. Para corresponder à nossa expectativa, ela responderá que está, digamos, com medo (é provável que estejamos lidando com angústia, não medo, mas os pais saberiam diferenciá-los?). Claro, imediatamente perguntaremos: “Medo de quê?”. Novamente, ela tentará nos contentar dizendo: “Tenho medo de ser sequestrado(a) por um terrorista”. Nesse momento, estaremos prontos para repetir a velha ladainha de que não há razão para temer porque nós a protegeremos, cuidaremos etc., etc. Na semana seguinte, uma situação similar ocorrerá e faremos tudo da mesma forma.
Deixemos esta cena e sonhemos como se estivéssemos agora em algum lugar do Mundo Encantado. Uma criança está chorando. Nós não pedimos a ela que pare. Esperamos que ela termine de lidar com a situação. Então, nos dirigimos a ela com esta simples pergunta analógica: “Isso, que você está experimentando aí dentro, se fosse um animal fazendo algo, qual seria?” Então, a criança, aliviada após liberar todas as suas suas lágrimas à amplitude da atmosfera, irá perscrutar dentro de si e começará: “é um bebê elefante que está tentando escovar os dentes, mas ele não consegue decidir entre a camiseta azul ou a amarela que ele tem que vestir para ir na formatura do irmão e por aí vai…”. E nós, claro, estaremos sinceramente interessados e curiosos sobre a história, permitindo que ela a desenvolva livremente. Na semana seguinte, uma situação similar ocorrerá e faremos tudo da mesma forma. Mas a história, evidentemente, será outra: agora, é uma zebra alegre usando meias listradas de vermelho, falando no seu iphone listrado com sua mãe…
Algumas diferenças entre as duas experiências: na primeira, a expressão “estou com medo” deveria servir para descrever a realidade interior da criança, mas todos nós sabemos – inclusive a criança – que o medo é um sentimento, não uma realidade, muitas coisas estão ausentes aqui. Sabemos também que a angústia é uma experiência interior de algo que ainda não tomou forma, uma expressão, uma pista de pouso, e porque não tomou forma, é experimentada como medo ou como algo assustadoramente desconhecido. Se, na próxima semana, a criança estiver com “medo” novamente, após algumas experências como esta, ela estará totalmente convencida: “sou uma pessoa medrosa, tímida…”. A palavra-rótulo “medo” levará à rotulagem da identidade, à fixação de uma única e rígida trama.
Na segunda experiência, a história traduz a realidade interior porque é analógica. Todos os elementos estão lá, o fluxo, as formas, a atmosfera, o espírito. A angústia encontrou o solo da narrativa, uma linguagem para “falar”, uma forma para o Real. Na próxima semana, a experiência é totalmente diferente, não há nada a ser atribuído ao ser, nenhum padrão ou repetição. Nada é idêntico, nenhuma identidade. O autoconhecimento encantado afirma que conhecer a si mesmo não é saber se você é isto ou aquilo, saber que você tem tais qualidades ou fraquezas. Tecnicamente, diríamos que antes de tudo “você não é nada”, como Santa Teresa e tantos outros diriam, e ainda – o que é o mesmo – você é uma cartola de mágico.
Certa vez, na Turquia, ouvi um mestre Sufi dizer: “As pessoas do Ocidente são engraçadas, elas dizem: ‘Sinto muito, mas eu sou assim’, quando, na verdade, elas nem sentem muito e nem são assim”.
Este exemplo bastante simples de uma narrativa infantil como ferramenta de comunicação real e como uma ponte do mundo interior invisível para a forma tangível de uma história é de fato uma abertura para toda uma perspectiva.
Se uma criança pode aprender – por experiência, não porque alguém contou a ela – que comunicar a realidade interior não leva à rotulação dos outros, que o escutar do outro é um modo de desenvolver a realidade interior, que o resultado desse tipo de relacionamento é a descoberta, não a fixação, que ela não é compelida à incentivar o julgamento nem a ser nada para os outros pois nesta relação tudo é mutável, então começamos a imaginar o que, por exemplo, os Aborígenes da Austrália queriam dizer com as ‘songlines’ ou o que os Sufis entendem por safar – viajar no interior da Existência23.
Sem abrir mão da crítica a uma identidade líquida, como definida por Bauman, e fazendo as inúmeras e devidas distinções entre esta e, parafraseando Viveiros, a inconstância da alma encantada, estamos buscando dialogar “sem romantismo”24. Claro está que aqui apenas se beira o assunto, sendo o objetivo deste artigo contribuir com a abertura das discussões, sem qualquer previsão de encerramento24.
Em síntese, a analogia, como modelo mental que articula o total e o singular, está presente nas “outras culturas” como prática de abordagem e de construção do real. Não se trata de reduzir as culturas encantadas em busca de encontrar seus achados analógicos, não se trata sequer de supor que podemos entendê-las integralmente. Trata-se de avaliar o quanto podemos aprender levando em conta que a hermenêutica diatópica, em muitos casos, não pode prescindir do pensamento analógico sob pena de velar o que até mesmo nós, pobres seres desencantados, seríamos capazes de compreender.
Nesse contexto, uma educação que busca criar redes entre saberes contra-hegemônicos encontra-se hoje inteiramente a nossa espera. E, se a antropologia e a sociologia buscam seus “comos”, a filosofia, pela Experiência do Pensamento25 é um guia de viagem:
Esperamos também que a multiplicidade de filosofias e interpretações deixe de ser encarada como limitação e dispersão e como impossibilidade do verdadeiro para ser concebida como riqueza inesgotável do pensamento para pensar o que não foi pensado e para dar a pensar, generosidade e relação com o verdadeiro como horizonte26.
2 Idem, ibidem.
3 Por uma concepção multicultural de direitos humanos, Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 48.
4 Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências, Revista Crítica de Ciências So- ciais, n. 63.
5 Viveiros de Castro, O nativo relativo, Revista Mana, Rio de Janeiro, 2002, p. 10.
6 Expressão privilegiada por Boaventura, a partir de Leibniz: “A razão indolente produz ausências. Produz exclusão. Dou um exemplo: a razão indolente acredita que só a ciência é pensamento rigoroso. e todos os outros saberes são irracionais. Acontece que a biodiversidade nos mostra o quão importante é o saber dos índios, o saber dos povos originários de certas regiões. Saberes sem os quais não conseguiremos preservá-la. Portanto, a visão indolente da ciência, como fonte única de saber, produziu, por exemplo, a ausência do pensamento indígena. É simples: se eu quero ir à lua, precisarei do pensamento científico. Mas se eu quero preservar a diversidade amazônica, preciso conhecer o pensamento < span style="font-size: small;">do índio.”
7 Não sendo antropóloga, não disponho de recursos para buscar “estruturas de fundo“ que fundamentem o Encantamento e este não é meu objetivo. Muito mais que constituir um “objeto de estudo“, a expressão “Mundo Encantado“ visa reunir esforços multidisciplinares para aprender novos sa- beres. Mais que conhecer estes outros, busco convidá-los à convivência e a derrubar as paredes da sala de aula eurocêntrica.
8 Titus Burckhardt, Clé Spirituelle de L’Astrologie Musulmane d‘après Mohyiddîn Ibn ‘Arabî, Archè Milano< span style="font-size: small;">, 1974, p. 20, nota 2.
9 Via de Conhecimento estabelecida no Islam, relativamente pouco conhecida no Brasil mas estudada atualmente nas principais universidades do mundo.
10 Idries Shah, Los Sufies, Luis de Caralt Editor, 1975, Barcelona, p. 178. Nesta passagem, o autor explica que o título “As Mil e Uma Noites” é uma cifra para “matriz de todos os contos”.
11 O “Homem Perfeito“. Sobre al-insân al-kâmil, ver Michel Chodkiewicz, Le Sceau des Saints, Gal- limard, 1986.
12 Chodkiewicz, Introduction, in “Les Illuminations de la Mecque“, Albin Michel, Paris, 1997, p. 51–2.
13 Ibn ‘Arabî, cit. e trad. por Claude Addas, La quête du soufre rouge, Gallimard, 1989, p. 67.
14 Nunca é demais investir na vigilância contra o perigo oposto ao preconceito: a idealização. Não se trata de supor que o “homem encantado“ esteja livre das contradições apenas porque está livre do capitalismo (o que, convenhamos, não é pouco), a comparação que se pretende aqui não é entre “nós” e “eles” e sim entre uma noção de totalidade e outra.
15 Bâ, Amadou Hampâté, A noção de pessoa entre os fula e os bambara, Revista Thot, n. 64, 1977 (texto originalmente editado em francês como capítulo do livro Aspects de la Civilization Africaine, Paris, Présence Africaine, 1972).
16 Ibn ‘Arabî, Meccan Revelations, Pir Press, Nove York, 2002, p. 43.
17 Ibn ‘Arabî, cit e trad. por Chodkiewicz, in Océan sans Rivage, Éd. du Seuil 1992, p 47.
19 Rumî, cit e trad. por Vitray–Meyerovitch, in Le Chant du Soleil, La Table Ronde, Paris, 1993, p. 18.
20 “Autonomia”, etimologica e historicamente, corresponde, sobretudo em Aristóteles, a uma dimensão mais restrita e menos radical que a vislumbrada no contexto, porém, o termo é analogicamente apropriado.
21 Talmud, Sanhedrin 37A.
22 Fala sagrada (hadith qudsi) transmitida pelo Profeta Muhammad.
23 Artigo publicado no International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE) http://www.infonomics-society.org/IJTIE/Published%20papers.htm, vol 3 Issue 2 (2014).
24 Aludindo ao irretocável artigo–manifesto de Ricardo Cavalcanti-Schiel, também publicado no Outras Palavras:http://outraspalavras.net/mundo/america-latina/os-saberes-indigenas-muito–alem–do– romantismo/.
25 Alusão ao livro de Marilena Chauí, Experiência do Pensamento, Martins Fontes, 2002.
26 Marilena Chauí, É possível uma história da filosofia?, curso de pós-graduação na USP, 2010. O contexto em que a frase foi dita é outro, mas considero que se aplique perfeitamente ao que aqui se vislumbra.
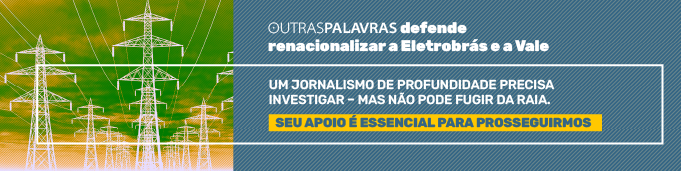


Paideia – A formação do Homem Grego de Werner Jaeger aponta caminhos.
Painel de Weiner Jaguar apontam sentidos.