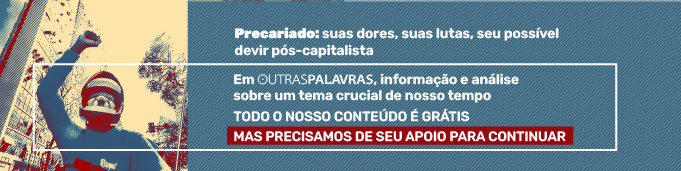Olho de robô
Na noite de Porto Alegre, um humano e um androide especulam sobre realidade e ilusão. Um conto de Jéferson Assumção
Publicado 02/06/2011 às 16:24
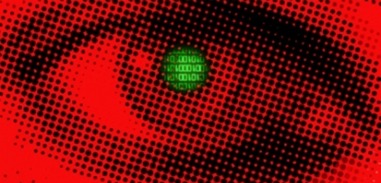
Na noite de Porto Alegre, um humano e um androide especulam sobre realidade e ficção. Um conto de Jéferson Assumção*
Steven Pinker diz, em Como a Mente Funciona, que um robô nunca vê, ao contrário do que querem nos fazer crer alguns filmes por aí. Na verdade, nas histórias de ficção científica, o efeito correspondente ao olhar das máquinas é produzido com lentes grande-angulares ou retículas de fios cruzados que eles colocam na tela. Mas essas imagens, supostamente as visões dos robôs, que vemos na tevê, aparecem apenas para nós, humanos, que já possuímos um olho e um cérebro funcionando, e que podemos captá-las.
Nas entranhas de fios de um robô, não se vê nada a não ser uma série de números, cada um correspondendo a um brilho entre milhões de retalhos mais escuros ou menos. Mas talvez seja tão impossível que os robôs enxerguem até mesmo isso quanto, ao tentar abrir alguém vivo de verdade, vermos sua alma lá dentro. Os números, afinal, são apenas descargas eletrônicas. Era isso o que eu tentava dizer a XY8, àquela noite agradável de novembro, num bar da Rua da República…
– Você me vê, mas não me vê, entende, XY?
Ele não respondeu, acho que um tanto magoado. Olhou-me de um jeito amargo e ergueu o braço para pedir outra Polar. A noite de primavera estava agradável para uma conversa. As mesas, na rua da República, apinhadas de gente que sorria, bebia e trocava olhares com os habitantes das ilhas de metal mais próximas. Retomei, ante o bocejo de XY8:
– A questão é que, na verdade, vocês são completamente cegos, por mais que possam identificar formas e movimentos em seus mais delicados detalhes, com mais precisão até do que nós…
Eu queria dizer a ele que, mesmo vendo, eles não vêem. Mais do que isso. Não enxergam nem mesmo os tais números que existem dentro de suas cabeças! Como veriam, se não existe nada entre eles e as coisas? E isso pelo simples fato de que eles, afinal, também são coisas. Se nós, os humanos, atribuímos a objetos de fios e placas de metal algumas sensações que temos, só pode ser por certo desespero, angústia por estarmos sós no universo.
– Não acha? – concluí.
Ele concordou, com a cabeça. Ainda mudo, no entanto, enfiou mais três botõezinhos de amendoim na boca e limpou as cascas que caíram sobre o colo. Tomei novo gole de Polar. Então, continuei, mudando um pouco o foco do assunto, que não parecia ser muito de seu agrado. E eu sei quando começo a ser chato.
– Você, que gosta de poesia, XY. Penso que pelo menos um tipo de poesia não passa, tal qual a filosofia, de uma técnica retórica de se referir às evidências de modo avesso, de maneira reversa, cuja principal ilusão é ver dotadas de vida coisas que não o são. E a filosofia tem esse mesmo desejo, mas não a mesma coragem.
Foi então que XY8 interrompeu, com sua voz rouca, pausada. Fiquei feliz por ver que ele queria falar:
– Máquinas e pontes, estradas e janelas, rios e estrelas, fábricas e calçadas, muitas vezes vi-as se moverem por meio de figuras de linguagem, que imaginei serem o centro da poesia. Confesso que, por pouco, a vaidade não me fez ver resolvidos todos os enigmas, via literatura, não fosse o problema crucial de que as palavras, infelizmente, não são as coisas. Que tudo o que se fala é apenas aquilo que se fala, que não há relação do que é dito com os objetos, como imagina, por exemplo, a iludida filosofia. Não é isso o que queria dizer?
– Exatamente. Exatamente. E nessas mesmas palavras…
– Não te parece, então – ele retomou – que o problema de vocês seja o inverso do nosso, o que os envolve em idêntica cegueira? – assinalou. Acrescentou que, para ele, éramos apenas sujeitos e que nossa ponte com o objeto estava quebrada. Assim, tudo o que olhamos levaría-nos, por isso, a inevitáveis ilusões. Também disse que, se só podemos enxergar por dentro dos próprios olhos, como, desse modo, poderíamos saber se chegamos, de fato, às coisas reais lá fora? E deu um exemplo: as cores… Poderíamos, nós humanos, dizer que elas são o que são fora de nós? Não é possível ter certeza. E se os robôs vêm números ou nem mesmo isso, parece que nós vemos algo que está apenas dentro da gente, de nossa carne, de nossos nervos, mas não nas coisas. Seríamos, assim, tão cegos quanto os robôs. E desferiu o golpe final:
– Para nós só existem coisas, para vocês, só vocês, Guilherme.
Meu amigo robô é, de fato, uma grande companhia. Fantasma cibernético da Cidade Baixa, encontro-o quase sempre, rodando de bar em bar pelas belas ruas do bairro, à procura de bons lugares para beber, conversar e se chatear o mínimo possível. E há lugares realmente legais. A República já foi uma deles, a Lima e Silva, aquela coisa, que vai se transformando num mar de gente de gosto cada vez mais duvidoso a cada ano que passa. Mas há ruazinhas e bares escondidos, legais e distantes da turba.
De vez em quando tem shows de jazz, inclusive, mas o interessante, mesmo, é a confluência das esquinas mais estranhas de Porto Alegre. Na frente do Opinião, a José do Patrocínio junta, um de frente para outro, bares de metaleiros, surfistas, playboys, pagodeiros, roqueiros etc, num espaço de menos de 100 metros. Um mergulho ou outro por ali é interessante, mas nada mais que uma boa meia hora e já se começa a sentir o cheiro da puerilidade, do prosaísmo que exala mais forte que o das bebidas baratas.
Entretanto, como costuma acontecer, eu e XY8 já tínhamos pago a conta e perambulado por outros bares, tentando reconhecer algum amigo no meio da massa. Acabamos pulando como dois sapos naquele ambiente, esperando que um bar de boa black music com algumas das pessoas mais interessantes da cidade abrisse. No boteco da frente, continuei a conversa, já em outro tema, como sempre.
Perguntei a ele se, em sua opinião, o artista pode pensar não apenas por sínteses e analogias, mas também por análise, como seus colegas cientistas e filósofos. Respondeu-me que achava que não, que a análise só pode dar como resultado o que já está contido no objeto, o que, como todos sabem, impossibilita qualquer descoberta de algo que esteja fora dele.
– O que um poeta iria querer com isso? – acrescentou.
– Exato! A síntese, ao contrário, pode fazer surgir algo que não estava contido completamente na coisa analisada. Os poetas têm a metáfora como instrumento. Pela comparação, pelo transporte, pelas relações estranhas entre objetos e palavras chegam, às vezes, a esse resultado a que chamam de arte.
XY8 comentou:
– Como sempre queres dizer que as relações analíticas são mais prosaicas que as sintéticas, e que eu como produto da ciência não sou poesia, como tu, que és humano…
– Ora, isso não é óbvio, XY?
Mas eu não falava disso. Queria dizer que a arte reside exatamente em poder fazer com símbolos um fio imaginário entre os objetos. Disse a ele que não me parece haver outra forma de enxergar o poético do que renunciando, então, à comprometida análise, e saltando, no escuro, à espera de que exista algo entre as coisas, que só pode ser “pego”, “visto”, “ouvido”, “sentido” por essa ponte frágil. Acrescentei que a poesia me parecia um instrumento como teia de aranha, a agarrar o homem invisível, o universo invisível que supostamente existe entre os objetos. Talvez alguém na universidade pudesse retucar se isso não se trata de uma irreverente metafísica, de um simples método de investigação que não consegue se livrar do estranho, do resíduo, dos ruídos e até das ilusões.
– Uma lógica precária? – ele perguntou.
– É. Mas este não compreenderia a aventura da arte como, também ela, um salto de fé no abismo entre as coisas. E os poetas não se dariam por contentes com uma explicação destas, com tão pouco, obviamente. Eles querem mais, querem ser deuses.
– Não percebes – ele sorriu – que é exatamente assim que, com nossa ilusão, com nossa cegueira, enxergamos, nós, os robôs? A arte é um fio de aço estendido no precipício, sim – ele sublinhou – O artista está ali em cima. No íntimo não nega que não vê nada entre o vazio, nem mesmo a corda a seus pés, e que só o segura o medo de cair e não pegar nada. Ele é como nós, que enxergamos dígitos, talvez nem isso. Mas uma fé o sustenta para que não caia no vazio, lá embaixo. O artista é o que anda sobre as águas, o que dá passos no ar, o que, equilibrando-se sabe-se lá onde, faz aquilo funcionar: a ponte invisível entre as coisas, por onde ele, então, dá mais um passo, e outro e outro, até chegar, são, mas nunca salvo, do outro lado.
Pensei naquilo, atentando para a maneira como seus olhos brilhavam. Pareciam os de um profeta, um louco, ou mesmo um místico iludido por sua própria arte de ilusionista… Olhos de robô, que não vêem nada, nada, os de XY8… Deu-me uma pena.
—
Jéferson Assumção é escritor gaúcho, autor de 17 livros, entre eles Máquina de Destruir Leitores (Sulina), O Mundo das Alternativas (Veraz) e A Vaca Azul é Ninja. Doutor em Filosofia pela Universidade de León, Espanha. Foi secretário municipal de cultura de Canoas-RS e coordenador-geral de Livro e Leitura do ministério da Cultura. Atualmente é diretor-geral e secretário adjunto de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Mantém um blog, frequentemente atualizado