Iná Camargo sai “Em defesa do Iluminismo”
Ao prefaciar livro de Ana Portich, escritora associa-se à visão de Antonio Candido sobre as Luzes e alfineta: obra resgata a “interminável guerra entre os representantes contemporâneos das trevas e os defensores da Razão, entre os quais nossa autora”
Publicado 03/12/2021 às 18:23 - Atualizado 03/12/2021 às 18:24

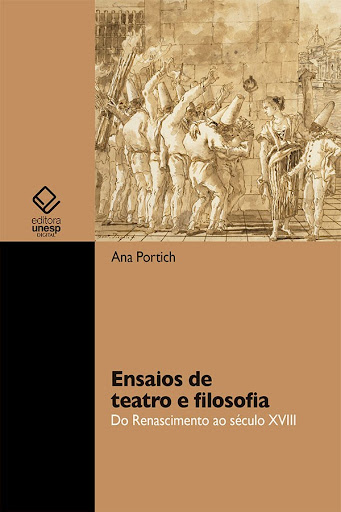
Prefácio ao livro recém-publicado de Ana Portich (Ensaios de teatro e filosofia: do Renascimento ao século XVIII, São Paulo, Editora Unesp Digital, 2021).
O prefácio a um livro tão oportuno como este não pode ir direto ao ponto. Trata-se de coletânea de escritos dos anos 2000 que versam sobre temas relevantes no mundo cultural francês dos séculos XVII e XVIII. É necessário no mínimo configurar o horizonte histórico-filosófico em que se envolveu Ana Portich e isto nos obriga a uma monstruosa digressão, tanto pelo conteúdo quanto pelo tamanho. Simplificando: temos aqui cenas diversas de uma interminável guerra entre os representantes contemporâneos das trevas que combatem ferozmente o racionalismo, ou a razão, e os defensores do iluminismo, entre os quais a nossa autora.
Ao ignorar os vínculos entre os diversos níveis de obscurantismo – dos mais grosseiros aos mais sofisticados, como são os filosofemas – corremos o risco de perder de vista os sutis golpes de esgrima aqui aplicados contra dogmas e falácias, entre as quais a do equívoco, muito estimada pelos adeptos da ambiguidade. Para atinar com eles, é preciso ao menos rememorar alguns dos tópicos mais insistentes. Da mesma forma, o aparente desvio de rota pode ajudar a perceber o valor do trabalho profilático do combate a alguns fetiches que circulam em nossa vida artística, especialmente no campo do teatro e das artes visuais.
Animado pelo conselho de Antonio Candido sobre o caráter emancipatório do iluminismo (saber praticado nos seus próprios termos), este prefácio ainda precisa lembrar das condições de “produção” (por assim dizer) da filosofia no Brasil. Lembrar, por exemplo, que nesta colônia de Portugal o ensino de filosofia permaneceu preso à teologia-que-passava-por-filosofia, nas mãos da Igreja Católica, pelo menos até a década de 1930. Seu monopólio só foi ameaçado pela criação da Universidade de São Paulo em 1934 com a Faculdade de Filosofia, de onde viemos, na qual o curso de filosofia deu início a um processo extremamente tímido de disputa das mentes dispostas a frequentar as supostas alturas do pensamento um pouco mais abstrato. E sem nomear a poderosa adversária, o livro de Paulo Arantes (Um departamento francês de ultramar) dá notícia do divertido processo que nos promoveu de colonizados pela teologia a colonizados pela ideologia francesa, que também pode ser chamada de teologia de segundo grau (por ser um pouco mais abstrata, digamos assim). Para se ter ideia do alcance da operação, é muito recente a presença de estudos sérios sobre o século XVIII entre as nossas disciplinas de graduação em filosofia. Mas, em compensação, os estudos de filosofia medieval, sinal evidente de maior regressão, são ainda mais recentes…
Como sabem os leitores de Engels, a luta no plano das ideias é indiretamente política, mas em alguns casos, como o de Heidegger, o vínculo é explícito e reivindicado. O diálogo crítico deste livro com a Desconstrução, declaradamente inspirada em Heidegger, é discretamente ácido (como ensinam os bons modos filosóficos franceses que importamos a duras penas). Nossa autora esclarece um par de temas a propósito dos ataques a Rousseau por parte da família desconstrucionista que tomou de assalto as disciplinas de filosofia (e demais ciências humanas) desde a monumental derrota do movimento político de 1968. Neste sentido também o livro é atual, assim como o problema do Iluminismo.
Os adversários da referida família (que também se disseminou para o campo das artes em geral e em especial para o teatro) sempre nos incomodamos com o seu pendor obscurantista e agora, na quadra que atravessamos, temos a oportunidade de identificar em seus procedimentos as operações desenvolvidas pelos nossos inimigos políticos atualmente no poder. Ninguém em sã consciência diria que a Desconstrução chegou ao poder no Brasil em 2018, mas, examinadas com atenção as suas práticas, especialmente o descompromisso com a verdade, verificaremos muitas afinidades. Basta lembrar que é para valer o combate governamental à cultura em todas as suas modalidades e a entrega ao clero evangélico das instituições voltadas para a educação, a justiça e os direitos humanos.
Muita gente já percebeu a afinidade entre o fascismo e os malfeitos dos atuais detentores do poder entre nós. O que não recebe o devido destaque é a relação entre nazismo, Heidegger e Derrida. O filósofo da floresta negra deixou por escrito a palestra em que prometia elevar o programa nazista às alturas da filosofia, ou dotar o estado nazista de uma filosofia – a sua – que estivesse à sua altura. A estratégia deste programa (já enunciado nos anos de 1920, em sua obra clássica) é a destruição da dialética, em correspondência com a destruição do marxismo e dos marxistas por Hitler. Para tanto, seria preciso destruir a filosofia moderna, a começar por Descartes, passando pelo Iluminismo e culminando em Hegel. Sem constituir propriamente uma coincidência, são os mesmos adversários expressamente definidos pela Igreja Católica no início do século XX.
O livro de Heidegger chega à França ainda nos anos de 1920 e lá produz um discípulo muito devoto, chamado Maurice Blanchot. Este, assim como o mestre na Alemanha, dedica-se à política da extrema direita francesa e, quando da ocupação do país pelas tropas nazistas, não hesita em acompanhar o governo Pétain a Vichy, onde participou ativamente da política colaboracionista. Depois da guerra, Blanchot trata de rasurar (como se diz em francês) sua biografia e até mesmo se aproxima de pautas da esquerda, como foi o caso do apoio à guerra de libertação da Argélia. Pode até ser que esta causa o tenha transformado em amigo de Derrida e talvez de Foucault. O fato é que ambos são os seus mais conhecidos discípulos.
A obra conjunta da ideologia franco-heideggeriana fica um pouco mais compreensível se nos lembrarmos de seu mais imediato profeta, que foi Nietzsche. E para produzir um resumo das intervenções destes quatro cavaleiros do apocalipse obscurantista, tentaremos passar a palavra a cada um deles, com apoio na palavra de ordem de Foucault: para usar Nietzsche é preciso fazê-lo berrar, gritar e mesmo deformá-lo. Estendemos aos demais esta recomendação.
Começando pelas autodefinições políticas do filólogo que se promoveu a filósofo autodidata, convém lembrar do seu ódio permanente ao socialismo e da sua admiração por Napoleão III, que considerava genial, entre outras figuras do mesmo jaez então em destaque na esfera política europeia de fins do século XIX. Em nome do combate ideológico ao socialismo, define o Iluminismo como principal inimigo, por sua responsabilidade no surgimento daquela corrente política. Seus alvos preferenciais são Descartes e Rousseau e não devemos levar muito a sério sua passageira simpatia por Voltaire. O crime inafiançável de Descartes teria sido a invenção do cogito e, em decorrência, celebrado o homem como ser pensante. Rousseau teria fomentado a revolução com apoio nesta ideia de homem, quando o que Nietzsche quer é uma contrarrevolução antimoderna e antidemocrática. Por isso também investe contra o liberalismo, acusando-o de, no combate aos privilégios do Antigo Regime, ter aberto as comportas dos direitos humanos e, com eles, a dos direitos dos trabalhadores. O horizonte destes direitos inaceitáveis é o socialismo e o comunismo, que pretendem dominar através do terror (em sua opinião, a principal marca da Comuna de Paris, e não da selvageria dos seus algozes). Contra essas pautas, Nietzsche defende uma forma superior de aristocratismo que obrigue as massas a se submeter à escravidão; escravos devem suportar seu destino sem se rebelar, pois este é o preço da civilização. Por isso, também, os senhores não devem ter compaixão por eles. Compaixão produz ressentimento e quem está para cair deve ser empurrado.
Decididamente contra o espírito do tempo, Nietzsche rejeita o presente e a modernidade. A cultura do presente tem que ser aniquilada e, para esta causa, todas as armas são válidas.
A luta no plano filosófico é travada contra o conceito. Por esquecer que são metáforas, os homens acreditam serem os conceitos verdadeiros e corresponderem à realidade. Esta crença corresponde ao essencialismo ao qual será contraposto um radical nominalismo, que consiste em afirmar a univocidade irrepetível de toda realidade individual. Mais ainda: o conceito provém da equalização do desigual, quando o que interessa é a afirmação enérgica do concreto, que é o intuitivo, o particular e o individual. O conceito cometeria o erro de descuidar do que há de individual e real. Saudável é promover a ideia de indivíduo, perigoso é conferir existência separada à espécie e promover a noção de gênero. A construção de conceitos é antropomorfismo.
Neste contexto, verdade nada mais é que um exército móvel de metáforas ao qual cabe contrapor a perspectiva: não havendo nada que corresponda a uma realidade objetiva – só há metáforas –, o conhecimento é contingente, condicional e relativo a interesses diversos. Prevalece o que tem mais poder.
Para Nietzsche, “convicção” é sinônimo de fé; trabalhadores intelectuais têm fé na demonstração. Isto é coisa de pobre, na vida e no espírito, do fanático da lógica e da dialética. Um aristocrata como ele tem direito a ser incoerente e mudar de ideia a seu bel-prazer.
Descartada a demonstração, o melhor método para a exposição filosófica é o aforístico (que até Derrida considera dogmático…). Dentre suas marteladas de aforismos mortíferos, selecionamos alguns exemplos: Vontade de sistema é desonestidade. A ciência, como mera interpretação, deve ser combatida. Cientistas querem que prevaleça a sua interpretação matemática e contábil do mundo. Não há fatos, só interpretações. Filósofos são sacerdotes dissimulados. É preciso questionar as superstições dos lógicos. O silogismo é inspirado pela fúria própria das naturezas mais medíocres e vulgares, como Sócrates. Ele transformou a razão num tirano e absolutizou a demonstração por meio de conceitos e silogismos. A razão iguala e nivela, absorve e engole o individual no universal. A metafísica do sujeito encontra sua expressão mais enfática em Descartes. Consciência é própria de rebanho. Descartes e Kant permaneceram presos à dogmática e à metafísica do sujeito. É impossível a comunicação entre homens superiores e inferiores. Escreve-se para ser e não ser compreendido.
Para Nietzsche a verdade é revelada. Ele se considera o único espírito íntegro na história do espírito. Aquele com o qual a Verdade leva ao tribunal os falsários de quatro milênios.
Atendendo ao “chamado” de Nietzsche, Heidegger – um teólogo rejeitado pelos próprios pares – desenvolveu ao longo de toda a obra as principais recomendações do porta-voz de Zaratustra. Dedicou-se especialmente à destruição da lógica e do cógito cartesiano, a praticar a interpretação como se fosse análise, a libertar a gramática da lógica e assim por diante. Na guerra à lógica, a primeira vítima é a proibição da falácia da petição de princípio, ou círculo vicioso. Eis o dogma: o conceito de círculo vicioso é um mal-entendido de princípio sobre o que é compreender. E um exemplo de interpretação, ou hermenêutica, que passa por análise, ou melhor, usurpa o lugar da análise, expressamente banida: “Distanciar é fazer desaparecer o distante. Portanto produz proximidade. Do ponto de vista de um observador externo, distanciar é aproximar. Do ponto de vista do cógito, que é subjetivo, distante é diferente de próximo.” Na defesa enérgica do irracionalismo, somos informados de que este é apenas o outro lado do racionalismo. O irracionalismo apenas fala de maneira enviesada daquilo que o racionalismo não vê.
Doutor Heidegger, por formação e militância no ramo, sabe que seu trabalho está no campo da teologia, mas também sabe que tal palavra, além de desgastada, remete ao campo da teologia medieval, da qual quer se distanciar (no sentido do cógito). Para tanto, propõe nova designação – fenomenologia – cujo objeto é o ser-em-si. Seu interesse é pelo Ser em geral e o método é a hermenêutica. A hermenêutica elabora as condições de possibilidade de toda investigação ontológica. Uma das tarefas desta teologia rebatizada é realizar a destruição fenomenológica do cógito cartesiano. A outra é a destruição da história da filosofia.
Uma vez afirmado o dogma da validade do círculo vicioso (agora denominado virtuoso), nosso teólogo pode afirmar que verdade provém do Ser e “portanto” o fenômeno da verdade se expressa no conhecimento quando este se mostra como verdadeiro. Sua própria autoverificação lhe assegura a verdade.
Somente quem já compreendeu o Ser pode ouvi-lo. A verdade é revelada pelo logos. O homem é e está, de modo igualmente originário, na verdade e na não-verdade. Por isso devemos pressupor a verdade (a revelada). O Ser só se dá porque a verdade é. Ser e verdade são de modo igualmente originário.
O ser humano é ser-para-a-morte. Como sabe que vai morrer, é capaz de pensar o além. Outra maneira de designá-lo é presença, palavra que em português traduz Dasein. A parte da nova teologia que cuida disto se chama “analítica existencial”, também conhecida como “analítica da finitude”. Desde a renascença o homem está pronto para ser enterrado.
Na comprovação de alguma coisa, a analítica existencial nunca pode evitar o círculo, porque ela não obedece à lógica das consequências. A objeção ao círculo provém de um modo de ser da presença. Ao contrário, na analítica existencial deve haver um esforço concentrado em saltar, originária e integralmente, para dentro desse círculo, a fim de assegurar à partida uma visão plena do ser em círculo da presença.
Uma das marcas da verdade é o paradoxo.
Destruição significa desmontar, demolir e deixar de lado. E abrir os ouvidos para o Ser – conteúdo primordial da teologia. O problema da filosofia moderna é justamente o esquecimento do Ser, é não pensar o Ser em sua verdade. Por isso ela tem que ser destruída.
Representação é inadequada tanto para ente (empírico) quanto para Ser. O desvelamento do Ser mostra que compreensão é melhor. Sentido do Ser é o mesmo que Verdade do Ser. O pensamento que procura a verdade do Ser e o traz consigo é Verdade.
Desvelamento é o mesmo que revelação (Aletheia), mas o emprego de desvelamento evita a conotação abertamente religiosa de revelação. Mas é de verdade revelada por Deus que se trata.
O problema da ciência moderna é ser expressão de uma mentalidade afastada de Deus, pois ela não leva em conta o Criador. A filosofia e a ciência modernas são humanistas porque ignoram a relação do Ser com o ser humano.
Pensar contra a lógica é meditar sobre o logos. Irracionalismo é recusar-se à meditação sobre o logos e sobre a essência da ratio que nele se fundamenta. Somente na luz da essência da divindade pode ser pensado e dito o que a palavra Deus deve nomear. Este pensar é mais rigoroso que o conceitual.
Em sua essência, a linguagem não é expressão nem atividade do homem. A linguagem fala. O desafio é aprender a morar na fala da linguagem. Experiência é revelação. A palavra confere ser às coisas. O conceito tradicional de representação não nos permite saber nada sobre o vigor da linguagem.
Foucault entra em cena assumindo as tarefas enunciadas por Nietzsche e Heidegger: tratar a linguagem como um não-lugar, arruinar a sintaxe e contestar qualquer possibilidade de gramática; promover uma lógica diferente da que reinou durante a “era clássica” (leia-se: Iluminismo) sob o signo da representação. Para isso, lança uma nova modalidade de ciência a que chama “arqueologia do saber”, em cujo prefácio anuncia: “A partir do século XIX a teoria da representação desaparece como fundamento geral de todas as ordens possíveis; a linguagem se desvanece como suplemento indispensável entre a representação e os seres (…); perde seu lugar privilegiado (…), as coisas abandonam o espaço da representação (…). O homem não passa de uma invenção recente, uma figura que não tem dois séculos e desaparecerá quando nosso saber encontrar uma nova forma.”
Interessado em interrogar o pensamento “na direção em que ele escapa de si mesmo”, avisa que Descartes é o responsável pela entrada triunfal do racionalismo no pensamento ocidental. Entre outras operações indesejáveis, com o racionalismo a análise tomou o lugar da analogia e o discernimento descartou a aproximação. As principais marcas do cartesianismo são o mecanicismo, a matematização do empírico, o modelo newtoniano e a análise promovida a método universal.
A Representação se torna todo o pensamento (evidente generalização do fenômeno ocorrido nas artes plásticas do início do século XX). Tudo é dado na representação e esta se torna discurso. Ao expulsar a similitude, a semelhança impõe as relações de igualdade e de ordem. A tarefa da arqueologia do saber é desfazer, ou ao menos contornar, a dependência da linguagem em relação à representação. Até porque é necessária uma forma de designar o Ser, sem a qual não há linguagem.
O fim do pensamento clássico – ou iluminista – coincide com o recuo da representação; a arqueologia do saber mostra que o espaço geral do saber não é mais o das identidades e das diferenças, segundo o dogma de Nietzsche; no saber, a visibilidade, que só dá acesso à empiria, não tem mais papel. A análise da representação não dispõe de meios para tratar de objetos como esforço, fadiga e morte, por exemplo.
Kant teria o mérito de questionar os direitos e limites da representação e com isto demarcar o limiar da nossa modernidade, pois sancionou a retirada do saber e do pensamento do espaço da representação, abrindo o caminho para uma metafísica apta a interrogar, fora da representação, tudo o que constitui sua fonte e origem, o caminho da arqueologia do saber. Nietzsche também abriu o espaço do pensamento contemporâneo ao queimar as promessas mescladas da dialética e da antropologia na fogueira dos temas como a morte de deus, errância, super-homem e eterno retorno.
A essência da linguagem clássica é o cógito. Nele se articulam representação e Ser. É esta articulação que precisa ser desfeita, de modo que a representação deixe de ser o lugar de origem e a sede primitiva da verdade dos seres vivos, das necessidades e das palavras. Abandonada a representação, anuncia-se a finitude do homem. Torna-se obrigatória a analítica da finitude: o homem moderno só é possível a título de figura da finitude. Na analítica da finitude não se trata mais da Verdade, mas do Ser. Inaugurado por Husserl, o pensamento moderno estabelece a lei do pensar o impensado.
Enquanto a filosofia clássica se interessava pela origem, o pensamento moderno descreve o originário, como Heidegger, ou o Nietzsche do eterno retorno. Agora se analisa o modo de ser do homem, não mais a representação. Nesta análise, a reflexão busca as condições de possibilidade do saber e assume o projeto da crítica radical da razão iniciado por Nietzsche. A analítica da finitude interroga a relação do ser humano com o Ser que, designando a finitude, torna possíveis as positividades em seu Ser concreto.
Morte, desejo e lei são as formas da finitude tal como esta é analisada no pensamento moderno. Morte é o que torna o saber possível. Desejo permanece impensado e Lei-linguagem é a origem de toda significação. Estas três figuras designam as condições de possibilidade de todo saber sobre o homem.
Nietzsche falou do deus morto e do fim de seu assassino. O homem está em vias de desaparecer. Aliás, o homem é uma invenção recente; a arqueologia do saber pode datá-lo com facilidade, bem como anunciar o seu fim próximo.
Derrida define logocentrismo como efeito do sistema da fala, do sentido e da verdade. Dispõe-se a combatê-lo onde quer que se apresente na história da filosofia, por meio da máquina mortífera a que chamou Desconstrução, mas esta só pode ser compreendida por quem conhece a ontologia heideggeriana. O pensamento que a ignora é metafísico e teológico. Logocêntricos que precisam ser combatidos: Platão, Aristóteles, Rousseau/Lévi-Strauss e Saussure. (As contas com Hegel serão acertadas em outras oportunidades.)
Sua causa é a mesma de Nietzsche, cuja escritura não está originariamente sujeita ao Logos e à Verdade. O sentido da época em que aconteceu a sujeição da escritura ao Logos e à Verdade precisa ser desconstruído. Outras inspirações provenientes de Nietzsche são a interpretação, a perspectiva, a avaliação e a diferença. Com elas é possível desconstruir toda a conceitualidade organizada em torno do conceito de signo.
Mas Nietzsche e Heidegger têm limites. O primeiro é dogmático e o segundo ficou preso na teologia medieval. Mas se Nietzsche introduziu a diferença, Heidegger trouxe o Ser e, com ele, a abertura à senda que dará as condições de possibilidade de desconstruir a essencialização do Ser, pecado mortal da metafísica ocidental, que limitou o Ser ao campo da presença.
A hermenêutica da travessia também vem de Heidegger. Atravessar um autor é Desconstrução, jogo livre e antilógico das categorias. É preciso interrogar incansavelmente as metáforas e proceder à inversão geral de todas as direções metafóricas. Os nietzschianos sabem que metáfora é a condição de possibilidade de qualquer conceito e que Verdade e Mentira são igualmente determinantes da linguagem. A catacrese, metáfora forçada, como é o caso de “luz da razão”, caracteriza a língua filosófica, que nada mais é que um sistema de catacreses. Na desconstrução não se trata de simplesmente passar de um conceito a outro, mas de modificar e deslocar uma ordem conceitual, assim como a ordem não conceitual à qual se articula.
As recomendações de Nietzsche são sempre pertinentes: desconfiança sistemática da metafísica como um todo; pensar o filósofo como artista e suspeitar dos valores de verdade, de sentido e de ser, bem como de sentido do ser.
A travessia realizada em Rousseau/Lévi-Strauss leva a um resultado particularmente surpreendente, em parte porque, em nossa “língua metafísica” que já foi devidamente atravessada, corresponde à falácia da generalização apressada: “Todo o pensamento de Rousseau é – num sentido – uma crítica da representação, política e linguística. Mas esta crítica vive na ingenuidade da representação.” Por isto mesmo Derrida pode afirmar que para Rousseau o próprio teatro – descartado por Nietzsche como demolatria a serviço da destruição do bom gosto – está trabalhado pelo mal profundo da representação. Ele é a representação; o ator nasce da cisão entre representante e representado.
Não é propriamente acidental a inundação dos nossos estudos filosóficos e de ciências humanas por uma extensa bibliografia proveniente dos autores acima e seus discípulos desde os anos de 1970. Para este caso, talvez o próprio conceito gramsciano de hegemonia seja insuficiente. Eles praticamente dominaram as mais diversas áreas. Mas nem por isso os trabalhos interessados na bibliografia por eles combatida deixaram de ser produzidos, na França como no Brasil. A pesquisa de Ana Portich se desenvolveu neste nicho, em situação de semiobscuridade, mas tem um bom número de representantes no Brasil. Este livro é um exemplo de como lidar com os ataques daquela gente: em lugar de perder tempo debatendo diretamente teses que nem ao menos têm compromisso com a coerência exigida por nossa “pobre” lógica aristotélica, selecionar os temas que precisam ser esclarecidos para a produção de um conhecimento verdadeiro dos autores do século XVIII, bem como das experiências relevantes naquele período. Ou ainda: expor alguns dos pressupostos das teorias sob ataque, começando pelo simples estabelecimento do próprio texto. Em países como o Brasil, que nem falam mais francês, isto não é pouca coisa.
Pelo menos no que diz respeito ao Iluminismo, podemos dizer que a campanha obscurantista não foi muito bem-sucedida, e este livro é uma prova empírica (é verdade que para eles isto não tem valor). Interessada há tempos pelo mais valioso teórico do teatro naqueles tempos de combate às trevas que foi Diderot, nossa autora tratou de ampliar o horizonte para outros autores e episódios esclarecedores de problemas que ainda hoje interessam, na medida em que a classe então revolucionária (a burguesia) se tornou freneticamente inimiga de suas próprias teorias, e isto há mais de duzentos anos.
O livro já começa enfrentando a péssima leitura operada por Derrida sobre a obra de Rousseau; depois contrapõe o próprio Diderot a Derrida, incapaz de compreender as inúmeras determinações do conceito de representação. Estabelece os limites histórico-políticos da relevante contribuição de Diderot para um conhecimento exigente das artes plásticas, levando em conta seu ideal democrático e igualitário. Expõe as razões classistas e ideológicas do veto burguês ao elemento épico no teatro, bem como o caráter político tanto da cena quanto das convenções (inclusive a cláusula dos estados) a que o teatro ora se submete e ora enfrenta, além de tratar da matriz propriamente teológica (e catequética) do teatro profano desde o século XVII, que Rousseau denunciou como arma do despotismo, em novo confronto com Derrida.
Um precioso estudo sobre a experiência do nosso Antônio José e o seu teatro de marionetes em Portugal, inteiramente submisso, em inútil e obsequiosa reverência, às limitações impostas à cena pela Inquisição, traz mais luzes sobre os motivos da tradição nietzschiana para odiar o Iluminismo. Entre seus crimes está o de incitar à liberdade de pensar e agir. E, assim fazendo, provocar a reação dos poderes (Estado e Igreja). A este propósito, vale a pena reproduzir a declaração de um dos porta-vozes daqueles poderes em função de sua nada surpreendente atualidade: “Não é tirania, mas caridosa e madura prudência educar os povos, tanto quanto possível, nessa simplicidade a que não dou o nome de ignorância; ao contrário, tirano furioso é aquele que, tentando infundir-lhes sofismas e uma perigosa soberba, os inquieta e os expõe aos funestos e necessários castigos de quem governa”. Segundo Nietzsche, foi Descartes quem cometeu o crime de lesa-divindade ao afirmar em sua quarta meditação metafísica que o grau mais elevado de liberdade consiste em aderir à verdade manifesta pelo entendimento. Por isso o trabalho da destruição/desconstrução tinha que começar por ele.
Este livro ainda expõe as razões políticas para o drama ter prevalecido na cena francesa e desmascara o fetichismo da improvisação, cujo segredo é explorar clichês. O estudo sobre a lendária Isabella – a da loucura – demonstra que o improviso neste caso segue de maneira muito pensada e sensata o cânone da insensatez dos mouros tal como prescrito pela Igreja, com direito a acentuar o preconceito sobre a inconstância da mulher. Finalmente, um exame atento da Ofélia de Hamlet permite perceber nesta peça, para além do drama de ser ou não ser do príncipe despistado, a presença de tópicos relevantes do hermetismo, do catolicismo, do luteranismo e do anglicanismo.
Os leitores de Feuerbach sabem que a hipocrisia do nosso tempo recomenda perplexidade da mente, inércia no coração, falta de verdade e de convicções – enfim, falta de caráter. E os de Brecht sabem que é preciso escrever a verdade e dirigi-la a quem é capaz de fazer uso dela, pois a verdade é guerreira. Ela luta contra a falsidade e contra os que a disseminam. Este livro é útil em nossa luta.
_________
Referência:
Ana Portich. Ensaios de teatro e filosofia: do Renascimento ao século XVIII. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2021.

