1968, memória pessoal: da esperança à melancolia
Maria Rita Kehl revela suas memórias de um ano raro: teatro, autonomia em São Paulo, leves namoros — e por fim o AI-5, as pressões da família em dez quilos a mais
Publicado 07/05/2018 às 08:16 - Atualizado 20/12/2018 às 23:51

Maria Rita Kehl revela suas lembranças de um ano raro: teatro, autonomia em São Paulo, leves namoros — e por fim o AI-5, as pressões da família em dez quilos a mais
Por Maria Rita Kehl, em Carta Maior
Para resgatar minha memória pessoal a respeito do ano de 1968 preciso lutar contra a memória social daquele ano. Embora eu tenha reconstruído mais tarde o significado do ano de 1968 no Brasil e no mundo, (fui uma adolescente alienada), essa memória histórica é hoje muito, muito mais viva e presente do que a da ginasiana que eu fui.
1968 começou para mim em 1967. Minha família, amorosa e divertida, era na verdade meio de direita. Eu não me dava conta disso. Entendia vagamente as divergências entre meu pai e o cunhado dele, tio Chico, que conhecera o regime de Fidel com um grupo de arquitetos da FAU, em 1963. Chico era o “comunista” da família. Ele me mandou um postal de Havana, apenas porque eu, aos 11 anos, colecionava postais. Não me lembro do que ele escreveu, mas percebi que “ir a Cuba” era uma experiência importante para quem queria mudar o mundo. Isso, eu queria desde a infância, à maneira infantil: mudar o mundo.
1967 foi o melhor ano da minha adolescência. Estudei em um colégio de freiras, mas eram dominicanas ligadas à Teologia da Libertação. Fizemos trabalho voluntário em uma favela do Alto de Pinheiros. Oferecemos aulas particulares para recuperar crianças que iam mal na escola. E tive a imensa sorte de integrar o Teatro Adolescente Santa Cruz (TASC), dirigido por um “perigoso elemento” chamado Marinho.
O colégio Santa Cruz era só masculino e o meu, Rainha da Paz, só feminino. O grupo do TASC precisava de meninas e nos convocou, na escola vizinha. Fui. Adorei. Tudo, tudo era interessante. A começar pelos meninos (namorei dois deles, sem grande paixão). E os ensaios, que aconteciam num salão grande cedido pelas freiras do lindo colégio Des Oiseaux, perto do Baixo Augusta. Tomar o ônibus e descer na Consolação, para uma menina que saía sempre de carro com a mãe, era muito excitante.
Em grupo fazíamos práticas de relaxamento e concentração. Vivíamos com uma sensação de boemia: tocar violão, torcer pelos nossos compositores prediletos nos maravilhosos festivais de Música Popular Brasileira da TV Record, sentar no chão (isso mesmo: atitude vanguardista, há 50 anos!), sair pelas ruas para colar cartazes da peça… Tudo era expectativa e excitação.
No final de 67 fizemos O presépio na vitrine de Roberto Freire. Como entrei no grupo com os ensaios avançados, fiz só figuração e coro.
Aí entrou o ano de 1968. Chico Buarque, que estudou no Santa Cruz, foi se apresentar lá. As “meninas do TASC” foram convocadas para fazer o coro em algumas canções! Hoje posso dizer que já cantei com o Chico.
No teatro, superamos a fase ingênua do Presépio na Vitrine e partimos para Camus: o Marinho resolveu encenar A Peste. Eu nem imaginava que era uma forma de criticar a ditadura! Além das novidades excitantes do ano anterior, agora fazíamos também exercícios de relaxamento e de improvisos, sempre divertidos. Meus talentos teatrais não eram grande coisa; então ganhei o papel de “secretária da Peste”. Com um caderno na mão, cortava um por um os nomes das pessoas que a peste eliminava. A falta de talento não impedia que eu gostasse tanto dos ensaios e do ambiente “teatral”, que hoje só consigo me lembrar da fase preparatória.
Não tenho memória dos acontecimentos da estreia, mas sei que foi no TUCA. Depois, não me lembro se levamos A Peste em outros colégios. O fato é que eu vivia como se que o tédio adolescente tivesse ficado pra trás. Para sempre. Se dependesse de mim, teria continuado no TASC.
O ano de 1968 estava no fim. No dia 13 de dezembro (aniversário da minha avó…) Costa e Silva decretou o Ato Institucional número 5, que representou o recrudescimento da repressão militar, depois de um primeiro período (de 64 ao final de 68) em que ainda se podia respirar, criar, protestar. Pessoas começaram a desaparecer ou morrer na tortura, mas eu não sabia disso. O problema é que meu pai apoiava a ditadura. Achava importante “botar ordem na bagunça”.
Uma noite, ele e minha mãe me chamaram para conversar. Não me lembro de uma palavra do que foi dito. Mas sei que meu pai fez uma preleção, enrolada, embebida de chantagem emocional… e me “convenceu” a sair do TASC. Comuniquei minha decisão ao grupo, com justificativas mais enroladas do que as do meu pai. Chorei o tempo todo, enquanto me justificava. Todos me acharam covarde de pular do barco naquele momento. Ninguém se comoveu com meu blá-blá-blá.
O ano de 68, que começara esperançoso, terminou melancolicamente – para o Brasil e, em escala diminuta, na minha vida pessoal. Fiquei triste e entediada. Engordei. Engordei quase dez quilos por causa do AI-5.
Um comentario para "1968, memória pessoal: da esperança à melancolia"
Os comentários estão desabilitados.

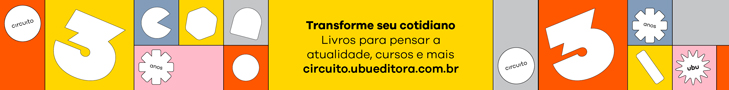

Ao terminar de ler senti que o comentário “ensaiou uma peça” mas não a apresentou. Criou uma (pequena) expectativa que, mesmo assim, não correspondeu.Frustrei-me. Mas nada de desagradável, pelo menos…