O aloprado venceu o professor
Publicado 14/10/2011 às 21:24
Um dia, alguém percebeu a contradição entre os dois papéis que, durante pelo menos três anos, o ator desempenhou. A velha mídia, que teme por seus anunciantes, acendeu a patrulha e deu o bote
Por Matheus Pichonelli, Carta Capital
No começo do ano, pouco antes de pegar o ônibus para o trabalho, costumava tomar café numa loja de departamento – dessas que vendem de jornal a aparelho de celular. Para chegar ao segundo andar, onde funciona uma livraria, pegava a escada rolante e reparava, do alto, numa pequena aglomeração sobre um televisor. No dia seguinte, a aglomeração aumentava – era possível notar que alguns personagens voltavam acompanhados de algum amigo. Foi assim durante alguns dias: toda vez que pegava a escada rolante, notava que a pequena aglomeração havia se transformado numa pequena multidão.
Em volta da tevê, todos pareciam hipnotizados. E riam. Riam muito. Riam tão alto que fiquei curioso para saber o que tanto olhavam. Foi quando soube que o produto a venda não era a tevê, mas um DVD com as piadas feitas por Rafinha Bastos em seu show de stand up comedy.
Não sei quanto tempo o produto ficou a venda. Mas posso garantir que, enquanto deixou o DVD exposto, a megastore conseguiu reunir em semanas um público que fatalmente se acotovelaria para ver o comediante em sua casa de show. Comentei com um amigo, que tem amigos em comum com o Rafinha, e ele contou o seguinte: num dos programas semanais do qual participava na Bandeirantes, os futuros entrevistados sempre perguntavam à produção: “Mas é o Rafinha que vem?” Quando ele chegava para a pauta, geralmente para acompanhar o dia de um trabalhador ou apresentar matérias-denúncia sobre o descaso do poder público, as pessoas se preparavam, se aglomeravam (como na frente da tevê) e o tratavam como uma espécie de porta-voz da comunidade, capaz de amplificar em segundos uma queixa que, longe das câmeras, levaria anos para ser solucionada.
Mas Rafinha Bastos é um personagem. Quando entrevistava (fosse ou não orientado pela produção), fazia crescer os olhos e a voz, numa tentativa, ora forçada, de mostrar indignação. Foi assim quando mostrou a suspeita de trabalho escravo envolvendo uma grife multinacional. Ou quando pedia providências para transporte público escolar. Ou quando dava as caras em reportagens sobre moradores de rua ou comerciantes ambulantes.
Ou quando passou dias comendo a merenda de uma escola pública diante das câmeras, em casa, numa tentativa de denunciar a falta de cuidado com os alimentos dos pobres estudantes.
 Sem internet, Rafinha seria como o professor que ganha os alunos com piadas e frases-feitas. Mas havia milhões na plateia, e uma trincheira na vida real.
Sem internet, Rafinha seria como o professor que ganha os alunos com piadas e frases-feitas. Mas havia milhões na plateia, e uma trincheira na vida real.
Rafinha Bastos era um fenômeno, embora jogasse um jogo aparentemente fácil: de um lado, crianças (ou injustiçados); de outro, um político de antemão apresentado como insensível.
Mas um fenômeno, no Brasil, precisa se resguardar em cuidados para não deixar a mostra os outros lados da mesma personalidade. Jogadores, cantores, políticos, empresários e até jornalistas gastam o que têm e o que não têm em cursos de etiqueta e manuais de mídia training: posam abraçando crianças e proferindo frases-feitas para aplausos na plateia do Faustão. Quase nunca deixam brechas: o ralho com a empregada, a piada sobre a mulher feia, a agressão aos filhos e o suborno na Receita quase nunca saem no jornal. Se sair, é pena de morte.
Foi aí que Rafinha tomou o contragolpe. Não por sua postura na vida pessoal (que poucos sabem), mas pela postura de seu outro personagem. Durante algum tempo, ele transitou entre o repórter socialmente responsável (ao menos para o público) e o piadista sem-noção, oriundo de uma escola cujo escracho vale mais que mil paródias. Se é rindo que se corrigem os costumes, o Rafinha piadista e sua trupe (sim, porque não estava sozinho) pareciam inverter ou desprezar a própria função: os pobres que continuassem pobres, os feios que seguissem feios, os ladrões que continuassem ladrões e os indignados que rissem de tudo, porque rir era o fim e não o meio.
De alguma forma, colocar puta, traficante, ator e viciado no mesmo balaio parecia engraçado. E, por um motivo aparentemente inexplicável, o mesmo ator que defendia os injustiçados dos políticos não parecia desmentir o comediante que chutava todo mundo, injustiçados inclusive.
Com o papel, ele passou a despertar antipatia nos jornalistas, que não o reconheciam como colega – e nem tinham as mesmas ferramentas para estourar miolos de mosquitos com metralhadora. Mas Rafinha não precisava dos colegas: enquanto tivesse aplauso, não precisaria da mídia nem de ninguém. Para chegar ao público, bastava falar. Tinha sua própria casa de shows e sua própria rede de seguidores, milhares de seguidores em redes sociais que o levaram a ser considerado como a personalidade mais influente do Twitter em matéria do New York Times.
Mas um dia alguém percebeu a contradição entre os dois papéis que, durante pelo menos três anos, o ator desempenhou. Havia uma trincheira em volta dele, e ele parece não ter notado: os zilhares de seguidores não o salvariam da trairagem da própria bancada do CQC. Faltava acender um isqueiro. Um dia, ele falou sobre a mulher do amigo do colega que era pago pela empresa que também bancava o sócio do marido do amigo do colega.
Bastaram quatro pessoas, uma empresa (talvez mais) e um bebê. E a velha mídia, que teme pelos seus anunciantes, acendeu a patrulha e deu o bote.
Rafinha dormiu justiceiro e acordou “estuprador”. Um dos papéis havia sido tirado dele. Sobrou o outro, e foi nele em que se agarrou, cuspindo em todos os que acreditava não precisar. Bastava, talvez, um pedido de desculpas, recorrendo, como todo mundo faz, à tal da humanidade que nos leva a cometer erros infantis, fora de contexto e tudo mais. Por algum outro motivo (também inexplicável) a resposta foi outra: receita de bolo para um, banana para outros, cacete para outros mais. Hoje, levar o “justiceiro” para mostrar as mazelas da comunidade ou mostrá-lo como anunciante pega mal. Parte da plateia evaporou.
Poucos entendem – e qualquer tentativa de explicação fatalmente cairá no moralismo, em julgamento ou fofoquinha. Muitos dirão: mas por que tanta tinta gasta com um artista se há tanta fome no mundo? Porque, mídia e espectadores, não conseguem entender a que se deve um fenômeno como Rafinha. Talvez nem ele mesmo. Por ser um fenômeno forjado na internet, embora alavancado na tevê, o assunto se torna inesgotável. Sem medo de errar, é possível dizer que hoje ninguém, nem político nem empresário nem qualquer outro artista, tenha a mesma capacidade de se tornar assunto, gerar polêmica e discussões no Brasil como o Rafinha Bastos.
Desafio quem quiser a sair na rua e encontrar mais de duas pessoas, entre 12 e 35 anos, num grupo de cem, que saibam citar duas palavras proferidas pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da Onu. E desafio o mesmo curioso a encontrar, nesse mesmo grupo, dois jovens que não saibam citar de cabeça ao menos uma polêmica protagonizada por Rafinha na última semana.
A polêmica alimentada na polêmica fez com que Rafinha (ou a suposta decadência dele) se tornasse tema obrigatório em qualquer site para alavancar a audiência.
 ‘Por um motivo aparentemente inexplicável, o mesmo ator que defendia os injustiçados dos políticos não parecia desmentir o comediante que chutava todo mundo, injustiçados inclusive’
‘Por um motivo aparentemente inexplicável, o mesmo ator que defendia os injustiçados dos políticos não parecia desmentir o comediante que chutava todo mundo, injustiçados inclusive’
Parte do fascínio sobre o comediante tem origem na mesma pergunta: como? Como é possível?
Arrisco: Rafinha fala com a juventude, ou com adultos juvenis, que ainda são capazes de rolar de rir se alguém tropeça na frente deles em uma casca de banana. Lembra, em alguns aspectos, o professor que ganha os alunos no cursinho ou no colegial: se apresenta com piadas constrangedoras (sobre a loira, sobre a monga, sobre o lerdo, sobre o deficiente), mas dá a sua aula; fala frases-feitas, e ganha a admiração de todos; transita entre o sério e o sem-noção; tem o domínio de um público que ainda forma a opinião sobre qualquer coisa. E tem a vantagem de estar na frente de todos, o microfone às mãos. De novo, com outros recursos, parece um jogo fácil. Como jogar políticos contra um público com pena das crianças.
Mas um dia os alunos crescem. E as piadas (como a vida) deixam de parecer engraçadas. E as frases-feitas, a moral da história, já não fazem sentido. E o professor aloprado, ídolo da molecada, vira o babão em pouco tempo (mas o público se recicla, e no ano seguinte, novos alunos surgem). Vendo o Rafinha, lembro de todos os professores do colégio e cursinho que domavam as feras de 18 anos, mas que hoje não sobreviveriam a dez minutos de argumentos num reencontro de turma, dez anos depois.
A diferença é que, com os sites de compartilhamento, as redes sociais, e as páginas eletrônicas de fofoca, a sala de aula se transformou numa plateia para milhões. Com a trincheira à sua volta, cavada pelos amigos e empregadores, o tombo só foi maior. O mundo da celebridade é assim: ela se alimenta dos picos, mas também da decadência. E decreta prisão perpétua para quem errou no lance final.
—
Matheus Pichonelli Formado em jornalismo e ciências sociais, é subeditor do site e repórter da revista CartaCapital desde maio de 2011. Escreve sobre política nacional, cinema e sociedade. Foi repórter do jornal Folha de S.Paulo e do portal iG. Em 2005, publicou o livro de contos ‘Diáspora’.

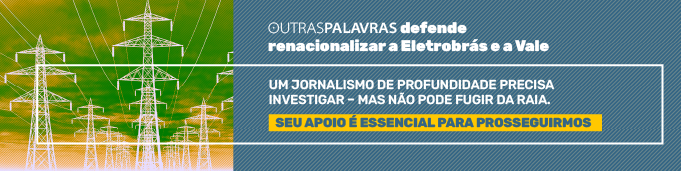


Um comentario para "O aloprado venceu o professor"