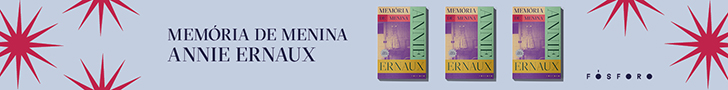Por que a política precisa de Mamdanis
A mesma lógica que financia massacres – ou enriquece o 0,1% – nega recursos para creches. Brasil vive sua versão da tragédia, agravada pela condição periférica. Falta uma esquerda que proponha presença, corpo, antagonismo e imaginação
Publicado 11/11/2025 às 19:47 - Atualizado 11/11/2025 às 20:02

O vídeo começa sem aviso, como uma cena roubada da vida. No Bronx, Zohran Mamdani caminha de terno azul e microfone na mão. É mais uma tarde de campanha nas calçadas de Nova York. Um homem passa e, em tom provocador, lança:
— You’re a communist!
Mamdani ri.
— I’ve been called worse.
“Já me chamaram de coisa pior.”
A resposta é simples, mas desmonta a agressão. O homem hesita, se aproxima, pede o microfone. “I voted for Trump”, confessa — “Eu votei no Trump.” A expectativa seria o confronto. Mas não há confronto. Mamdani escuta. O homem continua: “I don’t agree with everything you say, but you talk to us.” — “Eu não concordo com tudo o que você diz, mas você fala com a gente.”
É um diálogo breve, banal, e talvez por isso tão decisivo. Numa época em que o insulto parece ser a única forma de interlocução política, Mamdani responde com escuta. Em poucos segundos, o insulto “comunista” perde seu peso de ameaça e volta a circular como palavra comum, quase curiosa. Um signo devolvido ao campo do possível.
Essa pequena cena, captada por acaso, sintetiza um tempo de ruptura. Em 2025, um ano após Donald Trump voltar à presidência, a vitória de Mamdani na prefeitura de Nova York é uma virada simbólica. Em meio ao esgotamento do bipartidarismo norte-americano, ele representa uma nova linguagem política: a da presença e da escuta, a do antagonismo que não se confunde com ódio, a do cuidado que não é sentimentalismo, mas programa.
Nos Estados Unidos, país que transformou o individualismo em religião e o mercado em moral, um político abertamente socialista venceu falando de preço do aluguel, transporte público, creches e cessar-fogo em Gaza. A radicalidade não estava no estilo, mas na substância. Falar de redistribuição num país que fez da desigualdade um destino é, por si só, um ato revolucionário.
Mamdani não surge como outsider carismático. Ele é um organizador comunitário, nascido em Uganda, filho de pais muçulmanos, formado no Queens, um político que aprendeu a traduzir o sofrimento social em agenda concreta. Sua vitória é o resultado de uma construção paciente, feita de alianças entre imigrantes, trabalhadores precarizados e jovens desiludidos com as promessas do liberalismo. Num cenário em que o Partido Democrata se tornou gestor da apatia e o Partido Republicano o canal institucional da fúria, Mamdani oferece uma terceira linguagem: uma política popular, mas não puramente populista; radical, mas não sectária; moral, mas não moralista.
A cena do vídeo é o retrato dessa travessia. O homem que votou em Trump e agora conversa com um socialista representa uma fatia crescente dos Estados Unidos: os desiludidos de ambos os pólos, os órfãos do consenso. É o mesmo desamparo que, em contextos diferentes, aparece nas periferias do Brasil, no entorno de Paris, nas fábricas da Inglaterra, nas megacidades que surgiram nas últimas décadas no continente Africano. O que está em jogo é mais que uma eleição, é a busca por sentido num mundo em colapso.
O bipartidarismo norte-americano sempre funcionou como o centro simbólico do Ocidente: um sistema que transformou o conflito social em disputa de marketing. Democratas e Republicanos são duas faces de um mesmo consenso: o da inevitabilidade do mercado. Trump, com seu populismo autoritário, rompeu a fachada moral desse sistema, mas não sua lógica. Mamdani, ao contrário, propõe romper o próprio modelo. Ele representa uma cisão interna, uma esquerda que se assume anti-sistêmica e anti-guerra dentro do coração do império. Enquanto Barack Obama prometia reconciliação, Mamdani propõe antagonismo. Ele não fala em restaurar a normalidade, mas em reconstruir o comum. Sua agenda não é apenas um conjunto de políticas sociais; é um projeto de refundação democrática. Onde o liberalismo vê crise, ele enxerga possibilidade.
A vitória de Mamdani é, nesse sentido, mais que uma resposta ao trumpismo. É um contraponto ético à forma de vida que o produziu. Porque o trumpismo não nasceu do nada: ele é o produto final de uma economia que destruiu o trabalho, corroeu as comunidades e transformou o medo em capital político. O mesmo sistema que gera bilionários também fabrica ressentimento. A extrema direita soube capturá-lo. Mamdani tenta transformá-lo.
Há uma diferença profunda entre usar o medo e escutar a dor. O vídeo mostra exatamente isso. Quando o homem diz “eu votei no Trump”, Mamdani não reage com indignação nem com indulgência. Ele escuta. É um gesto pequeno, mas revela uma ética: a de que a política não pode existir sem escuta, e a escuta, sem antagonismo. Escutar o outro não é concordar com ele; é reconhecer que o conflito é parte do comum.
Essa ética do antagonismo é o que falta à democracia norte-americana e, de certo modo, à política global. O bipartidarismo dos Estados Unidos, assim como o centrismo que se espalhou pelo mundo, vive da recusa do conflito. Seu ideal é o consenso. Mas o consenso, levado ao extremo, é a negação da política. É o que resta quando toda diferença é tratada como ameaça.
Mamdani devolve o conflito ao seu lugar legítimo: o centro da democracia. Não o conflito armado, nem o discurso de ódio, mas o dissenso vital que funda o espaço público. Quando ele se apresenta como socialista, ele está dizendo que o futuro não cabe mais nas palavras do passado.
Num país que investe mais em prisões do que em escolas, que trata o cuidado como mercadoria e o lucro como virtude, propor um modelo de bem-estar é uma afronta. É também um gesto de esperança. Por isso, a vitória de Mamdani tem a força de um acontecimento simbólico: no coração do império, um jovem político negro e imigrante ousa falar em redistribuição e cuidado.
Há algo de profundamente universal nesse gesto. O neoliberalismo não destruiu apenas o Estado, destruiu a linguagem. Palavras como solidariedade, classe, bem comum foram esvaziadas ou transformadas em insultos. A cena do “Ei, comunista!” é, nesse sentido, uma reparação simbólica: a recuperação de uma palavra interditada, devolvida à sua dimensão de desejo.
A esquerda, quando esquece essa dimensão simbólica, se torna técnica. Fala de políticas públicas, mas não de vida. Mamdani faz o contrário: fala de vida, e por isso suas políticas ressoam. Ele não promete salvação, promete transformação e essa diferença é decisiva. Talvez seja isso que explique o entusiasmo que sua eleição desperta fora dos Estados Unidos. Em tempos de guerra, ele fala de paz. Em tempos de privatização da esperança, ele fala de cuidado. Em tempos de ódio, ele fala de escuta. Não como gestos individuais, mas como práticas políticas.
A questão da guerra é central em sua campanha. Ao exigir um cessar-fogo em Gaza, Mamdani toca na ferida mais exposta do império americano. Ele conecta o imperialismo externo ao abandono interno: o mesmo país que financia bombardeios corta recursos para creches. A violência é sistêmica, e começa dentro das fronteiras. A crítica à guerra é também crítica à economia da morte que sustenta o capitalismo contemporâneo.
Nesse ponto, sua proposta ultrapassa o vocabulário da esquerda americana e toca um problema civilizatório: o de como reconstruir o comum num mundo governado pela lógica da destruição. O socialismo que ele enuncia não é o da planificação estatal, mas o da reconstrução comunitária, um socialismo cotidiano, enraizado na vida.
É possível ver aí uma lição para nós. O Brasil, como os Estados Unidos, vive sua própria versão do impasse. O bolsonarismo foi o nome local do mesmo colapso simbólico que gerou o trumpismo: o retorno do medo como linguagem política. E, como lá, a esquerda muitas vezes se refugiou no moralismo ou na gestão. Falta-lhe antagonismo, presença e imaginação.
A experiência de Mamdani sugere um caminho: disputar o desejo, não apenas o discurso. Estar presente, ouvir, nomear os conflitos, falar de redistribuição com clareza, sem medo das palavras interditadas. A política popular não se faz de marketing, mas de corpo. Ela não nasce da promessa de pureza, mas da coragem de sustentar o dissenso. A risada de Mamdani diante do insulto talvez seja o gesto mais político do nosso tempo. Porque ela diz, com leveza, o que o império não quer ouvir: que o comum ainda é possível. Que o comunismo, não como regime, mas como ideia do comum, pode voltar a ser palavra viva.
Num mundo em que a democracia se esvazia e a esperança se torna mercadoria, a vitória de Mamdani devolve à política o que ela tem de mais elementar: a capacidade de transformar o medo em sentido. É essa a virada que desafia o império e que, talvez, anuncie o começo de outro tempo.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras