Surpresa no possível novo quilombo de Zumbi
Publicado 01/09/2012 às 12:49
Em encontro inédito, dois grupos do samba de resistência de São Paulo tocam juntos. Nos camarins, Magnu Souzá, Tim Maia e Paulo Lins refletem sobre papel da cultura e da música na luta contra racismo e desigualdade
Por Roney Rodrigues | Foto: Gustavo Paiva
Antônio Eleilson Leite sobe ao palco do Auditório Ibirapuera prometendo ser breve. Ele é coordenador de cultura da ONG Ação Educativa, entidade que organiza o “Estéticas das Periferias”, e, depois de algumas ponderações sobre o evento, ataca: “o Distrito do Grajaú tem 444 mil pessoas e só uma Casa de Cultura”.
A frase tem efeito imediato: palmas, uhuuus, gritinhos, assovios e até alguns discretos “fora Kassab”. Depois de uma fala poética do escrito Paulo Lins – autor de Cidade de Deus e, recentemente, do romance Desde que o samba é samba, que narra a formação do samba carioca no inicio do século XX – começa a batucada.
BUM BUM PATICUNDUM PRUGURUNDUM.
“Acendeu a vela / o samba já vai começar / Ela é quem chama / que é viva a chama / pro povo cantar”.
Na antirrítmica arquitetura de um palco italiano, o Berço do Samba de São Mateus e o Samba da Vela, de Santo Amaro, dão os primeiros acordes. É um encontro inédito – os dois grupos nunca se apresentaram juntos -, e “que reúne os extremos da zona leste e da zona sul de São Paulo para celebrar a tradição do samba de terreiro e a cultura da periferia”. Pelo menos é isso que está no flyer do show.
ZIRIGUIDUM BUM BUM PATICUNDUM
“Venha pra cá pra cantar / Venha pra cá pra se ver / Numa só voz embalar / Pra nunca mais esquecer / Venha fazer a história”.
A plateia está engessada nas confortáveis poltronas do auditório, porém alguns dão tapinhas na coxa e batem a ponta dos pés, acompanhando o ritmo do pandeiro e do tamborim. Outros rompem a cerimônia e vão até a boca do palco arriscar uns passos. Samba da Vela e Berço do Samba seguem cantando, batucando, dançando.
“Samba é coisa de preto”, diz uma das músicas. “Eu não sou racista, ‘antissemitista’, discriminação / Eu não sou daqueles que faz vista grossa pra situação / Quero estreitar nossa relação / Que diante de Deus somos todos irmão”, diz outra. Magnu Souzá, do Quinteto em Branco e Preto (a junção das duas rodas de samba) aponta o dedo pra plateia do Ibirapuera e a exorta a cantar junto, talvez numa involuntária metáfora da relação centro-periferia: “Santo Amaro me fez esquecer você / Santo Amaaaaroo… Me feeez… Esquecer… Vo-cêêê!”.
O cantor e compositor Oswaldinho da Cuíca era convidado especial da noite e botou a cuíca pra roncar, principalmente no samba “Novo Quilombo”, que fala da união das duas rodas de samba.
OUIOUIOUI TUM TUM TARATÁRATÁ
“Quando o aperto de mão se deu entre Santo Amaro e São Mateus, uma nova luz se acendeu lembrando a velha chama dos terreiros”.
Depois, Paquera, presidente da Comunidade Samba da Vela, entra solene no palco enquanto o grupo faz um fundo sonoro:
“Somos uma rede feita de muito sofrimento e dor. E não reconhecida ainda. A nossa ancestralidade está marcada no nosso pandeiro, no som do tamborim, mas principalmente dentro de cada um de nós e vocês. Foi a música que nos colocou aqui. E não importa nossa cor nem nossa raça. Axé”, diz, abraçando seus amigos.
DESDE QUE O SAMBA É SAMBA
No camarim, encontro com Magnu Souzá.
Vocês cantam temas sociais, políticos, falam da origem negra do samba em suas letras. É difícil cantar o povo para o povo?
O samba é uma manifestação que externa as injustiças sociais e políticas de varias formas, não porque a gente quer fazer, mas porque isso está enraizado no nosso cotidiano. “Desde que o samba é samba” a gente vem sofrendo injustiças. E esse samba que a gente faz não vai pra mídia, pra massa, porque tem essa característica de informar e educar.
E que samba acaba indo?
Um samba mais de entretenimento do que de denúncia, que processa diversos assuntos e camadas da sociedade. O samba que a gente faz – e que os antigos fizeram, Beth [Carvalho] fez, Miltinho [Milton Nascimento], Paulinho [da Viola] – tem conteúdo mais político e não é interessante pra mídia colocar esse tipo de samba no ar.
E esse samba que vocês fazem contribui pra uma mudança de fato?
Sim, tanto é que o Samba da Vela tem isso como lema: o samba é transformação, reflexão e renovação de uma identidade cultural brasileira. A gente caracteriza o samba como principal elemento, a espinha dorsal da música brasileira, em todos os sentidos: político, musical, pra entretenimento, rítmico… É um dos ritmos mais complexos do mundo. E mais democrático também.
E vocês têm colhido os frutos dessa renovação?
Depende do que é colher. Tem gente que quer é ganhar dinheiro, pensa em ficar famoso, mas eu acho que o artista tem que contribuir com alguma coisa nessa terra. Tem muita coisa pra colher e semear também.
NA CHUVA QUE MOLHA O DEFUNTO
Logo depois, vejo o Tim Maia — do Berço do Samba, não o síndico — que ficou famoso nos últimos tempos: é só falar em São Mateus que logo perguntam do “boteco do Tim Maia”. Inclusive, a fama também é internacional: eles já tocaram até nos Estados Unidos e Portugal. Tim me conta que a roda começou no bar de seu “finado” pai, onde o pessoal tomava umas antes de ir pro futebol de várzea e já emendava um batuque na mesa de bilhar e nas cadeiras. Isso era por volta das décadas de 1950 e 1960, em São Mateus. Ele diz que assim como acontecia na Bahia e nos morros cariocas, os sambistas paulistanos também eram perseguidos.
Perseguidos como?
Tinha um preconceito, não podia fazer essas coisas em qualquer lugar, e os grandes mestres sentiram isso na pele. Se fosse fazer um batuque em qualquer lugar nego já levava bronca, não tinha essa liberdade de hoje.
E americano tem a cintura mole?
A aceitação lá foi imensa, mas a magia tá na quebrada de cada um, e a minha é lá de São Mateus. Porque quando você tá com seu time você é mais forte. Costumo falar que quando reúne a patota não tem brincadeira e falo isso da norte, da oeste, da sul, da leste… Mas sempre mantendo o pé no chão, claro, porque a chuva que molha o coveiro molha o defunto também.
“O BRASIL É UM PAÍS RACISTA”
Antes de ir embora, converso com o escritor Paulo Lins e pergunto sobre a tendência da arte de explicar o Brasil através da periferia, algo parecido com o que acontecia com o Nordeste no passado. Sobre estéticas e cosméticas da fome.
Por que isso?
Sempre foi assim: Glauber Rocha, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Lins do Rego falavam sobre estados periféricos porque eles não tinham voz. Na época, não existia a periferia como hoje, que nasce com a Revolução Industrial e com o fim do trabalho escravo, afinal, antes os negros moravam com o sinhô. Depois houve uma imigração muito forte no pós-guerra de europeus e o português dava emprego pro italiano, mas não dava pro negro. O pessoal de esquerda nunca estava com a periferia, se preocupavam com a liberdade de imprensa, acabar com a ditadura, mas com o racismo não. A novidade é que hoje quem vem falar disso é a própria periferia.
E a tendência de levar políticas públicas de cultura, marcadamente do centro, para a periferia?
A periferia tá no centro. A maioria das artes populares nasceu na periferia, como o samba e o rock, que sempre chegam ao centro, mas a do centro não chega na periferia, sobretudo, com a educação. O Brasil é um país racista. O negro conseguiu se projetar um pouco, mas o índio… Nem se fala.

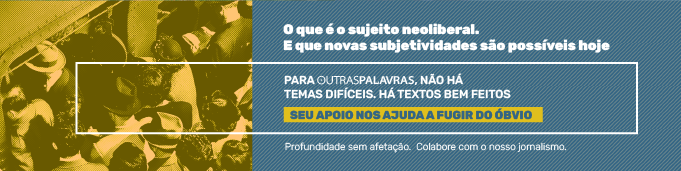
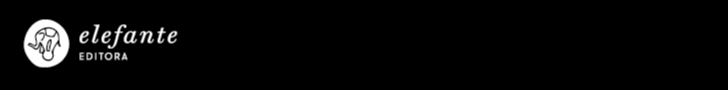

…"papel da cultura e da música na luta contra racismo e desigualdade"… e em todas as formas de exclusão, diga-se de passagem…