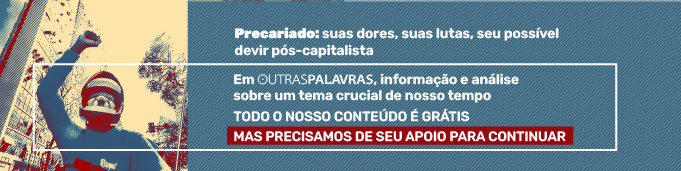Nos arquivos soviéticos, a vida real sob Stálin
O cotidiano da população. Por que a blat, troca de favores não-mercantis, tornou-se essencial. Os intelectuais públicos contra a burocracia. Putin e a revolução. Historiadora desvela outra URSS, após mergulho de 50 anos em seus arquivos
Publicado 12/08/2022 às 18:50 - Atualizado 12/08/2022 às 19:34

Sheila Fitzpatrick em entrevista a Mariano Schuster, no Nuso | Tradução: Rôney Rodrigues
Sheila Fitzpatrick (Melbourne, 1941) é uma das historiadoras mais importantes e influentes da atualidade. Há mais de 50 anos dedica-se ao estudo da história da Rússia soviética, trazendo grandes contribuições para a compreensão da vida do campesinato e da população industrial durante o stalinismo, ao mesmo tempo em que aborda questões associadas à classe e mobilidade social na União Soviética.
Professora de História da Universidade de Sydney e professora emérita da Universidade de Chicago, Fitzpatrick se destacou por colocar em prática uma “história vista de baixo” que nos permite ver aspectos decisivos e particulares da vida cotidiana na URSS. Ao contrário do modelo proposto pela “escola do totalitarismo” – que tendia a analisar o mundo soviético “de cima”, considerando que bastava conhecer as decisões do Estado, dos dirigentes e do Partido – Fitzpatrick concentrou os seus estudos nas relações dos cidadãos e em suas complexas interações com os órgãos governamentais, incluindo as lacunas em que as ordens estatais foram desafiadas de diferentes maneiras.
Reconhecida internacionalmente por livros como Lunacharski e a organização soviética da educação e das artes (1917-1921), A Revolução Russa, A vida cotidiana durante o stalinismo e A euipe de Stálin, ela acaba de publicar The Shortest History of the Soviet Union [Brevíssima história da União Soviética], que em breve será publicado em espanhol e português. Nesta entrevista, Fitzpatrick revisita sua obra e sua vida entre os arquivos soviéticos, comenta suas influências e suas formas de fazer história e aprofunda alguns dos grandes debates contemporâneos que têm como eixo a Rússia de Vladimir Putin.

Seu último livro, The Shortest History of the Soviet Union, foi publicado 30 anos após a queda da União Soviética e em um contexto em que a Rússia e seus vizinhos estão novamente no centro dos debates sobre a política global. Por que é importante refazer a história soviética?
Se eu quisesse entender o presente, a primeira coisa que eu abordaria como leitora deste livro seriam, de fato, os últimos capítulos. Neles eu narro e analiso a ruptura e a queda da URSS. Compreender a desintegração da URSS, bem como as formas e causas pelas quais esse processo ocorreu, que são de grande relevância para a compreensão do presente.
Mas do meu ponto de vista, a importância deste livro é diferente, pois obviamente eu não sou a leitora, mas a autora. Ele foi encomendado em 2020 e eu o escrevi em 2021. E o que realmente foi interessante é o fato de que, com o colapso da URSS, essa história teve um começo e um fim. Normalmente, escrevemos história e não há fim, é um processo contínuo que se sustenta ao longo do tempo. Mas nesta história temos um começo e um fim que podem ser claramente definidos. Isso impõe uma perspectiva diferente de outros episódios históricos. E esse é o meu interesse: dar um passo para trás e ver essa história como algo finito e não como um projeto em curso.
Seu pai, Brian Fitzpatrick, era um proeminente ativista dos direitos civis, bem como um socialista democrático que, como você mesma disse, gostava de escandalizar a burguesia. Quanto sua origem familiar influenciou na definição da história soviética como seu campo de estudo?
Influenciou-me, embora nem sempre de forma direta. Eu identificaria duas questões muito particulares. Uma delas é que, quando adolescente na década de 1950, desenvolvi o tipo de crítica dos jovens dessa idade a todos os aspectos possíveis da vida de seus pais. Nesse sentido, comecei a desafiar meu pai, não tanto em suas convicções políticas fundamentais – que estavam associadas e profundamente ligadas à luta pelas liberdades civis – mas em relação a algo bastante periférico para ele: sua admiração pela URSS. Ou, pelo menos, sua esperança de que a URSS, em algum momento, fosse digna de tal sentimento. Ele não sabia muito sobre essa experiência, mas como outras pessoas de esquerda ele sentiu que a URSS provavelmente estava sendo caluniada pela imprensa capitalista e isso o levava a prestar algum tipo de apoio. Considerei que ele não tinha informações suficientes e, por isso, o o fustiguei um pouco com algumas perguntas. No entanto, logo percebi que era extremamente difícil formar uma opinião sobre a URSS porque a bibliografia disponível não era apenas escassa, mas completamente contraditória. Eram livros partidários a favor ou contra, e era impossível entender o que realmente havia acontecido ou estava acontecendo ali. E isso parecia um desafio interessante.
A segunda coisa que influenciou minha decisão de estudar a história russa é que na Universidade de Melbourne, onde eu estudava História, era obrigatórios estudar uma língua estrangeira. Eu queria aprender alemão, mas eles não me deixaram fazer isso porque eu não tinha formação – já que não era oferecido como parte do currículo do meu ensino médio. Então meus pais sugeriram que eu estudasse russo. A razão por trás disso foi o episódio emblemático da Guerra Fria na Austrália: a deserção do diplomata soviético Vladimir Petrov, que levou à criação, em 1954, de uma Comissão Real de Espionagem [Royal Commission on Espionage]. No ambiente de histeria que se seguiu, alguns membros do Parlamento começaram a questionar a lealdade da pessoa que chefiava o Departamento de Língua e Literatura Russa da Universidade de Melbourne. Era uma espécie de campanha de difamação legalmente permitida. Era uma russa chamada Nina Mikhailovna Christesen, casada com o diretor de uma revista literária que era amigo de meu pai. Meus pais, como outros membros da intelectualidade de esquerda com filhos em idade universitária, sugeriram que eu estudasse russo para que o número de alunos de Nina aumentasse e as coisas fossem mais fáceis para ela. Então assim eu fiz. Fiz o primeiro curso de russo, que era tudo o que era requisitado [pela universidade]. Mas depois que terminei aquele curso, pensei: “Não sei o suficiente sobre a linguagem para torná-la útil. Farei também o segundo ano”. E, de fato, cursei o segundo ano em russo, o que me deu conhecimento de leitura suficiente para arriscar trata de um tema usando fontes russas para meu ensaio de pesquisa do quarto ano de História. E isso me converteu em uma historiadora de Rússia.
Embora a senhora seja conhecida por seu trabalho sobre o stalinismo, e também por seu livro A Revolução Russa, seu primeiro trabalho foi dedicado à figura de Anatoli Lunacharsky, o Comissário do Povo para a Educação após a Revolução de Outubro. O que a atraiu neste personagem tão particular?
Não foi exatamente porque ele era meu herói, embora eu o olhasse com interesse e geralmente com benevolência. Mas havia algumas boas razões para empreender um estudo sobre Lunacharsky. Em primeiro lugar, a URSS começava a publicar suas obras completas. Ou seja, eles estavam publicando o material necessário para desenvolver uma biografia intelectual, que era o que eu pretendia escrever inicialmente. Nas bibliotecas de Oxford era possível encontrar muito do material pré-revolucionário, mas então os soviéticos estavam publicando uma coleção bastante abrangente de seus escritos posteriores à Revolução. À medida que me aprofundava no assunto, distanciei-me bastante de Lunacharsky como intelectual e, portanto, de meu projeto biográfico inicial. Tratava-se de um divulgador muito eclético, que coletava muitas ideias e as entrelaçava muito rapidamente em um tipo de narração que geralmente não era muito profunda. No entanto, sua atividade como Comissário do Povo para a Educação (uma espécie de comissário do Iluminismo) me interessou profundamente, principalmente após minha chegada à URSS para realizar a pesquisa. E acabei escrevendo minha dissertação sobre isso.
Havia outro aspecto que me interessava em Lunacharsky e era o que estava ligado ao seu papel de mediador autoproclamado entre a intelectualidade e o Partido Comunista. Acho que isso tinha algo a ver com meu pai, que, de fato, desenvolveu um papel político informal na Austrália como mediador de bastidores, alguém que não era membro de nenhum partido político, mas tinha contatos com comunistas e também com figuras do Partido Trabalhista e até mesmo com alguns liberais. Hoje em dia não estou segura se eu admirava o papel de mediador de meu pai ou o criticava, mas me interessava como autodefinição e modus operandi.
Em 1966 fui para a URSS para um ano de pesquisa como estudante de intercâmbio britânico, esperando ser autorizada a trabalhar nos documentos pessoais de Lunacharsky, que estavam nos arquivos do Partido Comunista. Os soviéticos não gostavam de dar acesso aos arquivos da era soviética a estrangeiros e negaram a consulta. No entanto, após alguns meses de luta, fui autorizado a entrar no Arquivo do Estado, considerados menos sensível politicamente, para trabalhar nos arquivos do ministério de Lunacharsky (Narkompros) da década de 1920. Esses materiais do Narkompros eram absolutamente fascinantes. Através deles aprendi sobre Lunacharsky, mas acima de tudo comecei a entender como funcionava a política na URSS. A ideia predominante sobre a URSS, encapsulada no modelo totalitário, sustentava que toda política era formulada no Politburo e depois transmitida aos de baixo. Mas o que descobri nos arquivos foi que o Ministério da Educação formulou políticas (assim como outros ministérios, departamentos do Comitê Central do Partido, etc.) e depois tentou pressionar o Politburo, o governo, o Conselho de Ministros e as pessoas que o integraram para que suas políticas fossem aprovadas. Às vezes eles foram bem-sucedidos e outras vezes não, mas eu estava vendo um processo político que o modelo totalitário simplesmente não permitia ver.
Quando a senhora começou seus estudos historiográficos sobre o comunismo soviético, essa perspectiva de “escola totalitária” era predominante na sovietologia. No entanto, a senhora assumiu uma postura diferente, concentrando-se em uma “história de baixo” que servia e era central para a vida cotidiana. Quais foram suas críticas ou objeções a esse paradigma e por que você escolheu abordar a história soviética de uma perspectiva social?
Meus primeiros encontros negativos com o “modelo de totalitarismo” vieram do meu trabalho de arquivo na URSS. Isso foi antes de eu ir para os Estados Unidos, no começo dos anos 1970. Mas, quando me estabeleci lá, a questão tornou-se mais importante para mim porque os estudos soviéticos nos Estados Unidos eram então dominados por cientistas políticos cujo modelo favorito era o do totalitarismo. Era um campo altamente politizado na Guerra Fria, e o “modelo de totalitarismo” – baseado na ideia da semelhança essencial entre o sistema soviético e o da Alemanha nazista – não apenas serviu para fins acadêmicos, mas também políticos.
Minha decisão de fazer “história de baixo para cima” não veio durante meu primeiro período de pesquisa na União Soviética, mas depois que me mudei para os Estados Unidos. Isso refletia, em primeiro lugar, o que estava acontecendo na historiografia profissional como um todo. Estavam todos caminhando para a história social, que havia sido quantitativa, mas agora estava se tornando mais qualitativa. Fazer história social naquela época era como fazer história cultural na década de 1990: todos se sentiam atraídos por ela. No caso soviético, havia um problema adicional. Se a história era escrita considerando-se que todos vinha “de cima”, fazer história era muito fácil: bastava ler todas as declarações oficiais, as resoluções do Comitê Central, as leis do Conselho de Ministro e dizer: “perfeito, foi isso que aconteceu”. Se, por exemplo, alguém estivesse interessado no campesinato, poderia ler todas as leis e resoluções relativas ao campesinato e deduzir a situação real. Mas as coisas não funcionavam assim na URSS. Como percebi cinicamente mais tarde, as leis e instruções eram muitas vezes mais úteis para o historiador social por causa de uma espécie de leitura inversa: elas diziam como as autoridades queriam que as coisas fossem, não como elas eram; e suas listas de proibições costumavam ser um excelente guia para os tipos de práticas que eram habituais na vida real.
Eu pensei que fazer história a partir de baixo também era um desafio especialmente interessante na história soviética porque ninguém havia tentado fazer isso antes. Não ficou muito claro quais seriam as fontes, embora fossem claramente inadequadas, principalmente para as décadas de 30 e 40. Mas era possível ou não? Eu gosto bastante de desafios, então pensei que poderia ser factível. Achei que poderia ser viável mesmo para os arquivos soviéticos, apesar de todos os problemas de acesso aos arquivos para estrangeiros, que incluíam nunca poder ver os catálogos ou inventários e, portanto, ter que adivinhar que tipo de material os arquivos poderiam conter. No entanto, em meados dos anos 70 eu era pelo menos uma pessoa conhecida, então imaginei que não seria tão difícil. Certamente, os soviéticos estavam muito mais dispostos a entregar material relacionado a questões sociais do que políticos. Eles estavam muito preocupados que as pessoas procurassem informações sobre Trotsky ou Bukharin. Essas eram suas obsessões. Também poderia ser um problema se você estivesse procurando material sobre o campesinato na época da coletivização. Mas eu consegui uma quantidade razoável de material, particularmente sobre sindicatos e indústria pesada no final dos anos 1920 e 1930. O que eu estava realmente procurando era analisar e entender os processos de interação entre trabalhadores de base e a administração das empresas. E pude consegui com esses materiais.
Ao mesmo tempo, descobri que estava interessada na questão da mobilidade social ascendente. Quando trabalhei pela primeira vez sobre a educação em torno de Lunacharsky, ficou claro para mim que a questão de dar “preferência aos proletários” ocupava um lugar destacado e ninguém tinha um marco teórico para colocar essa questão. O que os soviéticos estavam dizendo era que eles estavam dando poder à classe trabalhadora através do partido. Mas o que eles estavam realmente fazendo, e que tinha alguma ressonância com os trabalhadores reais, era oferecer oportunidades de mobilidade ascendente aos trabalhadores, sobretudo aos seus filhos. Deram-lhes preferência no ingresso no ensino superior, por exemplo. Achei que era um fenômeno muito interessante e que valia a pena estudá-lo, e que era viável fazê-lo apesar das limitações de acesso aos arquivos.
Os soviéticos, é claro, teriam rejeitado o termo “mobilidade social ascendente”. Eles não reconheciam essa noção e certamente não se sentiriam confortáveis com essa interpretação das “regras de preferência proletárias”. No entanto, eles tinham sua própria abordagem, que seus historiadores chamavam de “a formação da intelligentsia soviética”, que significa, entre outras coisas, a promoção social das pessoas de origem operária e camponesa. Portanto, sob esse título de formação da intelligentsia soviética, pude obter material de arquivo sobre a mobilidade social ascendente.
Em “New Perspectives on Stalinism”, artigo publicado na The Russian Review em 1986, a senhora argumentou, em linha com sua crítica ao modelo proposto pela escola do totalitarismo, que era possível pensar o stalinismo “de baixo”. Então, efetivamente, foi o que a senhora mesma fez e refletiu em seu livro A vida cotidiana durante o stalinismo. Quais modificações específicas esse estudo do stalinismo implicou para compreender as formas do regime? Quais questões vieram à tona que não haviam sido abordadas até então?
Como historiadora, sempre duvido dos modelos. Portanto, o que eu pretendia não era desenvolver uma alternativa ao totalitarismo, mas destacar e dar conta daqueles aspectos que essa abordagem não nos permitia ver. Nesse sentido, também não expressei minhas ideias e minhas análises sobre o funcionamento da política soviética em termos de modelo. Ao abordar a questão de como a sociedade funciona, a imagem que ofereci foi a de uma vasta estrutura institucional criada e controlada pelo Estado, e de indivíduos operando não apenas dentro dessa estrutura, mas em seus interstícios. Em outras palavras, eu queria refletir que para conseguir o que precisavam para a vida, as pessoas tinham que levar em conta aquela estrutura oficial e usá-la voluntária ou involuntariamente. Para todos os tipos de coisas, eles precisavam dessa estrutura: obter bens de consumo, garantir que seus filhos recebessem uma educação adequada etc. Lá eles operavam nos interstícios por meio de conexões personalistas.
É importante salientar a importância do termo soviético “blat”. Blat é um sistema de intercâmbio recíproco de favores: tenho a oportunidade de fazer certas coisas para você por causa da minha posição; você, por outro lado, tem outras oportunidades e pode fazer outras coisas por mim. Mas não é uma relação bruta que possa ser monetizada e tampouco a contrapartida precisa ser imediata. Não, é um equilíbrio contínuo. De fato, nesta economia de favores nos consideramos amigos, embora em certa medida seja uma amizade instrumental. Essa forma de operar, que tomei conhecimento porque estive na URSS nos anos 1960 e vi em primeira mão, foi muito importante, na minha opinião, desde o início. Curiosamente, na China, onde o termo “guānxi” é usado para definir esse tipo de economia de favores, o sistema é predominante e muitos o remontam às raízes tradicionais chinesas. A verdade é que lá eles têm uma estrutura e respostas institucionais semelhantes, formas análogas de lidar com isso e evitá-lo para se desenvolver.

A senhora escreveu um livro sobre o auge do poder do stalinismo. A equipe de Stalin, como a senhora mesma definiu, é “uma espécie de etnografia do Politburo”. Por que a senhora decidiu, depois de trabalhar a vida cotidiana, desenvolver um estudo sobre a estrutura de poder stalinista?
Novamente, há uma série de razões, mas talvez eu possa apenas mencionar a principal: gosto de fazer coisas que nunca fiz antes e não gosto de ser rotulada. Eu já havia passado de historiadora cultural – ou melhor, historiadora de instituições culturais – para trabalhar no campo da história social. Quer dizer, eu não tinha ficado em um campo.
Mas nesta questão específica, eu sempre soube algo sobre o Politburo na década de 1920 porque, durante décadas, cultivei uma amizade próxima com Igor Sats, secretário de Lunacharsky. Sats conheceu Trotsky, Stalin, Bukharin e costumava falar comigo sobre eles, então eu tinha uma imagem desses personagens e suas interações pessoais que não foram capturadas na literatura da época. Em particular, eu costumava conversar sobre isso com o cientista político Jerry Hough, com quem eu era casada na época. Jerry sempre me dizia: “Você deveria escrever isso porque dá uma imagem da política soviética que simplesmente não temos”. Mas não fiz isso porque queria fazer história social. Muito tempo depois de Jerry e eu termos nos divorciado — muito amigavelmente — pensei: “Por que não fazer isso?”. Mas também pensei que parte do que eu havia entendido, do meu trabalho sobre a vida cotidiana sob o stalinismo, sobre a maneira como as coisas eram feitas era, de fato, perfeitamente aplicável, então disse a mim mesmo: “Se eu olhar para o Politburo, se eu trazer ao Politburo soviético um certo grau de conhecimento de segunda mão de personalidades e uma boa noção de como as pessoas operavam na URSS, eu poderia fazer um trabalho de história política realmente interessante”. E pensei que talvez isso pudesse acrescentar algo à maneira como vemos e pensamos sobre o próprio Stalin. Porque tem havido muitos estudos sobre Stalin, mas quase todos são biográficos. Eu não pretendia anular esse trabalho, nem dizer “não, é o Politburo que dirige tudo, não Stalin”. Eu estava tentando ver como o Politburo se encaixava no sistema stalinista.
Stalin se reunia com membros de seu Politburo (ou às vezes um órgão ad hoc que se sobrepunha ao Politburo formal) praticamente todos os dias por várias horas. Isso significa que o Politburo tinha uma função que Stalin considerava importante. Stalin era um homem trabalhador e era impossível pensar que passaria tempo com eles a menos que o Politburo tivesse um objetivo e uma tarefa definidos. Esse foi o meu ponto de partida: que o Politburo tinha que ter funções e tarefas governamentais porque, caso contrário, Stalin não teria gasto tempo em diálogo diário com seus membros. E ficou muito claro que ele estava passando um tempo lá porque seus registros de escritório estavam disponíveis. Cada hora de seu dia no escritório foi registrada. Isso me permitiu desenvolver meu trabalho, principalmente porque esses registros também foram publicados na Austrália, e quando comecei a trabalhar no assunto, eu estava lá e viajava periodicamente para a URSS.
Deixe-me perguntar sobre sua própria história como pesquisadora. Como foi trabalhar nos arquivos soviéticos?
Era difícil. Foi especialmente assim nos anos 60 e 70 porque eles não entregavam catálogos ou guias. Eles não diziam que material eles tinham. Também não publicavam. Então você tinha que falar com um funcionário de arquivo e dizer: “meu assunto é tal e tal, e eu quero tal e tal coisa”. Então, é claro, eles podem te entender melhor ou pior, e eles podem ser mais ou menos colaborativos. Foi muito difícil conseguir material dessa forma, a ponto de, no processo, aprender muito sobre burocracia e arquivos. Se você pediu, por exemplo, as atas das reuniões de uma determinada instituição, mas as atas foram chamadas de protocolos, eles podem não trazer, a menos que simpatizem com você. Mas se você dissesse “quero protocolos” e eles tivessem protocolos, muitas vezes se sentiriam compelidos a trazê-los. E uma vez que você tivesse os protocolos ou as atas, então você poderia continuar melhor o trabalho, data por data. Agora, muitos dos arquivistas, aqueles funcionários subalternos com quem eu lidei, eles foram tremendamente úteis. Eles fizeram o que podiam por mim, e muitas vezes de boa vontade. Eles podem ter suspeitado que as potências ocidentais estavam enviando espiões se passando por historiadores em intercâmbios acadêmicos. No entanto, se eles o vissem trabalhando regularmente por muito tempo, eles se convenciam de que você estava realmente escrevendo sobre história. Eles viam que você estava fazendo seu trabalho e que não estava apenas sentado ali. No meu caso, obviamente, eles decidiram que eu era uma historiadora verdadeira.
Gostaria de contar uma história curiosa sobre essa questão. Algo que me aconteceu já nos anos 80, uma época em que durante algum tempo viajei para a URSS quase todos os anos. Um dia, no pacote de pastas que recebi, havia uma sobre o uso da mão de obra de presidiários na indústria pesada, um assunto tabu. Eu estava então trabalhando na indústria pesada. Olhei para aquele arquivo e disse a mim mesmo: “Isso é incrível. Eu não pedi isso” Mas eu sentei e li e fiz anotações detalhadas. E então voltei e disse: “Posso ter o próximo ano da mesma série?” Mas, claro, eu nunca consegui mais. No final das contas, parecia uma coisa estranha que havia chegado a mim e me permitia preencher uma lacuna porque, é claro, o material sobre o uso de mão de obra de presidiários não fazia parte do arquivo de acesso aberto. Muitos anos depois, no final da década de 1980, em tempos de perestroika, conheci o vice-diretora do arquivo em uma ocasião social. Então ela me disse: “você gostou do presente que eu te mandei?”. “Qual presente?”, perguntei. E ela respondeu: “enviei-lhe alguns petiscos sobre o trabalho dos condenados”. E, enquanto eu a olhava com surpresa, ela me explicou: “fiz porque vi que você era muito trabalhadora, estava sempre trabalhando. Achei que merecia reconhecimento”.
Em sua autobiografia, A Spy in the Archives: A Memoir of Cold War Russia. [Uma espiã nos arquivos. Memórias da Rússia da Guerra Fria], há aquele momento que dá título ao livro: quando, em 1968, a senhora foi acusada pelo Sovetskaya Rossiyade ser uma “sabotadora ideológica”, uma espiã do Ocidente disfarçada de acadêmica. O que essa acusação significou para a senhora e como a senhora enfrentou esse episódio?
Não foi tão ruim quanto parece ou, na verdade, como poderia ter sido. A realidade é que erraram meu nome, ou melhor, não sabiam que eu era a pessoa de quem estavam falando. Isso precisa de um pouco de explicação. Nasci Fitzpatrick e publiquei meus artigos usando esse sobrenome. Mas me casei na Grã-Bretanha com um homem chamado Alex Bruce. E, embora eu quisesse manter meu nome no passaporte britânico, os britânicos não permitiram. Eles disseram: “Você é a Sra. Bruce”. Então eu consegui um passaporte que dizia Sheila Bruce ou, em russo, Sheyla Brius. Enquanto isso, eu estava publicando como Fitzpatrick. Eu só tinha um artigo publicado na época, em uma revista que seguia a velha convenção britânica de usar iniciais em vez de nomes. Então meu nome era S. Fitzpatrick. O jornal Sovetskaya Rossiya evidentemente tinha alguém designado para ler a imprensa ocidental para escrever artigos dizendo que essas pessoas eram sabotadores e falsificadores. Talvez a KGB tenha lhe dito para procurar Fitzpatrick ou, mais provavelmente, essa pessoa estava simplesmente lendo a revista procurando alguns potenciais “falsificadores burgueses” para atacar, encontrou aquele artigo e pensou: “Bem, as coisas se encaixa”. Essa pessoa assumiu que Fitzpatrick era um homem, porque o sobrenome não dá o gênero – e escreveu em seu artigo que Fitzpatrick parecia ser um espião. Enquanto isso, eu ainda estava em Moscou como Sheyla Brius. Mas eu não li aquele jornal, nem meus amigos. Quando voltei a Oxford, as pessoas que conheciam a imprensa soviética disseram: “Meu Deus, você foi denunciada como espiã. Aconteceu alguma coisa?”. Foi assim que descobri. Acho que depois de um tempo a KGB descobriu que Fitzpatrick e Brius eram a mesma pessoa. Mas acho que na época eles não sabiam disso. Nos arquivos, a pessoa com quem eles estavam lidando era Bruce (Brius) e não havia nada contra ninguém com esse sobrenome.
A senhora acaba de mencionar sua estadia em Oxford, onde se doutorou com sua tese sobre Lunacharsky. Enquanto isso, em Cambridge estava E. H. Carr, o prolífico escritor, diplomata e historiador, cujos estudos sobre a URSS se tornaram altamente relevantes. Teve contato com Carr? Que sua impressão sobre a obra dele?
Quando fui para Oxford, a história soviética não era considerada um objeto de estudo muito legítimo. Entre outras coisas, era vista como muito contemporânea e supunha-se que o material de arquivo não poderia ser obtido. Eu a via como um campo mais ou menos virgem na década de 1960. Havia apenas algumas pessoas estudando esses assuntos, mas eu pensava nelas essencialmente como cientistas políticos que haviam se desviado para o campo da história. Em suma, não havia ninguém cujo trabalho sobre a história soviética eu achasse de grande interesse em Oxford.
As duas pessoas que tinham um trabalho sério e interessante para mim eram Leonard Schapiro na London School of Economics e EH Carr, em Cambridge. E eu tive contato com ambos. Até o momento em que Leonard decidiu que não gostava ideologicamente do tema e me apoiou muito, tornando um grande patrocinador. No caso de Carr, as coisas foram diferentes, e muitas vezes me pergunto por que não fui para Cambridge para estudar com ele. É um dos mistérios da vida, mas a verdade é que não o fiz. Na verdade, também nunca entrei em contato com Carr, embora admirasse muito seu trabalho. No entanto, foi ele que um dia entrou em contato comigo e então apareceu a mesma pergunta do sobrenome. Foi por volta de 1968 ou 1969. Carr me escreveu uma carta no meu endereço em Oxford endereçada à “Sra. Bruce”. Dizia algo como: “Prezada Sra. Bruce, gostaria de saber se você notou que uma pessoa chamada Fitzpatrick está trabalhando em seu assunto e publicou este artigo…”. Então eu respondi: “Sou eu” (tenho certeza que ele sabia e a carta era uma piadinha). Ele me convidou para ir visitá-lo em Cambridge. Corri e nos tornamos, eu acho, amigos. Foi bem curioso. Seu escritório era no Trinity College, em Cambridge. Lembro-me de subir muitas escadas escuras para chegar lá e os próprios quartos estavam escuros, e lá estava ele: um homem alto e de aparência impressionante sentado atrás de sua mesa. Então eu entrei, uma mulher jovem e pequena. Através de nossas conversas, descobri por que ele se interessava pelo meu trabalho. Embora ele não gostasse em essência de história cultural, ele tinha uma seção sobre política cultural no livro que estava escrevendo. Acho que foi o segundo volume de Bases para uma Economia Planejada. Era óbvio que, pelo meu artigo publicado sobre Lunacharsky, eu sabia algo sobre isso, e ele queria se informar.
Carr continuou em contato mesmo depois que eu me mudei dos EUA. De certa forma, ele estava mais presente comigo do que eu com ele. Não porque eu não quisesse, mas porque pensei: “ele é um grande homem – e eu, quem sou?”. Em 1971, quando já não era mais casada com Alex, e estava morando em Londres, em um relacionamento com um jornalista que trabalhava para o Financial Times, Carr me escreveu na casa dessa pessoa, que eu nunca havia mencionado, em vez de escrever para o meu endereço em Oxford. Essa foi outra de suas piadinhas, suponho, uma maneira de dizer: “meus espiões sabem onde você está”.
Gostaria de lhe fazer agora algumas perguntas relacionadas com a situação atual na Rússia e, em particular, sobre a forma como o processo soviético é pensado na política contemporânea. Vladimir Putin costuma defender alguns aspectos da URSS, mas despreza a Revolução de Outubro (a ponto de seu 100º aniversário não ter sido comemorado em 2017). Ele parece ver a Revolução e Lenin como geradores de caos e desintegração. Onde você colocaria Putin – e sua leitura da história russa – do ponto de vista ideológico?
Putin certa vez se definiu como um “produto puro e completamente bem-sucedido da educação patriótica soviética”. Mesmo que a expressão carregue certa dose de ironia, há muita verdade nela. Claro, é evidente que, em relação a Lenin, ele se afastou um pouco do que lhe ensinado, mas em relação à Stalin ele permaneceu no mesmo eixo.
Para se ter uma perspectiva das ideias de Putin sobre a Revolução Russa, é de fato conveniente observar suas opiniões nos debates que antecedem as comemorações do centenário da Revolução – comemorações que acabaram não acontecendo. Nesse contexto de 2017, Putin disse que com certeza Lenin havia feito algumas coisas boas, mas que havia aspectos negativos que eram claramente marcantes para ele. Ele o definiu, pura e simplesmente, como um destruidor de nações. Nesse contexto, lançou sua crítica favorita a Lenin, considerando como uma de suas piores medidas a concessão do direito de secessão às repúblicas da URSS. Putin chamou de “uma bomba-relógio”. Este é um recurso que, é claro, nenhuma das repúblicas usou por 70 anos, até que finalmente o fez.
Em contraste com seu olhar sobre Lenin, Putin vê Stalin como um construtor da nação. E a construção da nação é algo pelo qual Putin tem enorme simpatia. Ele sente que se dedica a isso. Ele pensa em seu próprio papel como o do homem que tem a missão de construir uma nação após uma forte convulsão que produziu uma grande erosão e inquietação na sociedade. É nesse sentido que ele admira Stalin.
Vários estudiosos sugeriram que, em questões como o tratamento da Ucrânia, Putin traça sua perspectiva até a época da consolidação do controle russo no século 18 sobre as terras russas que agora fazem parte da Ucrânia. Simon Montefiore diz que Putin leu seu livro sobre Catarina, a Grande, e a construção da Grande Rússia e que ele almeja se colocar na tradição dos construtores de nações e impérios russos, começando com Pedro, o Grande, e passando por Catarina. Estou aberto a esse ponto de vista, mas não vi nenhuma evidência concreta que me convença de que isso é mais importante para Putin do que o aspecto soviético, que, afinal, está mais próximo dele. Mas é certamente uma hipótese bastante plausível.
Que aspectos da história russa nos dão pistas para analisar a invasão da Ucrânia?
O próprio Putin nos deu uma pista em seus comentários sobre a inseparabilidade histórica da Rússia e da Ucrânia. Ele considera que as origens do atual Estado ucraniano estão na República Socialista Soviética da Ucrânia, formada como membro-fundador da URSS na década de 1920. Isso implica que uma relação estreita com a Rússia (nos tempos soviéticos, a República Socialista Federativa Soviética da Rússia) está embutido na identidade ucraniana.
A questão do destino da Ucrânia dentro da URSS é complicada. É a URSS que reconhece a Ucrânia como entidade nacional no início da década de 1920, em contraste com os aliados ocidentais após a Primeira Guerra Mundial, que se recusaram a fazê-lo. Na década de 1920, houve conflitos sobre o “nacionalismo burguês” na Ucrânia. Na fome do início da década de 1930 (chamada de “Holodomor” pelos ucranianos, e parte fundamental da história nacional do Estado ucraniano pós-soviético), os camponeses ucranianos foram as principais vítimas (embora os camponeses de outras regiões produtoras de grãos, como o sul da Rússia e o Cazaquistão, também tenham sofrido muito); e os líderes do Partido Ucraniano, juntamente com os de outras repúblicas e regiões nacionais, foram vítimas dos Grandes Expurgos no final da década.
Este é um terreno relativamente familiar, mas há também a questão do papel da Ucrânia na política e no governo soviéticos no período pós-Stalin. Durante a escrita do meu último livro, The Shortest History of the Soviet Union, fiquei bastante interessado neste assunto. O período pós-Stalin, especialmente a partir da década de 1960, foi muito mais fácil para a Ucrânia. Nikita Khrushchev, um russo nascido na Ucrânia, tinha sido o chefe do Partido naquela região no final do período de Stalin, e quando ascendeu a altos escalões em Moscou manteve muitos amigos ucranianos, que naturalmente se saíram muito bem sob seu mandato. Naquela época, os líderes do Partido Ucraniano, embora nomeados por Moscou, eram sempre ucranianos étnicos; e a representação ucraniana no Politburo aumentou e permaneceu importante durante o período de Leonid Brezhnev. Durante o período soviético tardio, a Ucrânia parecia ser uma das repúblicas mais bem-sucedidas, estava indo muito bem e, em comparação com outras repúblicas da URSS, estava bastante satisfeita consigo mesma. Embora existisse um movimento nacionalista dissidente, era relativamente pequeno na época.
Isso torna mais fácil entender o fato de que, quando a perestroika de Mikhail Gorbachev falhou e a questão da soberania republicana e separação entrou na agenda dos líderes das repúblicas soviéticas, a Ucrânia não estava na primeira linha. Os Estados bálticos eram os que realmente queriam sair mais rápido e os que tinham uma opinião popular que apoiava fortemente os líderes separatistas. Os líderes da Geórgia e da Armênia também caminhavam para a saída em 1990-1991, com o apoio da opinião pública em suas repúblicas. Mas esse não foi o caso na Ucrânia. A Ucrânia deixou a URSS no último momento, junto com a Rússia (sob Boris Yeltsin) e, em grande parte, seguindo o exemplo da Rússia. O golpe mortal para a URSS veio quando Yeltsin, o líder ucraniano Leonid Kravchuk e os bielorrussos disseram ao presidente soviético Gorbachev que as três repúblicas eslavas estavam saindo, deixando Gorbachev presidindo a concha vazia da URSS.
Você acha que Putin pode estar procurando um regime semelhante ao de Lukashenko na Bielorrússia para a Ucrânia?
Se é isso que você quer, acho que não vai conseguir. O que ele causou, na verdade, foi o contrário. Conseguiu uma espécie de consolidação de um sentimento de nacionalidade ucraniana separado e hostil à Rússia. E esse sentimento de pertencimento a essa nacionalidade ucraniana deve incluir os muitos cidadãos de etnia russa que vivem na Ucrânia. Um dos aspectos mais marcantes da cobertura midiática da invasão da Ucrânia é que ninguém mencionou, ao discutir a destruição e o bombardeio brutal de Mariupol, que metade das pessoas que vivem lá são de origem russa. De acordo com o último censo, 44% das pessoas de origem russa viviam em Mariupol. Portanto, esses são os russos que, junto com os ucranianos, sofrem o trauma da guerra e que, presumivelmente, em grande parte em resposta a essa invasão e hostilidade, se identificam com o projeto estatal ucraniano. Mesmo antes da invasão, eu estaria muito cética quanto à ideia de Putin de que ele poderia levar toda a Ucrânia a uma posição bielorrussa. Ele já tentou antes, de forma mais ou menos democrática, mas não deu certo. Agora, a invasão tornou ainda mais difícil de alcançar. Não está claro quais eram os objetivos específicos de Putin ao invadir e, de qualquer forma, eles provavelmente mudaram após o desastre do primeiro avanço em direção a Kiev. Mas, neste ponto, parece muito mais provável que futuros historiadores vejam a invasão de 2022 como parte da não intencional “criação de uma nação ucraniana” (orientada para o Ocidente e hostil à Rússia) do que de um Estado funcionando como um cliente obediente da Rússia.
Costuma-se dizer que há uma nostalgia dos tempos soviéticos, mas pouco se fala sobre uma nostalgia dos tempos revolucionários, dos tempos criativos do processo de 1917. Como a senhora acha que os cidadãos russos pensam sobre a revolução bolchevique? Eles têm uma ideia semelhante a Putin? Que avaliação eles podem ter hoje de um personagem como Lenin?
Pelo que me lembro das pesquisas de opinião em 2017, no centenário da Revolução, quando se pediu que as pessoas avaliassem os diferentes períodos da história soviética, a visão da Revolução e de Lênin era mais positiva do que a da União Soviética que Putin sustenta. Agora, nas pesquisas de opinião, as pessoas que avaliaram Stalin positivamente eram as que geralmente diziam que também gostavam de Lenin, enquanto Putin gostava apenas de um deles. Na época, isso parecia ser um tópico de discussão, mas não uma discussão apaixonada. Em outras palavras, as pessoas estavam interessadas em pensar sobre isso, mas não parecia ter grande relevância.
Quanto à nostalgia soviética, certamente foi muito forte entre a população russa durante as primeiras décadas após a queda da URSS. No entanto, suponho que a mudança geracional foi desaparecendo. Em outras palavras, agora temos toda uma geração que não foi criada ou educada na URSS. E pode-se supor que isso reduzirá esse sentimento de nostalgia. No entanto, não tenho certeza se posso confirmar isso diretamente por meio de pesquisa ou observação. É simplesmente uma suposição.

Como os estudos russos mudaram desde o início de sua carreira e quais são os níveis de colaboração com os historiadores russos hoje?
Agora esses relacionamentos são comuns e há contatos completamente normais. Há colaborações intelectuais realmente produtivas, como aquela entre o historiador britânico Yoram Gorlizki e Oleg Khlevniuk em Moscou. No meu caso, não tenho nenhuma colaboração próxima como a que acabei de mencionar, mas é claro que tenho uma conversa profissional contínua com vários russos que são especialistas em vários tópicos em que trabalho. Até agora, esse tipo de comunicação continuou. Mas se a guerra se arrastar, é provável que isso mude: haverá mais suspeitas dos ocidentais por parte dos russos (e vice-versa), e as relações intelectuais e profissionais sofrerão.