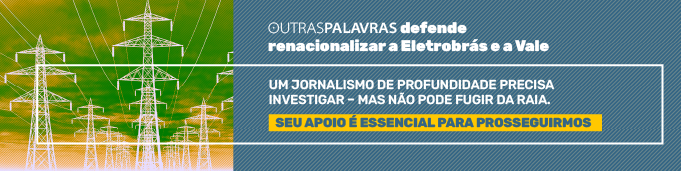Estado: o retorno daquele que nunca saiu de cena
Novo livro mostra: após décadas de ataques, se entrevê um despertar do pesadelo neoliberal. Planejamento estatal será crucial no pós-pandemia. Como retomá-lo frente às sabotagens. Por que ele pode ser caminho para a justiça social
Publicado 28/01/2022 às 18:23 - Atualizado 28/01/2022 às 18:27


Esta é a apresentação de A volta do Estado planejador: neoliberalismo em xeque, organizado por Gilberto Maringoni e publicado pela Editora Contracorrente.
O personagem central deste livro foi cuidadosamente caluniado durante as últimas cinco décadas, aos olhos da opinião pública, em variadas campanhas de desinformação ao redor do mundo. Tido como ineficiente, lerdo, atrasado, obsoleto, perdulário, burocratizado, patrimonialista, foco de empreguismo, preguiça, desperdício e corrupção, entre tantos outros atributos negativos, o Estado foi responsabilizado por quase todos os pecados passados, presentes e futuros da sociedade.
Foi chamado de dinossauro por presidentes, governadores/as, deputados/as, prefeitos/as, empresários/as, acadêmicos/as, intelectuais, dirigentes sindicais, jornalistas, artistas e incontáveis mais, numa corrente ecumênica de detratores. No Brasil, comerciais de TV e rádio nos anos 1990, associavam suas empresas a paquidermes postados na sala de jantar a atrapalhar a faina diária de pacatas famílias de bem.
Seria necessário realizar o desmonte, a desestatização, a privatização, a capitalização, a parceria público-privada, a concessão em busca de melhores preços e qualidade de serviços e produtos para se abolir tais males. Urgia abrir a economia, derrubar barreiras, desmontar cartórios, varrer privilégios e acabar com a boa-vida de funcionários folgados e indústrias superadas, em um bota-abaixo furioso. As palavras de ordem imediatas passaram a ser reformas, enxugamentos e ajustes. O conceito schumpeteriano de destruição criativa foi açodadamente aplicado de maneira inusitada, com destruição violenta e criatividade exacerbada para as contas de novos controladores de ativos públicos então leiloados.
Nada se inventava ao Sul do mundo. Bastaria repetir o mantra não há alternativa da sra. Margareth Thatcher, com pitadas de Consenso de Washington, tudo regado à infindável e sempre inconclusa busca de credibilidade internacional, para que novos horizontes se descortinassem.
Em nosso país, a cruzada daqueles tempos foi propagada como um embate moral e mortal entre o moderno e o arcaico. A imagem aludida era de um arcabouço gosmento e pegajoso, do qual só nos livraríamos se rompêssemos com a Era Vargas, raiz de nossos percalços e de um capitalismo de compadres, autoritário e paternalista. Um atentado à livre iniciativa, ao direito de propriedade e outras pragas mais.
A vinculação da ação do Estado com o autoritarismo veio a se somar à torrente de meias-verdades (ou meias-mentiras, como disse Millôr Fernandes1) lançadas como areia aos olhos do distinto público. Associar planejamento – ou intervenção – estatal na economia com regimes de força é uma velha muleta do liberalismo econômico, que não tem o mesmo sentido de liberalismo político. Em tais argumentos, o país necessitaria urgentemente de choques de capitalismo para se livrar do entulho estatizante. O discurso reverberado em todas as mídias foi alardeado como unanimidade planetária. Conversa fiada, ou fake news, como se diz em português pós-moderno.
Basta lembrar que uma das mais sangrentas ditaduras do século XX, a do Chile de Pinochet (1973-90), foi o laboratório pioneiro das políticas neoliberais, com sua agressiva dinâmica de desregulamentações e alienações de bens e serviços 2.
Após um longo período de liberalização acelerada, a economia global sofreu pelo menos duas grandes crises, a do subprime, em 2008-09, e a da pandemia do novo coronavírus, em 2020-21. Embora tenham matrizes distintas, ambas tiveram como consequências gerais queima de capital, destruição de meios de produção e fortes intervenções do Estado em ações anticíclicas. Se no primeiro caso, a ação do poder público restringiu-se a localizadas injeções de capital em corporações privadas, no segundo, tais iniciativas se dão de formas muito mais abrangentes e profundas, e têm suscitado um amplo debate internacional.
É possível dizer que um tabu histórico está sendo rompido. Rapidamente, cortinas de fumaça se desfazem e se torna perceptível que nenhuma economia funciona sem Estado. E que suas diretrizes devem ser objeto de escrutínio público democrático, e não apenas a partir das vontades de especialistas vinculados ao topo da sociedade.
Este livro é fruto de um esforço plural, produzido por autores oriundos de distintas correntes de pensamento, que têm a saudável pretensão de interferir nessas controvérsias. A obra cobre alguns aspectos dos dilemas do desenvolvimento em meio a pesadas turbulências, em especial aqueles voltados para áreas políticas, econômicas e sociais. Está longe de ser totalizante e muitos temas ficaram de fora, até mesmo pela impossibilidade de se examinar de uma única vez a caleidoscópica gama de carências sociais que nos rodeia.
O trabalho é dividido em quatro partes.
A primeira tem por título “O amaldiçoado como problema e solução”, com cinco capítulos.
No primeiro deles – O Estado, agendas e disputas políticas – Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC, mostra como o combo crise sanitária e recessão econômica recoloca na mesa a necessidade da ação estatal como promotora de soluções universais para a situação, abrindo um novo ciclo de disputas políticas ao redor do mundo.
Em seguida, José Luís Fiori, professor de Economia Política Internacional da UFRJ, em Estado e desenvolvimento na América Latina, detalha as matrizes teóricas do desenvolvimentismo continental e as agendas políticas que orientaram a ação do poder público nos anos 1940-50 e 1980-90. Ao fim, delineia alguns dos passos necessários para a superação da difícil quadra histórica em que o Brasil se encontra.
José Sergio Gabrielli de Azevedo, professor de Economia da UFBA, examina, em Estado e desenvolvimento: EUA, China e algumas experiências históricas, as diretrizes do Plano Biden, marcadamente inspirado no New Deal, de Franklin Roosevelt, e o caminho francamente heterodoxo do socialismo de mercado chinês.
Na sequência, Isabella Nogueira, professora de Economia da UFRJ, em O Estado na China,mostra como o país – dirigido pelo Partido Comunista – eliminou a pobreza extrema, colocou em pé uma indústria de ponta, baniu qualquer possibilidade de se construir uma economia dependente e subiu efetivamente nas cadeias globais de valor, representando o principal desafio econômico e estratégico aos Estados Unidos.
Em Proteção social e capitalismo: socializando o desenvolvimento, Rosa Maria Marques, professora de Economia da PUC-SP,refaz o longo trajeto histórico da construção dos sistemas de proteção social atualmente vigentes. Ela argumenta que serviços e direitos para as maiorias são resultados de lutas sociais que os definiram como fundamentos da cidadania, garantidos pelo Estado.
A segunda parte, “Dinheiro, investimento e austeridade” contém três capítulos.
André Lara Resende, ex-presidente do BNDES, em Moeda é dívida pública, afirma ser “preciso compreender que o Estado pode e deve investir de forma produtiva. É preciso compreender que isso não é o mesmo que defender um Estado inchado e refém de interesses clientelistas”.
Páginas adiante, David Decccache, professor de Economia da UnB,lança uma provocação emSe o dinheiro não acabou, por que a austeridade fiscal? Para ele, as políticas de cortes orçamentários nada têm de neutras. Elas acarretamsucateamento do Estado, abrindo caminho para o grande capital privado ampliar sua participação em atividades antes ocupadas pelo setor público.
De maneira quase complementar, Renata Lins, do Grupo de Economia do Setor Público do IE/UFRJ, escreve O gasto do Estado e as finanças funcionais: a contribuição de Abba Lerner. Suas palavras são diretas: “A ideia de Estado mínimo é uma falácia. Não existe a alternativa de ‘mais ou menos Estado’; há formas de atuação que são diferentes e beneficiam mais ou menos os trabalhadores ou os donos do capital”.
A terceira parte – “A longa construção” – envolve mais três capítulos.
Pedro Cezar Dutra Fonseca e Ivan Colangelo Salomão – professores de Economia da UFRGS e da UFPR– produziram o textoDe Vargas a Sarney: apogeu e crepúsculo do desenvolvimentismo brasileiro. Ambos mostram como, entre os anos 1930-80, “autilização dos meios e recursos estatais (…) consagrou-se como estratégia medular do projeto desenvolvimentista”. Segundo os autores, a atuação do Estado não pode ser considerada “mera opção” baseada em preceitos ideológicos. Trata-se de condição necessária para desencadear e viabilizar o processo.
A reflexão de Mário Bernardini, industrial e membro do Conselho Superior de Economia da FIESP, intitulada O recuo da indústria, aponta em direção semelhante. O autor mostra que o processo de desindustrialização brasileira se abre com o advento da financeirização da economia e com a exposição da indústria a uma importação selvagem e a redução de decisivas políticas públicas. Um projeto nacional, em sua definição, precisa ter como foco o desenvolvimento com justiça social e redução das desigualdades.
William Nozaki, professor de Economia da FESP-SP,toca num tema central para a industrialização e a autonomia energética: a criação e afirmação da Petrobrás, empreendimento de enorme importância política, econômica e social. Nas páginas de Estado e petróleo no Brasil: entre a soberania e a subdesenvolvimento, ele sublinhaque a empresa “não foi criada como (…) estatal apenas por ousadia do poder público, mas também por timidez da iniciativa privada”.
Mais três capítulos formam a quarta parte, “Trabalho, direitos e cidadania”.
Adalberto Cardoso, professor de Sociologia do IESP/UERJ,abre o tema com Estado e classes trabalhadoras no Brasil. Ao integrar o povo no desenvolvimento e na vida institucional, Vargas consolidou um projeto político abrangente de construção da Nação e da ordem burguesa. Cardoso destaca: “Esse mecanismo foi em grande parte desfeito a partir do golpe de 2016”, que levou ao poder agentes de um projeto neoliberal radical contrário à regulação pública das relações entre capital e trabalho.
Racismo para além das identidades: por uma perspectiva histórico-crítica é o título do texto de Dennis de Oliveira, professor da ECA/USP. Não se pode conceber uma política de desenvolvimento séria sem que se ataque o preconceito racial de forma radical, no Brasil. Em suas linhas, Oliveira afirma que a pandemia “evidenciou a necessidade do Estado como principal agente de enfrentamento da crise social, econômica e política, particularmente quando se fala do impacto junto à população mais pobre, na qual se situa a esmagadora maioria de negras e negros”.
Na opinião de Juliane Furno, doutora em Economia pela Unicamp, “As mulheres foram duplamente afetadas com o avanço da doença, tanto no espaço próprio das atividades econômicas, expresso nas oscilações do mercado laboral, quanto na sobrecarga de trabalho doméstico”. Ela desenvolve o raciocínio em A pandemia e o agravamento das desigualdades de gênero na sociedade brasileira.
“Destruição e possibilidades de reconstrução” é o título da quinta parte. Nela estão contidos quatro capítulos.
Leda Maria Paulani, professora de Economia da USP, em Choque neoliberal, fascismo cultural e pandemia: a destruição do Estado no Brasil, desenha um amplo painel sobre o projeto em curso no país. O desmonte pretendido abrange todas as esferas da vida social e tem como alvo essencial as conquistas da Constituição de 1988. Há, contudo, um problema a se resolver com a chegada da pandemia. “O combate ao vírus só será efetivo se for coletivo, e se contar com solidariedade, consciência gregária, ciência presente e atuante, sistema público de saúde e um Estado grande e forte”, destaca.
Paulo Kliass, especialista em políticas públicas e gestão governamental, esmiúça como a sanha destrutiva se concretiza em Desmanche, a etapa superior da privatização. Se nos anos 1990, a comercialização de ativos públicos se fez sob o argumento de busca da eficiência e barateamento dos serviços, três décadas depois, a venda de estatais se tornou um valor em si. Ao que parece, privatiza-se porque sim, porque se quer e ponto final.
O questionamento É possível reindustrializar o Brasil?é feito por Antonio Corrêa de Lacerda, professor da PUC-SP e presidente do Conselho Federal de Economia. Seu capítulo mostra serequivocado apostar que apenas as forças do mercado e a fé na abertura comercial poderiam nos recolocar no caminho do desenvolvimento. Não há experiência histórica a comprovar isso. Ao longo do trabalho, fica claro que a indústria só voltará a ter peso na economia através da adoção de um conjunto de políticas e medidas anticíclicas de largo espectro.
Paulo Gala e André Roncaglia de Carvalho, professores de Economia da FGV-SP e da Unifesp,examinaram experiências internacionais ao escreverO desafio da política industrial em tempos de pandemia. De acordo com a dupla, “a história das nações mostra que quem dominou o núcleo das atividades produtivas complexas ficou rico. É o caso de Estados Unidos, Japão e Inglaterra e, mais recentemente, do leste da Europa e da Ásia”. A pesquisa mostra que “O sucesso não veio espontaneamente apenas através das forças de mercado”, mas foi construído a partir de uma articulada integração entre Estado, sociedade civil e mercados locais.
Esta parte se fecha com um artigo de João Sicsú, professor de Economia da UFRJ, sobre uma face desconhecida do principal teórico do desenvolvimento do século XX. Em Keynes, um estrategista do planejamento e de uma nova sociedade, o estudioso mostra que o planejamento estatal é essencial para qualquer transformação social.
A sexta e última parte – “Disputa de rumos” –, com quatro textos, busca responder uma questão que dá título a uma das mais famosas obras de Vladimir Lenin: que fazer?
Walter Sorrentino, médico e dirigente do PCdoB, destaca em As travessias, que o caminho para a recuperação do país envolve o Estado como indutor de investimentos, do desenvolvimento, da reindustrialização e do fortalecimento do mercado interno, ações que devem se traduzir em políticas ousadas e profundamente democráticas.
A saída, onde está a saída?, do presidente do PSOL e historiador Juliano Medeiros,aponta que meia década depois do golpe contra Dilma Rousseff, as esquerdas ainda se perguntam por onde recomeçar. “Compreender as razões que levaram as elites no Brasil a rechaçar até mesmo o ‘reformismo fraco’ do projeto lulista é passo fundamental para encontrarmos um novo sentido para o papel do Estado”.
O presidente da Fundação Perseu Abramo, ex-Senador (PT-SP) e ex-ministro Aloizio Mercadante assegura, no capítulo A superação das crises só é possível com o fortalecimento do Estado, que a superação das crises sobrepostas, econômica e sanitária, só será possível com “o fortalecimento do papel do Estado, com ideias que rompam os limites da ortodoxia fiscal e com a superação das políticas neoliberais”.
O livro termina diante da disjuntiva – Brasil de todos ou quintal dos outros? – do jornalista e ex-ministroFranklin Martins. Ele volta às políticas anticíclicas de Roosevelt e Biden e afirma: “Os governos democráticos e populares do início do século XXI (…) mostraram que a exclusão social não é algo inevitável, mas fruto das escolhas políticas dos donos do poder. Desnudaram o absurdo da tese de que o povo não cabia no país. O povo não só cabe no Brasil e no orçamento, como é uma grande riqueza e um patrimônio extraordinário. (…) Com ele, o Brasil progride, torna-se mais justo e pode ser mais rico e mais respeitado no mundo.
Boa leitura.
1 FERNANDES, Millôr, A bíblia do caos, L&PM Editores, Porto Alegre, 1994, pág. 487
2 ANDERSON, Perry, “Balanço do neoliberalismo”, in SADER, Emir e GENTILI, Pablo (orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995, págs. 9-23