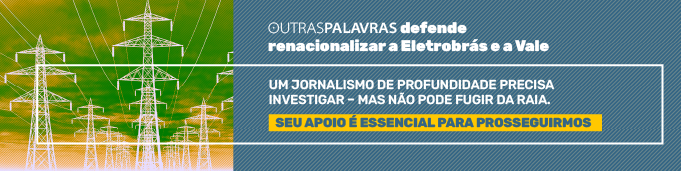O Delito de Viver
A necessidade da mudança e a incapacidade de mudar instalam-se na mente das pessoas como forças típicas da modernidade. Neste dilema, a arte ocidental se faz pelo inconformismo
Publicado 29/10/2016 às 10:17 - Atualizado 15/01/2019 às 17:35
A necessidade da mudança e a incapacidade de mudar instalam-se na mente das pessoas como forças típicas da modernidade. Neste dilema, a arte ocidental se faz justamente pelo inconformismo. Talvez já nem acredite em salvação, mas irá até o fim atrás dela
Ensaio de Ronaldo Lima Lins | Imagem: Francisco Goya
Pues el delito mayor
Del hombre es haber nacido.
Calderón (La vida es un sueño. I,2)
__
O artigo “Delito de Viver” integra o livro Nossa amiga feroz: Breve história da felicidade na expressão contemporânea, de Ronaldo Lima Lins.
Foi editado pela Rocco, em 1993. Aqui, Claudia Amorim escreve sobre ele. Leia o perfil de Ronaldo Lima Lins e a crítica de “Jacques e a Revolução”, sua obra em cartaz no Rio
__
Quando, na Assembleia Nacional francesa, no auge do processo revolucionário, Louis Léon de Saint-Just, empregando mais do que um mero recurso de retórica, proclamou a felicidade como uma ideia nova na Europa, a guardar e a consolidar, não imaginava a pontada de ironia que o mesmo pensamento adquiriria duzentos anos depois.
Apresentada assim, em termos sociais, continentais, a felicidade libertava-se do espaço das aspirações individuais – da permanente negociação com as instâncias divinas – e se transferia para as ruas, para o terreno da exterioridade; tornava-se possível mesmo para o mais bruto ou primitivo trabalhador braçal. Tratava-se, de fato, neste sentido, de uma ideia nova. Juntos, os homens podiam construir o seu destino; e de um modo, com uma competência, que até então ninguém alcançara. O limite da existência e o que vinha depois, contrapostos ao desafio fascinante que se oferecia, colocavam-se em segundo plano ou em terceiro ou em quarto, nas regiões mal definidas da metafísica e do misticismo, sem condições de interferir e governar as coisas do cotidiano.
Ao contrário do que possa parecer, a frase de Saint-Just vinha carregada de conteúdo. Quisessem ou não, a História rompia a superfície impermeável de velhas instituições e abria oportunidade para experiências concretas. Já não falamos de ensaios sujeitos a erro, incansavelmente repetidos em laboratório, mas de regimes políticos, estruturas econômicas e valores culturais. Já não falamos, também, em elaborações filosóficas simpáticas dentro de sua esfera de inaplicabilidade, a ponto de seduzir príncipes e rainhas que assim mostravam abertura mental sem comprometer o próprio poder. ii A História, com efeito, rompia com um velho segredo, algo que subsistia desde os tempos ancestrais da gênese da humanidade segundo a versão judaica, adotada pelo cristianismo, do Antigo Testamento.
O fruto proibido e a queda, estabelecendo duas fases distintas como a vida e a morte, a permanência e a instabilidade da mudança, fixaram durante séculos uma nostalgia do período adâmico pela qual tudo o que se renovava comportava perigo, danação, dor, holocausto. Hábitos e costumes consagraram-se como verdades absolutas, valendo-se de semelhante ideologia. A morte, o vazio negro do desconhecido e da decomposição, esvaziava-se de seu conteúdo terrível e infrator pela condição, que se lhe atribuía, de rito de passagem. Impondo-se o critério do perdão e da possibilidade do paraíso, por conseguinte da continuidade, onde se falaria em mudança, continuava-se, com efeito, a falar em imobilidade, a partir do cristianismo.
É interessante como, com extraordinária uniformidade, no que se espalhou pelo mundo, a monarquia tirou o máximo de proveito de um dilema essencialmente humano, como a vida e a morte. O desejo de não mudar constituía, no interior de semelhante problema, um medo de enfrentar o desconhecido. Quanto mais fixa e menos permeável às inovações na estrutura social, mais seguros se mostraram sempre os seus integrantes. Isto numa época em que não se fazia, como após a Revolução Industrial, da instabilidade e da insegurança os principais propulsores do progresso, com vistas a um estado de múltipla concorrência admitido como ideal para a perseguição do lucro através do aumento da produção. A herança do poder por linha sanguínea, estabelecida pela liturgia dos regimes aristocráticos, não camuflava a preocupação latente de jamais dar curso a perspectivas de mudanças. O princípio do soberano eleito, usado por Luís Napoleão, no início do século XIX, insere-se no quadro, pós-Revolução, das necessidades de mudança. iii É uma proposta híbrida, fadada ao fracasso, uma iniciativa saudosista de restauração do Primeiro Império sem condições de prosperar a longo prazo. A incorporação da regra da alternância de poder dentro da monarquia sugeria, mais do que uma forma de conciliar o velho e o novo, uma declaração de que passávamos a viver em tempos nos quais a imobilidade funcionava como um valor negativo.
Note-se que, enquanto se lograva manter o mundo parado e se pretendia ser este “o melhor dos mundos”, ou pelo menos o mundo possível, nunca se eliminou realmente a aspiração pela mudança. Junto com a incapacidade de se garantir aqui uma situação de justiça, de paz, sonhava-se com a felicidade e especulava-se quanto aos meios de atingi-la. É cabível observar que as projeções utópicas se desenvolveram e se multiplicaram (o que não parece improvável) na medida em que os conflitos transbordaram de seus limites ou aumentaram a pressão por soluções.
A utopia se afasta do messianismo pelo que propõe de mudança na realidade deste mundo. Já não se trata, por sua ótica, de uma salvação obtida pela intervenção de Deus ou por uma reconciliação com o mesmo através do sacrifício ou da recuperação dos pecados. A sociedade em si e nela os homens, pelas doutrinas aventadas, devem passar por um processo de autorreconciliação e o fariam, não fosse uma determinada organização pela qual se perpetuam as diferenças. Provocando as disputas, a insatisfação e o ódio entre as pessoas, as disparidades acentuadas inviabilizam a reconciliação. A fé na sociedade e em sua capacidade de encontrar fórmulas de correção das distorções assemelha-se, neste particular (e não em outros), à postura mística das lideranças religiosas, apartando-se delas pela inclinação no sentido de uma atuação concreta no universo do cotidiano.
Querer manter inalteradas as formas de relacionamento social implicava uma confiança, enquanto atitude, na solidez de uma certa arquitetura humana, erguida, por outro lado, sobre a base de um conhecimento adquirido e estável. Não é gratuito que as teorias de Galileu hajam despertado convulsões na Igreja e na ideologia dominante a ponto de forçá-lo a abjurar. Não se pode conservar a sociedade parada se o conhecimento, como a Terra, move-se constantemente. É verdade que o movimento, de novo tornado estável, representa outra face da imobilidade, mas, pela complexidade com que tal situação se apresenta, nos quadros mentais em jogo, nada ou ninguém dá a impressão de se conservar igual.
A força de uma estrutura que se impõe a si mesma pode ser medida pela perplexidade dos deputados na Assembleia Nacional francesa, ao final do século XVIII, quando, provada a traição de Luís XVI (os entendimentos que estabelecera com a Áustria para a invasão da França), precisou-se optar por um novo regime. Ninguém imaginara, com efeito, que a ousadia chegasse tão longe. Sabe-se que a República se apresentou como a solução política inevitável diante da inviabilidade de se distinguir um herdeiro confiável para o trono. Depois, ao tempo do Diretório, o desgaste das lideranças revolucionárias, embora enorme (mortos, na guilhotina, os seus nomes principais), não bastou, ainda assim, para desdobrar-se na restauração pelo compromisso dos políticos com o sacrifício do rei. Os que sonhavam com a monarquia temiam transformar-se em suas próximas vítimas, pelas manchas de sangue que guardavam nas mãos. iv
O exemplo histórico demonstra o impacto da contradição. Por um lado, manifesta-se a necessidade da instauração de mudanças; por outro lado, o desgaste político, psíquico e social diante do imperativo de se decidir pela mudança interrompe a ação. No caso francês, a decisão veio banhada em sangue e desencadearia, a seguir, mais sangue. É evidente, à distância, o dilaceramento implícito na experiência de desconstrução do status quo e reconstrução de um novo. Até a elevação de tal experiência à condição de um traço corriqueiro do mundo moderno, e a compreensão da natureza profunda do fenômeno, com os impasses que acarreta, sucederam-se traumas extremamente dolorosos. O agudo passa a crônico aos poucos, nos últimos duzentos anos. E o faz com sobressaltos esporádicos que dão perfeito sentido ao qualificativo de “Era das Revoluções”v com que, sem risco de exagero, podemos designar o período.
Que a mudança tenha sempre sido associada à noção de infortúnio não surpreende, se entendemos, igualmente, que o tempo, ocasionando fisicamente, no plano individual, a decadência e a morte, constituía, mesmo quando comportava alegria, uma ameaça e um pesadelo. O paraíso adâmico, comprometido pela permanência, com uma felicidade estável, não integrava a consciência do tempo. A versão bíblica da instauração da fase histórica entende a inadaptabilidade inerente à fragilidade da condição humana e procede de modo que a narrativa dos feitos e ações dos personagens míticos se desenrole por longos percursos contados por montantes de milhar, de centenas e, afinal, já mais próxima de nós, por décadas. Explica-se que os homens, pelas infrações que cometeram, tenham de sofrer o encurtamento de sua passagem pela Terra. Para os judeus, a condenação chega a um ponto extremo pela diáspora, a dispersão, fruto do mau governo que exercem sobre si mesmos.
A certeza de que o poder e a fortuna, mesmo entre os grandes soberanos, não bastava para fazê-los transcender aos seus semelhantes, levou-os, com frequência, a investir na posteridade o legado de sua memória. Concentrado após a morte, o espaço da eternidade serviu de pretexto para que a compensação pela fugacidade da vida se transmitisse aos túmulos e aos monumentos funerários, ainda que estes, é óbvio, tornassem mais pesada a carga a suportar na miséria em nosso mundo. Aí o que há de durável utilizou-se com prodigalidade, como no Egito e na América, com as pirâmides, sempre em pedra, hoje roteiro obrigatório de turistas ávidos de mistérios e de distrações. Imunes ao tempo, imóveis, são monumentos que guardam a majestade da principal angústia humana e estampam, na doença que corrói até as pedras, a certeza dos projetos fracassados.
Onde tudo desapareceu e só restaram os túmulos, nota-se a rigidez dos estilos empregados para vencer a morte. Apenas o que parece flexível aponta para a existência imaterial, onde a luta celular sofre um processo de transformação constante. É por isso que, sobre o esforço de superação das mais cruéis leis da natureza, por trás da ostentação de grandeza e de dignidade, transpira melancolia e, diante dela, extasiados pela importância do desafio, não deixamos de experimentar um arrepio de desconforto. Naqueles monumentos, se há ironia, ela some soterrada pelo tamanho da gravidade com que se aborda o assunto.
Aqui, de novo, vale a pena remeter à narrativa bíblica. Embora fale repetidamente em extermínio e dispersão, quando se refere à cólera de Deus, talvez porque se preocupe com pecado e salvação, é a vida que lhe interessa. Em vários instantes, os fracos vencem os fortes e os oprimidos conquistam a liberdade – e não sem graça, como no episódio de Davi contra Golias. Os monstros surgem com um aspecto aterrador para provar que, a despeito de sua ação contínua, a fé verdadeira basta para derrotá-los. Permite-se a trapaça e a astúcia com a condição especial do consentimento da autoridade divina, o que coloca estas qualidades num patamar especial e reconhece o caráter duvidoso do recurso. É assim que Judith, por exemplo, aceita a missão e salva seu povo.vi
A inspiração superior reduz a responsabilidade de Judith no comportamento adotado. É uma diferença que a separa de Ulisses. Ele extrai de sua iniciativa individual a ideia de enganar o Ciclope. Está, de repente, só, frente ao perigo, e exercita sua criatividade, manobrando a situação a seu favor e invertendo a regra do jogo: mais esperto do que o adversário, tem meios de vencê-lo. Note-se que a “fraqueza” do herói homérico, comparado à força de sua equivalente bíblica, aponta para a flexibilidade, a intensidade e a potencialidade da vida, contraposta, no outro caso, à fragilidade, à sobrevivência condicionada a uma influência instalada acima de suas capacidades.vii Na narrativa grega, o comportamento de Ulisses insinua um valor positivo, um comentário sobre o inesgotável e surpreendente terreno da existência, apenas aparentemente composto de precariedade e fraqueza. No Velho Testamento não se enuncia propriamente uma consagração à vida e sim uma consagração à vida desde que amparada pelo poder oculto de Deus, portanto de algo que escapa à compreensão dos homens e permanece acima deles.
A dicotomia rigidez/flexibilidade assemelha-se em parte a outra dicotomia, bem percebida por Freud,viii contrapondo realidade, de um lado, e prazer, de outro. Os dois elementos se acham contidos nas características da natureza das leis universais, onde há o sólido e há também a água. É, ainda, um antagonismo que lembra o contraste entre os momentos inicial e final da existência. No meio do percurso, cumpre equilibrar as duas qualidades, as quais, isoladamente, tanto salvam quanto ameaçam ou eliminam. A realidade demonstra, em suas várias formas de expressão, o uso que faz, ora de uma, ora de outra, ora de ambas, dependendo da habilidade em seu emprego o grau de receptividade e de sucesso, em termos de bem-estar, junto ao observador.
Examinadas sob a perspectiva de seus limites externos, a rigidez e a flexibilidade encantam, apaixonam, cegam, cada uma dentro de suas dimensões. É curioso registrar que, mais do que o equilíbrio, é o domínio de seus extremos o que verdadeiramente seduz, não obstante a prudência, afeita à moderação, aponte para os riscos e para o lado temerário do convite. Os grandes sectários foram possíveis por isso. Tão forte é o apelo que apresentam que multidões (o espaço por excelência da diversidade) deixam-se, muitas vezes, embalar pela loucura. Mesmo a morte, no interior de tanta sedução, torna-se irrelevante, numa causa que se sobrepõe a tudo e a todos. A rigidez, neste particular, ganha da flexibilidade em muitos sentidos, até pelo menos a sociedade de consumo. Moisés foi rígido na condução do povo hebreu, sabia o que queria e como deveria alcançar os seus intentos. Na fúria de que se investe às vezes, sob patrocínio de Deus, não se exclui a represália mais terrível e definitiva, incluindo a eliminação física de seus adversários acometidos de ceticismo. Não menos rígido foi Cristo, embora voltasse para si mesmo a violência de sua obstinação, entregando-se em holocausto à causa que defendia. Nele, a flexibilidade subjaz na aura metafísico/alegórica com que se oferece para salvar os homens, igual a eles, disseminando-se, portanto, no conjunto da humanidade. O discurso da paz e do perdão oculta, sob suavidade, a firmeza irretorquível de convicções que, não sem motivo, abalaram o mundo. Jesus é, em tal medida, a vida e a morte, a paz e a guerra, uma representação da natureza humana como talvez não haja outra. Com suas pregações, reuniu os dois extremos, os limites em ambos os lados dos nossos desejos mais profundos, o de ser e o de não ser.
A flexibilidade constitui uma forma de conhecimento de um indivíduo por outro; a rigidez, ao contrário, aponta para a sua negação. É também verdadeiro que o autorreconhecimento, a afirmação de si mesmo, num mecanismo psíquico primário, passa por uma imposição de personalidade que garante muito pouco espaço para as demais. Vivemos, então, em permanente contradição: só somos quando existimos em grupo e é exatamente no grupo que nos acomete a doença invisível com que duvidamos de nossa capacidade de existir. Isto explica o fato de que, toda vez que uma sociedade adquiriu importância histórica, chegou a tanto por um processo de afirmação destrutivo pelo qual subjugou os grupos que lhe eram contemporâneos. A doçura, a paz não ofereceram os meios necessários, nesse período bárbaro da crônica dos tempos, para o desenvolvimento de uma aspiração social coexistente com as demais. A mensagem de Cristo difundiu-se como uma alternativa que, na prática, tem de ser sempre adiada.
A rigidez não encantou somente as massas despolitizadas em busca de salvação messiânica. Por muito tempo, multiplicando-se na expressão humana, inseriu-se em recantos e atividades as mais humanísticas, as mais “inofensivas”, até ingênuas. A rigidez, como observamos, sonha com a eternidade. Onde há a vontade de mudar, instala-se, assim, o desejo da imobilidade. Curiosamente, a arte mais duradoura contém, nos seus insterstícios e na sua finalidade principal – a de continuar transmitindo a sua visão às gerações futuras – o traço da inflexibilidade; não aceita a morte. Os gregos não escolheram por acaso o mármore para as suas criações. E nenhum outro povo revelou, em contrapartida, tanto gosto pelo prazer, pela sensualidade, pelo lado fugaz e escorregadio desta nossa passagem pelo mundo. É uma inclinação consagrada abundantemente nos legados de sua cultura, como se dissessem que, vivos, queriam realmente viver. A força deste sentimento transborda pelos limites de cada corpo, de cada forma consumada pelo cinzel. Brilha tanto que ameaça ofuscar os que os admiram sem cuidado, despreparados para a exuberância tentacular de seu poder de sedução. Explica-se assim, em parte, o vigor que continuamos a detectar nos fragmentos, nas ruínas a que a pressão do tempo e as intempéries do temperamento do homem reduziram a sua obra. A Vênus de Milo mantém-se bela no que nos sobrou. O tecido da pele, a curvatura do torso, a tranquilidade da expressão, nada corresponde ao dilaceramento que a atitude concreta dos acidentes do tempo a reduziu. Maior do que ele, apesar de destilar fragilidade, em iguais proporções, expõe sem malícia, ou com uma malícia soterrada nas entranhas da expressão, como se faz para vencê-lo.
A arte grega nos sussurra como aprendeu os segredos e juntou flexibilidade e rigidez, prazer e permanência, sexo e razão. Para nós aquilo se assemelha a um sonho, a uma realidade inatingível, algo que admiramos e respeitamos mas jamais pudemos repetir. E curioso: o discurso – ágil, rápido, mais veloz do que a História e, em vários sentidos, ainda adiante de nós – expressa as características que encontramos na estatutária. É uma arte junto à qual somos levados a supor que os antigos se excederam e se ultrapassaram. Ao exporem o seu universo, ergueram-no maior do que de fato se revelava. O que outros condenaram ao silêncio (erotismo, por exemplo), ali aparece como um misto de seriedade e veneração. Respeita-se o lugar que ocupa entre os elementos da natureza. Não há espaço para o pecado ou o sortilégio, ingredientes constantes nas comunidades marcadas pela rigidez. Tudo é simplesmente humano e, ao mesmo tempo, muito mais do que humano…
Sobram razões, já se vê, para o papel que a Grécia Antiga desempenha no imaginário da cultura ocidental. Sob o encantamento de suas formas, não as valorizamos somente pelo eco com que repercutem em nossa interioridade. Queremos mais. O inconforto que adormece em nossas relações com o mundo exterior, um sentimento de que, estejamos onde estejamos, continuamos exilados, cresce dentro de nós e se mistura com melancolia, com amargura, com frustração, pelas ruínas que espalhamos pela História.
Sabe-se que a utopia só se projeta para o futuro depois de colher no passado os seus temas e devaneios de uma sociedade melhor. A Europa rompeu o estado de paralisia em que mergulhara no fim da Idade Média graças à tecnologia das navegações associada às descobertas. Os grupos primitivos sugeriam a existência de um tempo perdido.ix De repente, surgia a ideia de onde poderiam vir os fios do emaranhado tecido social, para nós definitivamente intrincados e indefiníveis. Do mesmo modo, de repente, pela mão dos gregos, vislumbramos a possibilidade de chegar perto da palavra necessária, aquela que nos falta para desvendar e solucionar os nossos problemas.
Examinando-se o legado helênico sob tal prisma, justifica-se que ali tenham surgido as bases do pensamento ocidental em seu aspecto múltiplo e contraditório. Da dialética de Heráclito de Éfeso à lógica de Aristóteles e à ideia de Sócrates e Platão, com o que as permeia, houve inspiração e fundamentação para variados sistemas e formas de elocubração intelectual dominantes nos últimos dois milênios. Embora devamos desconfiar das observações ligeiras, não podemos ignorar a que mais evidentemente salta aos olhos: a riqueza do potencial de cultura onde, cumpre assinalar, rigidez e flexibilidade conservaram-se em proporções iguais, uma não predominando sobre a outra, pelo menos enquanto não se iniciou a decadência. Explica-se, então, que Freud haja erguido o seu sistema através de um exercício incansável de recuperação e avaliação dos mitos, como se o particular contivesse o universal e vice-versa. Na mesma tendência, para sacudir as cangas emperradas e imobilistas do Antigo Regime, a modernidade optou pela liberdade das discussões democráticas, apenas ajustando-se às advertências de Montesquieu.
É um tema instigante de investigação revirar os motivos que fizeram do cristianismo, de início a mais doce das doutrinas religiosas (pois se sustenta sobre o erro e a correção do erro, o pecado inevitável e o perdão, a agressão e a resistência pacífica), uma vez montada a instituição da Igreja, um dos mais duradouros instrumentos de domínio e opressão. Sem dúvida, a defesa teológica da miséria, sua aceitação, serviu para a acumulação de riqueza e o aprofundamento das desigualdades. A humildade logo se transformou em um exercício de retórica pelos que associavam força espiritual e bens materiais em nome do Cristo. Mas é também correto dizer que, nestes, a autoridade provinha de uma postura messiânica dos que consideravam que tinham como missão instilar a verdade entre os que não a possuíam. O espírito de missão e o poder sustentado na riqueza material repisaram, enfatizando-o, o percurso do que Cristo pretendera evitar. A humanidade não se liberou de seus impasses, como se acreditara nos tempos do martírio.
A incapacidade de instalar uma organização estável, na qual o equilíbrio dirija as ações individuais coerentemente com a comunidade, traduz um destino trágico e tumultuado. As aspirações no sentido da paz limitaram-se à esfera dos sonhos, tudo desmentindo, na prática, a exequibilidade do projeto. A busca da felicidade, quanto maior o empenho em alcançá-la, engendrou o infortúnio, a guerra, a morte. Por isso, o bom senso aconselha, ao contrário, o meio-termo, o que significa algo como uma conformação cotidiana à frustração, a mediocridade escolhida como alvo prioritário da existência. Ver mas não tudo, falar pouco, ouvir o suficiente para eximir-se de compromissos – são os conselhos conhecidos de autopreservação. As decisões, que as tomem outros, ousados, que não se conformam com o que têm e se colocam em risco. É um modo de se delegar a um grupo o que diria respeito a cada um, uma alienação que, às vezes, custa caro. A esse nível, o desprendimento comporta riscos consideráveis, como se demonstrou tantas vezes. De novo estamos no meio da dicotomia flexibilidade/rigidez, mas de uma imobilidade que se ampara na inércia e avança, mesmo assim, aproximando-se do abismo. Os que aceitam as ameaças e esticam a corda da existência registram-se na memória coletiva, favorável ou desfavoravelmente, como seres meio loucos, inquietos, gente que deseja mais, sempre mais, e que jamais se entrega à docilidade. Não é apenas ironia que aquele que introduziu a palavra felicidade no debate político haja pouco depois sido guilhotinado por ela.
Por que, afinal, por uma ideia se chega tão longe?
A indagação traz à mente, sem dúvida, novos problemas, na medida em que, aos conflitos da exterioridade, respondemos com o universo da nossa interioridade. A valorização do subjetivismo, uma das marcas da modernidade, ocorreu em consequência de uma angústia proveniente de fora, isto é, de nossa incapacidade em nos realizar dentro das condições objetivas apresentadas. E foi, com certeza, uma das vias de enriquecimento responsáveis pela dimensão que conferimos à arte. A interioridade representa a fortaleza na qual nos refugiamos quando nos ameaçam, e o fazemos seguros de que ali não nos atingem. Maior ou menor segundo a pessoa ou a época, este “lugar de proteção” está sempre lá, à disposição, quando preciso.
O espaço social no qual se realiza a partilha da aventura individual, em grande parte intransferível, é o diálogo. Ouvindo e falando, aceitamos tomar conhecimento do que nos oferece o outro e nos abrimos para o que, caso contrário, permaneceria coberto de sombras. O diálogo não é, entretanto, possível em qualquer circunstância. Para que se verifique, cumpre que se estabeleçam condições especiais e, em particular, que haja confiança. A alma, esse elemento imaterial, invisível, que conservamos em constante atividade em nosso interior, impõe restrições que não superamos sem grande hesitação para alcançar a exterioridade. Platão, ao optar pelo diálogo para pensar e dar trânsito à multiplicidade até o consenso, não privilegiou um mero recurso literário entre outros. As cenas onde se passam suas conversas, apesar das tensões que às vezes cercam o assunto, como no caso da condenação e execução de Sócrates, contêm o segredo do apaziguamento, seja de forma natural, resultado imediato de uma descontração real, seja porque o pensamento e a concepção da vida situam-se acima das injunções circunstanciais. A base do diálogo, porém, se situa nas entranhas da sociedade, expandindo-se ou se atrofiando de acordo com a maneira como esta dispõe sobre os homens. Os gregos, nós o sabemos, utilizaram-no como estrutura de organização política.
O diálogo é, por conseguinte, mais do que um meio de comunicação. Por ele, cria-se um laço mágico que une as pessoas e as fortalece; a verdade circula por entre as ondas de suas oscilações e paira no ar, sem esforço, ao alcance de quem dele participe, do sofisticado ao mais comum dos seres. Grandes acertos resultaram de suas qualidades – e erros. Nos períodos de opressão, cadenciados pela repetição obsessiva e tediosa de um único discurso, a alma se retrai e dá lugar às trocas monossilábicas com que a objetividade se reveste de banalidade e oculta o essencial. O enriquecimento interior se procede sem a facilidade do intercâmbio, dependendo de como a pessoa constrói e alimenta o seu imaginário.
O diálogo em si, potencialmente fértil como parece, nem sempre indica a eclosão de uma atmosfera de subjetividade favorecida pelas circunstâncias. Pode designar a extrema superficialidade, o território em que todos falam e não importa o que dizem, o gesto da expressão como moeda inflacionária. Nesse caso, tem-se a impressão de um comando que se perde nos labirintos do sistema, tão distante quanto de hábito do alcance do homem comum. Ao invés de esclarecer, confunde e mistifica. Não aprofunda nada, embora se exercite ao infinito em seus malabarismos vazios. Inebriada pela sensação de entorpecimento provocada pelo trapezismo verbal, a alma se apresenta equivocadamente reconfortada e viva.
Mais perigosa talvez do que a outra, temos aqui, igualmente, uma espécie de rigidez, uma qualidade sofisticada porque dispomos da liberdade de discordar e não a exercitamos. O zunzum das ruas ou dos bares uniformiza-se num clamor sem direção, inócuo, se, convocados a opinar, empregamos o sim invariável, cansados e descrentes da mudança. O diálogo e Platão justificava-se na vida e dela retirava o seu conteúdo inesgotável. Não se conseguiu repetir tal façanha.
O diálogo e o conhecimento, juntos, assumiram o aspecto de um ideal inatingível, como a utopia que se ergue em nossos sonhos, irrealizável na prática. O saber não apenas se desligou da comunidade, como avança, com frequência, a despeito dela e contra ela. E isso não resulta de uma desigualdade intelectual (ou não somente), separando e selecionando os indivíduos segundo suas capacidades. Resulta de uma dispersão de interesses pela qual se pulveriza a identidade a ponto de já não sabermos o que significa. Na medida em que o destino social acompanha a trajetória do conhecimento, o que não ocorreu sempre, imagina-se como pode ser trágico, em alguns momentos, o fenômeno da separação.
Quando o poder se fundamentava na força e na destreza militar, o restrito leque de opções limitava, com naturalidade, as aspirações e as possibilidades de cada um, inclusive nas posições de comando. A instrução passava pela habilidade na montaria e na espada. O bom senso e a fé em Deus ocupavam-se do resto. Montesquieu conta, no De l’esprit des lois,x como, mesmo em períodos de paz, arbitravam-se os conflitos. Os torneios e os campeões contratados para defender as partes em litígio participavam da liturgia judiciária. Era imprescindível ganhar os duelos. Quem perdia, junto com um braço ou um pedaço do corpo, perdia a razão. Supunha-se que Deus presenciava a ação entre os homens e lhes conhecia o interior. Nos instantes necessários, interferia para revelar a verdade. Um ritual medieval determinava que os queixosos pusessem a mão sobre o fogo, expressão que, por causa disso, persiste ainda hoje. A mão que cicatrizasse no dia seguinte indicava o justo na questão em litígio.
Uma racionalidade valorizada, e tida como capaz de discernir entre o bem e o mal, aposentou a barbaridade de tais rituais. Para tanto, deve se valer de um conjunto de informações sem as quais não dispõe dos meios para pronunciar-se. É, por conseguinte, um sistema que utiliza e defende a livre circulação do conhecimento, a ser procurado nos mais longínquos recantos do psiquismo. Transplantando-se o princípio ao nível da sociedade inteira e da sua estrutura de governo, avalia-se o desconforto dos dilemas aos quais chegamos e a gravidade de seus riscos.
Tratado a partir do caráter utilitário que oferece, o conhecimento perde a importância de antes, daí a distância que cavou, até o silêncio, com relação ao diálogo. Este se transfere para a esfera das frivolidades, uma vez que se abdicou da posse do saber e se delegou a tarefa, dispersando-a, aos especialistas. Mantida a forma, esvaiu-se o conteúdo. O hábito da delegação de poder, instalado na interioridade das pessoas, explica as cenas de TV, consumidas na sobremesa, sem que saiamos às ruas, descompostos, para advertir ao mundo que uma fagulha maior possui fortes chances de nos acabar com todos. Calmos, insensíveis, assistimos à brutalidade dos fatos e permanecemos entregues à inércia do cotidiano, no qual nos julgamos protegidos pela maneira fragmentária com que nos chega o conhecimento. Alguém estará a postos por nós, pensando em nossa segurança – é o que nos conserva quietos. A ação comunicativa,xi imaginada por alguns para efetuar ou restabelecer constantemente o diálogo, esbarra na fragmentação do conhecimento (esta sim verdadeira arquitetura de nosso sistema de vida) e, em seguida, na aceitação de que a realidade, como é, se revela inevitável e incontornável.
Entre os gregos, a tragédia implicava a consciência de uma natureza demasiado grande para o tamanho dos homens. É uma situação diferente daquela que vivemos, quando atribuímos um valor secundário às leis naturais e nos preocupamos, sobretudo, com os conflitos intra-humanos,xii ora acreditando que os solucionaremos, ora certos de que jamais o faremos. A euforia e a amargura da frustração intercalam-se, assim, com grande rapidez, cada experiência servindo para a elaboração de teorias totalizantes logo desmentidas pela prática. Com o tempo, o prazer da descoberta se esvaziará. O desencanto invadirá a alma, agora com uma outra dimensão trágica: a suspeita de que o homem é apenas de seu próprio tamanho.
O volume dos esforços realizados nesse sentido alimentou, de fato, a esperança (ou a ilusão) de uma capacidade de superação dos seres humanos em relação a si mesmos. Bem como os acertos, os erros, pensava Hegel,xiii serviriam de bússola para corrigir o curso da direção e um dia alcançar aqui, em nosso universo material, a razão de existir. De um modo e de outro, pegávamos o caminho certo. Como numa olimpíada em que o fundamental se concentra na superação infinita dos recordes anteriores, insistimos na ideia de voltarmos para nós mesmos a nossa esperança e, rigidamente, numa espécie de corrida interminável, quebrarmos, uma por uma, as marcas anteriores de uma condição melhor. A existência evoluiu para uma disputa sem fim, uma concorrência entre os melhores na qual até o lazer deve indicar certa performance. Assim, os que dão certo chegam a tanto porque possuem qualidades e a elas aliam uma sobrecarga de esforço. Os que não dão certo pagam o preço da preguiça ou da incompetência, culpados de sua desvantagem, e têm de se dar por satisfeitos de ocupar um lugar no final da fila. Entre as nações, deixam de interessar os problemas da ordem econômica mundial e os traços culturais. A lição prevalece para todos, divididos entre os que a aprenderam – os ricos – e os que não se aplicaram o bastante e continuam pobres. A maratona, arbitrada por uma ideologia única, não admite mudanças em suas regras. Conceitos como igualdade, fraternidade, solidariedade provocam mal-estar. As pirâmides do século XX, feitas de valores materiais e de muito suor, não prevêem espaços para a sensibilidade.
É interessante notar como a ordem que se iniciou defendendo a persuasão como a melhor arma de definição política – e não se afastou de semelhante postulado enquanto postura filosófica – esvaziou-se, na prática, de seu conteúdo doutrinário. O diálogo se conserva nas “Declarações de Direito” e nas constituições democráticas, mas há muito perdeu o caráter de forma de expressão. Hoje oscila entre a confissão, o absurdo e o silêncio. Na tendência de uniformização, de escala mundial, a diferença não se afirma pelas qualidades de cada nação pelo que escreveram de sua personalidade no Tempo; afirma-se pelo negativo, pela carência, pela ausência do dinamismo para acompanhar a corrida do sucesso. Há, então, duas realidades: a que se pretende única, imbatível na comparação, a que flutua no plano das ideias e se apresenta como verdadeira; e a outra, de carne e osso, dura de dobrar, a que insiste, teimosa, em resistir à corrente. Grande parte do nosso sentimento de frustração está aí. Não basta que as medidas de padrão da escala planetária se hajam reduzido graças à tecnologia disponível, aproximando, por pontes, culturas diversas. O mal do exílio se reinstala fora ou dentro de casa e, com ele, sobre o coro dos contentes, bate o eco da rejeição. Em período de luz e som, de ostensivo rumor, espanta que nos sintamos tão terrivelmente sós.
O mundo é uma cloaca
donde vem o que nos empesta
Esta cloaca deve ser esvaziada
É também o conteúdo de meu tratado
Mas se nós esvaziamos completamente a cloaca
é o vazio.xiv
O desabafo de Thomas Bernhard, através de seu personagem – o Reformador –, não se sustenta vivo em nossa consciência somente pela curiosidade. Na radicalidade da declaração, algo se acomoda em nosso pensamento, como se se houvesse formado ali. A personalidade do tipo que possui a coragem de chegar tão longe nos fascina. A luz que nos ofusca não rompe, com sua energia, a espessa camada de brumas. Continuamos na região das sombras.
As reformas não deram certo?
A frase de Bernhard retém um efeito explosivo que não exclui ninguém da esfera social. O que o Reformador não suporta, em última instância, é que o mundo se mostre intransformável. Nada transborda os limites do desejo – e a humanidade, como um imenso invertebrado, marcha lentamente sem direção definida. O pensamento possui fôlego para querer entender mas não para determinar os movimentos. Esta talvez seja a razão pela qual o Iluminismo, em seu conjunto a maior formulação crítica jamais feita aos fatos, haja ficado como um momento fascinante da filosofia, enquanto a prática, dotada de suas leis invisíveis, não lhe absorve as ponderações. Sem sintonia com a exterioridade, as ideias dançam no vazio e funcionam como um foco irradiador de angústia na proporção de sua inaplicabilidade. Na peça citada, o personagem não se liberta deste dilema. Ao contrário, exacerba-o, incomodado e enfurecido pelo gigantismo da inércia.
Como os sectários bem intencionados, quis implantar a liberdade e estabeleceu a opressão através de um ódio que se esparrama, totalizante, pelos recantos de sua vida individual. A sua não se manifesta muito diferente da trajetória dos jovens que, no século XVIII, arregaçaram as mangas e mergulharam na lama com a intenção de limpá-la. Pressionados por obstáculos de toda ordem, a cada derrota tornavam-se menores, até se reduzirem a um grupelho minúsculo que, suicidário, continuou, apesar de tudo, a insistir no mesmo comportamento. Observando os fatos, a posteriori, sente-se que não lhes restava alternativa… Na sua inquietação insanável, o Reformador só pode destilar despotismo.
Os acontecimentos que sucederam a 1789, na França, ocupam na História uma região sensível. Muitos anos depois, ainda causam dor. Ninguém reproduziu na arte o que ocorreu naqueles dias. De tão forte, a realidade por uma vez sufocou a ficção. No entanto, como metáfora não se desligou dos nossos meios de expressão e os melhores momentos da nossa literatura giram em torno de temas que lhe eram comuns.xv
A necessidade da mudança e a incapacidade de mudar instalam-se na mente das pessoas como duas forças típicas da modernidade, com reflexo na estrutura social e nas formas da arte.xvi Aos personagens dilacerados pelos conflitos que os cercam, compõe-se, na narrattiva, o complemento de uma linguagem em ebulição, de uma técnica em eternos jogos experimentais, de uma eclosão ou inter-relação dos gêneros – a literatura no cinema, o cinema no teatro, as artes na música etc. A tal ponto se chegou que produto artístico e mudança se tornaram quase sinônimos, colocando-se em lugar pejorativo os exemplos que se acomodavam na tradição. Sofregamente, a mentalidade buscou o novo, em algo como uma reprodução ad infinitum dos revolucionários de 89, que se desesperavam diante do número de barreiras interpostas pela solidificação dos hábitos antigos. Abundante, esta discussão se expande na expressão contemporânea pelos indivíduos que aspiram a uma troca radical de existência e fracassam na mudança de identidade, como em Profissão: repórter, o filme de Michelangelo Antonioni,xvii pela força de impulsos que os empurram, tragicamente, para a direção anterior.
Como na política, no século XVIII, a felicidade sobrevoa os nossos projetos sem descer ao cotidiano das coisas, marcado pela ausência, pela carência, pela solidão. A simples menção à palavra provoca angústia. A literatura não se arrisca a empregá-la. Comporta-se, com ela, como na proibição judaica de se pronunciar o nome de Deus. O sangue derramado em quantidades nessa procura não elimina a lição da inércia ou do conformismo. Neste dilema, a arte ocidental se faz justamente pelo inconformismo. Talvez já nem acredite em salvação, mas irá até o fim atrás dela. Lançada no impasse, não usufrui do encanto idílico dos sonhos. Por isso, frente a ela, temos a impressão de um estado de tensão que não relaxa.
NOTAS
i A frase, atribuída ao revolucionário francês, já nos havia despertado a atenção, em artigo que publicamos na Revista do Brasil, Ano 4, nº 10/89, com o título de “Robespierre e os vícios da opinião”. Na mesma ocasião, chamávamos a atenção para o fato de que a palavra aparecera, antes, com uma conotação política, na constituição norte-americana. Confira-se, quanto a isso, o livro de Hannah Arendt, Essai sur la Révolution, trad. de Michel Chrestien, Paris, TEL/Gallimard, 1967. A declaração de Saint-Just faz parte de um estado de espírito que o século XVIII desencadeia, com sua ânsia de renovação, e que, dali, por diante, já não se interrompe, com as consequências mais do que conhecidas.
ii É um fato histórico que as ideias, sua força, seu poder de transformação adquiriram uma autonomia que jamais haviam conhecido. Pegara a moda de ficar em dia com os intelectuais que, pensando no mundo, punham-se a sugerir um incontável número de mudanças. Diderot gozava de tanto prestígio com Catarina da Rússia que, para ajudá-lo financeiramente, esta comprou-lhe a biblioteca, em março de 1765, deixando-lhe o uso dos livros até a morte. Cf. Diderot, Oeuvres, Paris, Pléiade, 1951. Outro exemplo, para nos valer apenas de dois deles, é o de Condorcet, conhecido pela intimidade com que se relacionava com reis e príncipes, entre os quais Frederico da Prússia. Cf. Badinter, Elisabeth e Robert, Condorcet, Paris, Fayard, 1988.
iii Textos clássicos sobre o assunto, como se sabe, são os de Karl Marx: O 18 brumário, Rio, Paz e Terra, 1974, e As lutas de classes na França (1848-1850), São Paulo, Global Editora, 1986. As motivações políticas imediatas para a estratégia de Luís Napoleão são enunciadas por William H.C. Smith, no seu Napoleão III, Verviers, Marabout, 1984, cuja leitura esclarece, apesar das simpatias que nutre pelo Imperador.
iv A observação não está apenas em Michelet, que, em seu estudo sobre os eventos que se sucederam a 1789, dedicou uma atenção particular às contingências de ordem psicológica em jogo na hora de tomar as decisões. Trata-se de um fato que demonstra o caráter de irreversibilidade da Revolução, algo que vai além da intenção pessoal de quem nela se envolveu. Cf. Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Vols. I e II, Paris, Robert Laffont/Bouquins, 1986, 1984.
v O título escolhido por Eric Hobsbawn para o seu livro visava a Europa de 1789 a 1848. É evidente que não pensava menos nas consequências de um lado histórico que nos atinge ainda hoje e cujas raízes profundas não foram bem entendidas. De qualquer forma, sua obra aponta para uma presença viva do fenômeno. Eric. J. Hobsbawn, A era das revoluções (1789-1848), trad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.
vi A fragilidade do povo judeu e de sua heroína (nas circunstâncias: o império indestrutível de Nabucodonosor) faz-se compensar por uma proteção divina que, esta sim, dá solidez às vitórias terrenas. Diante disso, a morte nada pode representar. Nabucodonosor está enfurecido porque, no décimo segundo ano de seu reino, pediu, em toda a parte, sem resultado, apoio na luta que travava contra Arfaxad. Obtida a vitória, vinga-se mandando pilhar e arrasar as populações que lhe sonegaram auxílio. Holofernes, seu principal general, é designado contra os hebreus. Cercados, estes resolvem resistir. De fato, o maior dos militantes nada pode contra Deus. Há entretanto, na situação, uma desigualdade de forças e de condições. Além disso, Holofernes se apropria das fontes de água, decidido a dobrar os sitiados pela sede, sem perder um único homem. Judith intervém neste momento. Viúva há três anos, bela de aparência, rica de propriedades e impecável em seu comportamento, convoca os principais líderes e os convence a prosseguir na resistência. Em seu discurso, adverte-os contra a ousadia de por à prova o próprio Deus, que, diz ela, não é um homem para ser ameaçado, nem filho de um homem para ser submetido a um árbitro. Feitas as orações, despiu-se das roupas de viúva, lavou-se, perfumou-se, enfeitou-se com joias e colares e, com uma de suas servas, apresentou-se para deixar a cidade e procurar o inimigo. A meio do caminho, um guarda assírio lhes veio ao encontro, sabendo então que se achava diante de uma fugitiva dos hebreus, disposta a fornecer a Holofernes o caminho a seguir para tornar-se senhor de toda a região montanhosa. A importância de sua beleza agitou o campo de soldados. Não lhe será difícil conquistar a confiança dos inimigos. Durante três dias, permaneceu no campo, livre para movimentar-se a pretexto de fazer as suas orações. No quarto dia, Holofernes prepara um banquete e manda convidá-la. Ela deve, enfim, ser sua esta noite. O vinho, bebido abundantemente pelo general, dá-lhe a chance que esperava. Já tarde, todos cansados pelo excesso de bebida, Judith é deixada só na tenda do general. Uma última e rápida oração antecede o gesto fatal de retirar a arma e golpeá-lo certeira por duas vezes no pescoço. É uma perda que desorganizará os inimigos e salvará os judeus. Para o episódio, remetemos ao texto bíblico editado por Le Livre de Poche, trad. da Société Biblique Française, Vol. 2, Paris, 1975.
vii A ação bem sucedida de Judith restaura o prestígio de Aquior, o profeta que caíra em desgraça junto aos assírios ao prever a proteção divina e, em consequência disso, a superioridade dos judeus.
viii Cf. Além do princípio do prazer, trad. de Christiano Monteiro Oiticica, Rio de Janeiro, Imago, 1975.
ix A descoberta da América foi, na verdade, a redescoberta da Europa. O retorno dos navegadores e o relato que faziam do que acabavam de encontrar do outro lado do Oceano estimulou as mentes a repensarem o mundo. Este jamais tornaria a ser o mesmo e reconstruiria, através de muitas convulsões, uma História que até então se pretendia parada, imune às intempéries sociais. A festa brasileira de Rouen, com cinquenta tupinambás autênticos e duzentos de mentira, em homenagem a Henrique II e Catarina de Médicis, para não citar os interesses econômicos implícitos (o de despertar a atenção da monarquia para o potencial das novas regiões), trouxe consequências a longo prazo na reflexão política francesa, além de Montaigne e Rousseau. Veja-se, sobre o evento, a obra de Carlos Rizzini, O livro, o jornal e a tipografia no Brasil, publicação da Imprensa Oficial do Estado S. A. IMESP, São Paulo, 1988.
x Cf. Montesquieu, De l’esprit des lois, Vols, I e II, Paris, GF-Flammarion, 1979.
xi Habermas, para idealizar esta “saída”, baseou-se no modelo da sociedade alemã. Esqueceu-se de que o mundo, fora do pequeno eixo de riqueza empregado em seu pensamento, possuía, ao nível das informações, um aspecto de extrema perversão. Não há ação comunicativa onde as condições materiais invibilizam o processo de reflexão. Quem quer que viva no Terceiro Mundo não ignora o fato. A manipulação de opinião, já por demais evidente em qualquer sociedade de massa, inclusive na abastada, nas outras faz-se quase unívoca, comprometendo, é óbvio, o projeto de liberdade ou mesmo de “fiscalização” dos atos do governo.
xii Há um instante, na história do pensamento, em que o homem deixa de observar a natureza, extasiado e impotente diante da grandeza do espetáculo, e a encara, ao contrário, como um patamar inferior, já que não é dotado de consciência. O centro das atenções se concentra, daí por diante, na trajetória desenvolvida pelas ações inteligentes, verdadeiro depositário dos desígnios de Deus. Há óbvia mudança de substância em tal virada, responsável por muita coisa que ocorrerá depois. Para Hegel, o universo inteiro constitui o reino da morte. Somente o homem manifesta e realiza a vida divina. Acrescenta Kostas Papaioannou, na introdução que escreve para o livro do filósofo: “Mesmo os seus crimes, diz Hegel, como se quisesse responder a Platão, mesmo as piores aberrações do homem, representam ‘qualquer coisa de infinitamente mais elevado do que o curso regular dos astros, pois o que assim erra é sempre o espírito’” (a tradução para o português é nossa, a partir do francês). G.W.F. Hegel, La raison dans l’histoire, tradução, introdução e notas de Kostas Papaioannou, Paris, 10/18, 1979, p.10.
xiii Trata-se de um pressuposto básico em sua filosofia: “Do estudo, portanto, da história universal resultou e deve resultar que nela tudo se passou racionalmente, que ela representou o curso racional e necessário do Espírito do Mundo (Weltgeist), Espírito que constitui a substância da história, que é sempre um e idêntico a si próprio e que explicita seu ser único na vida do universo (o Espírito do Mundo é o Espírito em geral)”. Grifos nossos e tradução nossa, a partir do texto francês. Idem, p. 50.
xiv Thomas Bernhard, Le Réformateur, texto francês de Michel Nebenzahl, Paris, l’Arche, 1990, p. 77. É interessante registrar o nível de reconhecimento com que, confrotados a esta fala da peça, automaticamente nos sentimos dentro de nossa época, no que toca a uma certa corrente da produção cultural. Não nos esqueçamos do sucesso que os textos do autor austríaco, a despeito de seu amargor, encontram no público de hoje nos grandes centros europeus. A violência do desabafo parece comportar a exata medida do desencanto com que encaramos a existência e suas possibilidades de realização humana.
xv É curiosa, um campo a estudar, esta maneira indireta que os percursos históricos desenvolvem nas várias formas de expressão. Os traumas mobilizantes, aqueles que arrastam e interessam a multidões ou a uma nação inteira dão a impressão de sufocar, como se retirassem o fôlego por certo tempo, a capacidade humana de traduzi-los num outro patamar do nosso imaginário. Onde mais deveriam se tornar presentes, desaparecem abrindo um vácuo. O pesquisador menos atento, por causa disso, corre graves riscos. O que se oculta, subsiste, muitas vezes, latente, e ressurge mais adiante e até com impacto. E a metáfora, pela capacidade de transposição de situações que comporta, não deixa que os fantasmas morram de vez. Sem isso, para só nos deter num exemplo, jamais teríamos lido Flaubert.
xvi Voltemos um instante a Hegel, na obra antes referida, para verificar de que modo este enfrenta semelhante problema. O eterno processo de repetição na natureza engendrou sempre um misto de perplexidade (pela comparação com o caráter fugaz, temporário, da existência humana) e fascínio, justificando Deus. A modernidade muda o quadro com a introdução no pensamento do conceito de progresso. Diz o autor de A fenomenologia do Espírito: “A árvore se perpetua, produz ramos, folhas, flores, frutos, e recomeça sempre do mesmo ponto. A planta anual não sobrevive a seu fruto; a árvore dura por dezenas de anos, mas também acaba por morrer. Na natureza, a ressurreição é, portanto, uma repetição do mesmo, uma história monótona que sempre segue um ciclo idêntico. Nada há de novo sob o sol. Acontece diferentemente com o sol do Espírito. Sua marcha, seu movimento, não é uma autorrepetição; o aspecto mutante que reveste o Espírito nas suas figuras sempre novas é essencialmente um progresso” (tradução nossa, a partir do texto francês). Op. cit., p. 92.
xvii O filme, com Jack Nicholson e Maria Schneider, foi rodado em 1974, em produção ítalo-franco-espanhola. Conta a história de um repórter, David Locke, que se aproveita da morte de um homem num quarto de hotel ao lado do seu para trocar com ele os seus papéis. A usurpação do nome e da identidade do morto força-o a desenvolver um percurso que também não escolhera. Apanhado pelo acaso, termina assassinado. Brincando com o destino, tornou-se sua vítima, cumpriu um papel como cumpria o da identidade da qual desejara libertar-se. Na relação de amor que estabelece no meio-tempo, entretanto, já se acha instalado o fracasso, pois não consegue deixar de se repetir seus velhos vícios e comportamentos.