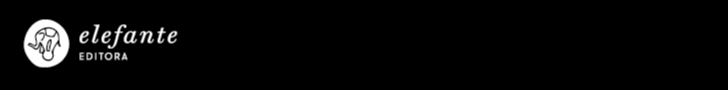Laboratório indígena
A experiência de dez anos de convênio entre a Universidade de Brasília e a Funai. Aos poucos, estudantes índios superam o chamado “racismo epistêmico”
Por Paula Scarpin, na Piauí
Publicado 26/11/2013 às 22:03
A experiência de dez anos de convênio entre a Universidade de Brasília e a Funai. Aos poucos, estudantes índios superam o chamado “racismo epistêmico”
Por Paula Scarpin, na Piauí
Lindalva entrou cabisbaixa no laboratório de anatomia, e saiu de lá com um sorriso vitorioso uma hora depois. “A professora falou que eu sou dez”, disse, guardando o jaleco na mochila a caminho do ponto de ônibus. Nas aulas práticas de medicina na Universidade de Brasília, os alunos são divididos em duplas para dissecar partes de um cadáver. Lindalva deu azar: seu par, “um menino branquinho, barbudinho”, não permitiu que ela tocasse na peça nas três primeiras aulas.
“Ele dizia que eu ia cortar errado, estragar.” Ela recorreu então à professora, e pediu vinte minutos para manusear sozinha a parte que cabia à dupla. “Eu achei o plexo cervical, braquial, artéria, em menos tempo até do que tinham pedido.” O pai de Lindalva era caçador na aldeia tikuna em que viviam, a mais de mil quilômetros de Manaus, e ela estava acostumada a preparar carne de macaco para os guisados. “As estruturas anatômicas são muito parecidas”, explicou.
Aos 35 anos, Lindalva Felix Zaguri saiu pela primeira vez do Amazonas diretamente para a UnB, no ano passado. Alfabetizada em português só aos 20 anos, tendo cursado um supletivo que deixava de fora disciplinas como química e física, e trabalhando em período integral para sustentar os dois filhos sozinha, ela dificilmente seria aprovada no disputado vestibular da universidade – ainda mais para o curso de medicina, cuja relação candidato/vaga ultrapassa 134. Foi selecionada por um convênio da UnB com a Fundação Nacional do Índio, Funai, que escolhia anualmente alunos indígenas de todo o Brasil para cursarem a graduação junto com os mais de 4 mil selecionados pelo vestibular.
Em fevereiro, o convênio chega ao fim dos dez anos previstos. Segundo a UnB e a Funai, ele será renovado, coexistindo com a Lei de Cotas que a partir de 2014 deverá ser implementada em todas as universidades federais (a lei inclui alunos indígenas, mas em proporção equivalente à presença desse grupo nos estados). Antes da renovação, porém, a experiência será avaliada por uma comissão, que vai sugerir medidas para aprimorá-la.
O professor de antropologia José Jorge de Carvalho foi um dos propulsores do convênio. Numa tarde recente, ele contou que a discussão inicial na UnB girava em torno de cotas apenas para estudantes negros. Em dezembro de 1999, uma reunião aberta sobre o tema foi divulgada no jornal Correio Braziliense, e atraiu lideranças indígenas que reivindicavam participação. “Aí é que eu fui descobrir que já havia um acordo antigo entre a Funai e a UnB, uma brecha administrativa que permitia que o processo fosse muito mais fácil de aplicar.”
Diferentemente do programa da UnB para alunos negros, que utiliza parte das vagas já disponíveis, para os indígenas foram criadas vagas sobressalentes. Foi definido que a Funai faria a seleção junto com os líderes das aldeias e daria uma bolsa-auxílio para os escolhidos no valor de 900 reais – generosa para alunos de graduação, considerando as agências de fomento nacionais. Como o convênio previa que os alunos deveriam exercer as profissões nas aldeias no final do curso, as vagas não eram solicitadas a partir de vocações individuais, mas de necessidades locais. Na prática, a grande maioria foi para a área da saúde, com algum destaque para outros cursos afins à vida na floresta, como engenharia ambiental.
Entretanto, de 110 indígenas que ingressaram nos dez anos do convênio, apenas sete concluíram o curso. Em medicina, foi apenas um, que ainda faz residência médica numa cidade-satélite de Brasília. Setenta e três continuam matriculados.
Pelo acordo, cabia à UnB o apoio acadêmico aos alunos. Em seu apartamento na Asa Sul, Aparecida Miranda Cunha contou como, da noite para o dia, se viu incumbida dessa responsabilidade. A psicóloga, recém-aposentada, era coordenadora do Serviço de Orientação ao Universitário, o SOU. “O reitor nos chamou no gabinete e anunciou que deveríamos acolhê-los, mas não tínhamos nenhum preparo”, disse. Ela e três colegas convocavam reuniões para orientar desde como pegar ônibus em Brasília até sobre o funcionamento da biblioteca.
Na prática, o apoio da Funai se resumia à bolsa, que deveria bastar para gastos de moradia, transporte, alimentação e material escolar. Mas um apartamento de um quarto no Plano Piloto não é alugado por menos de mil reais, e a praxe na cidade é a demanda por dois fiadores no contrato. Sem orientação, os alunos tinham dificuldade para gerir os gastos, e Aparecida soube de alguns deles que dormiam em abrigos de sem-teto ou na rua. “Principalmente os que se comprometiam a enviar uma parte da bolsa para a família. Muitos deles têm filhos cedo, largaram o emprego para vir estudar e precisavam contribuir”, disse.
Lindalva Zaguri não foi a única que, ao chegar a Brasília, seguiu direto para a sede da Funai – mas não recebeu qualquer apoio ali. “A sorte foi que encontrei um parente, que falou de um lugar para morar”, contou. Tratava-se de uma ocupação de indígenas e outros sem-teto em um escritório desativado do metrô, perto do zoológico, a quarenta minutos de ônibus da UnB. Com uma reforma, o imóvel abandonado daria um sitiozinho confortável. A cozinha e os quartos são bem pequenos, mas há uma sala grande, que os indígenas decoraram com artesanatos de várias etnias.
Ao entrar na UnB, Lindalva não hesitou em pedir demissão do trabalho como auxiliar de odontologia em Manaus, em que ganhava 1 700 reais, e deixou os filhos aos cuidados de uma prima. Deixou com ela também o cartão com o qual recebia o auxílio de 900 reais da Funai, e seguiu para a capital apenas com o cartão do Bolsa Família, no valor de 134 reais mensais. Logo que chegou, um problema com os filhos a obrigou a trancar a matrícula. Ela está terminando agora o primeiro ano do curso, e complementa a renda com o artesanato que faz nas horas livres.
Segundo Aparecida Cunha, os professores não receberam qualquer aviso da reitoria sobre a nova política. “Nós é que mandamos para os coordenadores de cursos uma cartinha contando; alguns ligavam irritados.” Os professores reclamavam que a medida não havia sido discutida e preparada com o corpo docente, e que, dessa forma, os alunos indígenas não conseguiriam acompanhar as aulas.
O professor da Faculdade de Biologia Umberto Euzébio contou que só soube do programa três anos depois de sua implantação. Ele acabou assumindo, em 2011, o então recém-criado cargo de coordenador acadêmico dos Estudantes Indígenas. No papel, ficaria responsável por fazer a mediação entre os estudantes e a burocracia da universidade, mas não demorou a estabelecer uma relação quase paternal com eles.
Enquanto conversávamos num corredor da faculdade, o professor foi abordado diversas vezes por alunos indígenas: uma pedia orientação para trancamento por problema de saúde, outro relatava que um colega viciou-se em crack e estava vendendo móveis para pagar o tráfico, outra só queria contar que tinha ido bem numa prova. “É o tempo inteiro assim, mas eu tento orientar sem me intrometer, para que eles aprendam a caminhar com as próprias pernas”, disse.
Uma das sugestões de Euzébio foi a de que os estudantes se organizassem num centro acadêmico. Tanielson Rodrigues, aluno de engenharia florestal, é hoje um dos líderes do Cain, o Centro Acadêmico Indígena. Todos o conhecem como Poran Potiguara – ele prefere ser chamado pelo nome indígena e, como é usual, adotou sua etnia como sobrenome.
Poran nasceu há 23 anos numa aldeia no litoral norte da Paraíba, onde estudou em um colégio indígena. Além do currículo padrão, a escola oferecia disciplinas como história do povo potiguara e língua tupi. “Mas eu fui alfabetizado em português. Nenhum povo do litoral sobreviveu falando a língua original”, explicou, no apartamento que divide com outros três colegas de etnias e cursos diferentes. Poran acredita que os indígenas veteranos da UnB têm o papel de lutar por melhorias, “para que os mais novos não precisem passar pelas mesmas dificuldades”.
No final de 2010, ele e outros dezesseis colegas receberam uma carta da Funai comunicando a suspensão da bolsa. Alguns estudantes, como é o caso de Poran, matricularam-se em poucas matérias para conseguir tirar boas notas. A Funai percebeu que eles não teriam condições de concluir o curso no tempo esperado. “É comum que os alunos peguem menos créditos num semestre de disciplinas mais puxadas. Tanto que nenhum foi desligado da UnB. Só perderam a bolsa”, disse Poran.
Sem o auxílio, nove estudantes desistiram do curso, dois conseguiram reverter a decisão da Funai, e outros sete decidiram continuar assim mesmo, como Poran. Ele dormiu de favor na casa de uma amiga nos primeiros meses, e depois conseguiu ser enquadrado na categoria de aluno “vulnerável” da UnB – o que lhe garante uma bolsa de 460 reais e uma vaga na moradia estudantil da universidade.
Em maio deste ano, Poran Potiguara e outros trinta colegas ocuparam a sede da Funai em Brasília. A bolsa dos indígenas atrasou por dois meses consecutivos, e um grupo de sete calouros tikunas foi despejado do apartamento que dividiam por não ter pago o aluguel. Os ocupantes foram recebidos pela então diretora e hoje presidente da Funai, Maria Augusta Assirati.
Numa tarde recente, na sede do órgão, Maria Augusta não hesitou em dar razão aos estudantes. “Muitas vezes as políticas públicas, no afã de ajudar, são feitas sem muita reflexão”, afirmou. Ela acredita que na próxima etapa do convênio, quando as bolsas para alunos indígenas – tanto na UnB quanto em outras universidades federais – sairão do orçamento de um programa recém-criado pelo MEC, a Funai deve assumir a adaptação desses alunos. “Hoje eu vejo com mais clareza que é um choque cultural muito grande, que precisamos repensar o acolhimento e a avaliação para a manutenção das bolsas, que não tem levado em conta as especificidades dos indígenas.”
As falhas na implantação do convênio acabaram aumentando a resistência de parte do corpo docente. “Por que Harvard não aceita qualquer um?”, perguntou Marcelo Hermes, professor de bioquímica no curso de medicina, em seu apartamento funcional no campus. “Para manter o nível de ensino”, respondeu ele mesmo. “O papel da universidade é colocar profissionais qualificados no mercado. Ponto. Essas exceções afundam a universidade.”
Hermes, um dos mais veementes opositores das cotas na UnB, disse que o programa é prejudicial para ambos os lados. “Você está ocupando vagas que deveriam ser de pessoas capazes, e é frustrante para os índios, porque eles desperdiçam anos da vida tentando fazer algo de que não têm capacidade”, disse. Em seguida, imitou uma voz infantil: “Ah, eu quero ser astronauta. Funai, consegue uma vaga na Nasa, eu quero.”
O antropólogo José Jorge de Carvalho disse que muitos professores se gabam de não fazer diferenciação entre os alunos; para ele, ao contrário, a bagagem anterior de cada um deve ser levada em conta na sala de aula. “Ao contrário dos negros, que sofrem um racismo social – porque se associa o fenótipo da pessoa negra ao comportamento de um possível delinquente, então ele é mais parado pela polícia do que o branco –, os indígenas sofrem um racismo epistêmico. Os brancos não acreditam que eles são capazes de aprender e muito menos de ensinar”, disse.
Carvalho citou o exemplo que considera positivo de Maria da Graça Hoefel, professora de práticas de saúde na Faculdade de Ciências da Saúde. Ela encontrou uma maneira de promover um diálogo entre conceitos de medicina ocidental, que norteiam o curso, e o conhecimento prévio dos alunos indígenas.
O Hospital Universitário da UnB é referência no tratamento de indígenas de todo o país, encaminhados pela Casa do Índio. Histórias de choque cultural são frequentes: pacientes que não se deixam furar com agulha, outros que não aceitam a comida do hospital e fazem greve de fome, e até o caso de uma família que, por tradição, queria queimar o leito onde um parente havia morrido. Graça Hoefel propôs à diretoria do hospital a criação de um “ambulatório indígena”, cujos monitores seriam dezoito alunos de diferentes etnias, supervisionados por ela e pelo pajé Álvaro Tukano. O projeto foi aprovado e está sendo implantado há seis meses. Os alunos se dividem em turnos e ajudam tanto no processo de comunicação entre pacientes e médicos quanto no tratamento.
No Departamento de Antropologia, Carvalho criou uma disciplina chamada Encontro dos Mestres Tradicionais com a Universidade, em que convida sábios indígenas para conduzir as aulas com ele – como o mestre Maniwa Kamayurá, arquiteto e especialista em bioconstrução no Alto Xingu. Na sala do antropólogo há uma maquete de uma construção de Maniwa, toda projetada considerando-se escalas e padrões do corpo humano. “Um professor de arquitetura aqui da UnB o escutou falando sobre as medidas humanas e ficou boquiaberto: os gregos e os romanos também partiam dessas escalas em seus projetos”, disse.