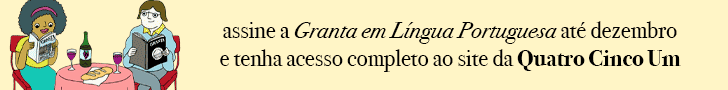Grandes obras: um caminho contra a devastação
Surge alternativa aos desastres causados por empreendimentos de infraestrutura: enfrentar impactos antes das construções começarem, com ampla participação local, sem fetiche pela “geração de empregos”
Por Magali Cabral, na Página22
Publicado 29/07/2014 às 11:20

Barragem de Belo Monte, em Altamira. Um dos inúmeros casos em que se projeta e inicia a obra, para só mais tarde “corrigir” os impactos — em geral de forma autoritária e burocrática
Surge alternativa aos desastres causados por empreendimentos de infraestrutura: enfrentar impactos antes das construções começarem, com ampla participação local, sem fetiche pela “geração de empregos”
Por Magali Cabral, em Página22
O melhor percurso entre a urgência desenvolvimentista contida nos grandes empreendimentos de infraestrutura que pipocam pelo País e o interesse dos povos que habitam as regiões impactadas durante as construções nunca foi tão pesquisado como agora. Um dos caminhos já identificados é o da criação de investimentos antecipatórios. Seria como inverter a ordem atual dos intrincados processos característicos das obras públicas de grande porte e seus modelos de financiamentos.
Por exemplo, projetos voltados para o desenvolvimento local – como o louvável Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS Xingu), que o governo federal está levando aos 12 municípios paraenses da Terra do Meio, impactados pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte – deveriam ser os primeiros a chegar aos territórios, muito antes de os canteiros de obras serem erguidos.
Há quem já esteja debruçado sobre outros modelos de financiamento. A International Finance Corporation (IFC) – braço financeiro do Banco Mundial – planeja criar uma espécie de fundo antecipatório, como revela Hector Gomez Ang, country manager da instituição no Brasil, em entrevista nesta edição.
Um dos nós que impedem um desencadeamento harmônico no processo de instalação de grandes obras em áreas com baixa capacidade institucional, carente de serviços públicos, como as localizadas na Amazônia, é atribuído, por vários especialistas, à forma como os processos para a obtenção de licenciamentos ambientais são conduzidos.
“Temos uma contradição já na largada que é o estudo de impacto socioambiental ser realizado pelo próprio empreendedor, o maior interessado em obter o licenciamento”, aponta o coordenador adjunto do Programa Xingu do Instituto Socioambiental (ISA), Marcelo Salazar.
E não é só isso. Encarregadas de cumprir as “condicionantes”, contrapartidas aos impactos negativos da obra, as empresas, antes de poderem agir, são obrigadas a esperar a obtenção das primeiras licenças de operação, por meio das quais conseguirão o financiamento para a obra e para as ações compensatórias. Por essa lógica, as compensações socioambientais pactuadas nos contratos entre empresas e governo só poderiam mesmo chegar ao destino paralelamente ou depois da instalação do canteiro de obra. “Infelizmente ainda não temos uma estrutura de financiamento anterior ou dentro do processo de licenciamento, que permita investir na região do empreendimento bem antes de as obras acontecerem”, argumenta Salazar.
Segundo John Reid, fundador e presidente da Conservação Estratégica (CSF, sigla em inglês para Conservation Strategy Fund), organização que desenvolve soluções econômicas associadas à conservação do ambiente, isso seria uma inovação no campo da sustentabilidade. Ele desconhece casos de grandes obras no mundo que antecipem para a fase de licenciamento a atenção às comunidades alvo de impactos negativos, mas diz gostar da ideia. Aproveita para sugerir que esse crédito seja ofertado a partir de uma escala de juros decrescentes, conforme a qualidade e a antecipação das ações mitigatórias.
A VIDA COMO ELA É
O consultor Frederico Bussinger, do Instituto de Desenvolvimento, Logística Transporte e Meio Ambiente (Idelt) enxerga outra fragilidade nos processos de licenciamento e autorização de grandes obras: a falta de sinergia na análise dos impactos. “Fala-se muito em fazer um estudo de impacto ambiental ‘holístico’ , que contemple uma visão global do empreendimento, o que é muito bonito no discurso. Mas, no fim das contas, cada parte será analisada e assinada por uma pessoa diferente nos órgãos públicos. Então, a tal visão holística do projeto fica só no estudo, mas não na aprovação, que é superfragmentada”, avalia.
Os processos de licenciamento para execução de grandes obras variam de acordo com o setor da economia. No de energia elétrica, o projeto já possui a licença prévia (LP) emitida pelo órgão ambiental [1] na fase do leilão que definirá o empreendedor. A LP explica minimamente o que a região precisa para mitigar alguns riscos. A posterior licença de instalação (LI) é que traz o detalhamento dos impactos e das ações a serem realizadas pela empresa vencedora do leilão.
De acordo com a chefe do Departamento de Energia Elétrica do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Márcia Leal, a empresa vencedora pactua com o órgão ambiental as condicionantes socioambientais para a obtenção da LI, um dos itens obrigatórios para a liberação de financiamento pelo banco. Ainda que, para efeito de obtenção da LI, o órgão ambiental possa impor a necessidade de ações prévias no território, Márcia Leal lembra que os impactos do empreendimento não podem se confundir com as deficiências preexistentes na região.
Do ponto de vista empresarial, certamente que não. Mas, para Marcelo Salazar, que vive em Altamira há 8 anos e conhece bem o histórico déficit de políticas públicas na região amazônica, o poder público não precisa separar essas duas dimensões.
Ele observa que “independente de quem ganha um leilão ou uma concessão, não faria mal um choque de políticas públicas nas áreas em que o governo mantém interesses estratégicos”. Se a obra “vingar”, a população estará mais protegida dos impactos negativos e, se a obra não “vingar”, o governo terá cumprido sua obrigação.
A lógica do licenciamento está, de fato, desgastada, pelo menos para atender a todas as demandas sociais que surgem a partir de um grande empreendimento. No campo ambiental, as ações avançam mais, mas, no social, algumas ainda são centradas no remanejamento de populações atingidas ou nas áreas de saúde e educação.
De fato, se Altamira ainda experimenta os prós e os contras do boom irradiado de Belo Monte (o número de habitantes passou de 100 mil para 140 mil, em três anos), o desemprego, a deflação e uma série problemas sociais já começam dar sinais em Porto Velho, Rondônia, em função do término das obras das usinas de Jirau e Santo Antônio. Uma possibilidade de evitar esse tipo de impacto seria acrescentar, ao rol de exigências para a execução da obra, um “licenciamento social” que mostrasse, entre outras coisas, o quanto as comunidades locais resistem em aceitar o empreendimento na região escolhida.
LICENCIAMENTO NA BERLINDA
Bussinger também defende a revisão do processo de licenciamento, mas com outros propósitos. Por exemplo, para que sua execução não continue sendo atropelada pela “judicialização” das obras, o que vem ocorrendo segundo seu diagnóstico. “Caberia ao Ministério Público e à Justiça discutir a legalidade dos processos – se foi feita a audiência pública, se tem Estudo de Impacto Ambiental (EIA) – Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (Rima), se o órgão ambiental analisou. Já o mérito da análise diz respeito ao órgão competente”, afirma ele.
Na avaliação do consultor, o processo decisório de licenciamento e autorização de obras é imprevisível e complexo, o que gera insegurança jurídica aos empreendedores e conflitos com a sociedade civil. “Nós conseguimos criar o pior dos dois mundos – há muita dificuldade para o empreendimento e não conseguimos defender adequadamente o meio ambiente. Quem defende um critério mais global e mais objetivo de análise dos estudos de impacto não está defendendo agressão ao meio ambiente.”
O olhar de Bussinger para os impactos das grandes obras tem um ponto de vista que ele chama de “desimpacto”. Em sua opinião, é um equívoco tratar os projetos de forma individualizada. Por exemplo: quando se criam projetos portuários na Região Norte, que evitam a chegada de caminhões ao porto de Santos (SP), há um impacto positivo em todo o trajeto do norte do País até Santos. Quando as cargas são postas para serem navegadas, em vez de rodar por rodovias, o impacto é de novo positivo.
No entanto, os licenciamentos vão se ater apenas à sustentabilidade dos projetos portuários e hidroviários e de cabotagem em si e não dão atenção ao “desimpacto” que eles proporcionam. “Por princípio, qualquer um desses projetos é sustentável, porque vêm em benefício do descongestionamento das estradas, da redução do consumo de combustível e da redução das emissões”, afirma. A questão é como compatibilizar os impactos positivos globais com os negativos, no território que recebe o empreendimento.
O CAMINHO DAS PEDRAS
Nos últimos anos, vêm surgindo estudos e metodologias que podem ser importantes facilitadores para o tema do desenvolvimento local em obras de infraestrutura que acarretam grandes impactos.
Um conceito importante na elaboração dos projetos de desenvolvimento local é ter em mente, por exemplo, a não dependência entre o território e o grande empreendimento que está chegando. Ou seja, os empresários não devem acreditar que estão fomentando a economia local apenas por trazer à região milhares de trabalhadores aptos ao consumo ou por contratarem fornecedores locais.
Claro que a chegada de uma empresa e de grandes contingentes de consumidores deve ser vista também como oportunidade de crescimento para os pequenos empreendedores da região. Mas, para atender a essa nova demanda temporária, eles precisam investir e, para investir, precisam se endividar. Um dia a obra acaba, a população flutuante desaparece e como fica a economia local?
A IFC publicou um guia – Performance Standards on Environmental and Social Sustainability – sobre como administrar os impactos dos empreendimentos e orientar as empresas para o desenvolvimento local. Entre outras coisas, sugere que, embora as empresas se inclinem a se tornar articuladoras de determinadas agendas nesse campo, é recomendável que não se sobreponham aos comitês locais. Estes, sim, devem se encarregar da governança das ações socioambientais.
O Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-Eaesp (GVces) também desenvolveu premissas que ajudam as empresas em sua chegada aos territórios que receberão o empreendimento. A primeira inclui uma aferição territorial com o objetivo de reconhecer como um lócus mais amplo do que o definido nos processos de licenciamento. A segunda trata da participação efetiva e informada das pessoas em espaços francos e abertos de diálogo, de modo que as comunidades expressem a sua visão do que é desenvolvimento. Outra premissa é dialogar com o que existe naquele território: seu capital natural, social e humano.
A última é a da governança dos recursos que financiam a agenda de desenvolvimento local. O recurso deve ser governado por todos, por meio da criação de espaços coletivos, tais como fóruns, com o objetivo de evitar que a empresa se torne um balcão de atendimento que distribui o dinheiro para demandas pontuais, nem sempre alinhadas a um planejamento integrado.
Um bom caso de planejamento voltado para o desenvolvimento local é o da pavimentação da BR 163, no trecho entre Cuiabá (MT) e Santarém (PA), na opinião da secretária executiva adjunta do Instituto Socioambiental (ISA), Adriana Ramos. “O projeto em si pode ter lá os seus defeitos. Já as ações que antecederam o início das obras, reunindo todas as partes interessadas para discutir o desenvolvimento na região e a prevenção dos impactos negativos do asfaltamento, foram acertadas”, avalia.
Segundo Adriana, se o planejamento inclui o compartilhamento da decisão política, são colocadas todas as representações daquela sociedade em um processo de discussão. Assim, esses grupos estarão mais bem informados sobre os prejuízos e bônus. “Eles terão participado do processo de decisão mesmo que sejam, digamos, vontade vencida. Saberão por que aquela decisão foi tomada, e por que o interesse deles foi minoritário. Aí você vai discutir como vai fazer uma obra, mesmo que esta não seja do agrado de todos”, diz.
Nos documentos originais do projeto, o objetivo da BR 163 era apenas o de escoar a produção de soja das fazendas até o porto de Santarém. Não estava previsto nenhum ciclo de desenvolvimento ao longo da estrada. Sem vicinais, por exemplo, os assentamentos no entorno da estrada herdariam apenas o impacto negativo do desmatamento, da poluição e de uma previsível ocupação irregular das terras às margens da rodovia.
Articulados com a Casa Civil da Presidência da República, o ISA, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e a Fundação Viver Produzir e Preservar do Pará, juntamente com prefeituras e outras representações locais, identificaram os impactos da 163 e criaram um novo projeto em que previu investimentos em várias frentes: segurança, estradas vicinais que ligassem os assentamentos mais afastados à rodovia, reorganização da produção dos pequenos produtores para melhor aproveitamento da rodovia e um ordenamento territorial para garantir que não haveria desmatamento ilegal. Este exemplo mostra de que já se conhece o “caminho das pedras” no que se refere a grandes obras. A questão, agora, é trilhá-lo.
—
[1] No caso dos projetos federais, como Belo Monte, a emissão dos licenciamentos é feita pelo Ibama
Quem te viu, quem te vê
Quem viveu ou estudou o período do “milagre econômico”, entre 1968 e 1973, sabe que de lá para cá houve uma democratização no modo como o poder público executa grandes obras de infraestrutura. Para viabilizar projetos faraônicos como Usina Hidrelétrica de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Usina Nuclear Angra 1 e Transamazônica, entre outras, o governo militar transformava os territórios alvos em áreas de segurança nacional. A população era remanejada e ponto final.
“Itaipu era uma empresa odiada porque entrou em um território desapropriando, sem discussão”, relata Herlon Almeida, assistente da diretoria-geral da Itaipu no Brasil.
A empresa fez um grande esforço para mudar o seu perfil de atuação e corrigir sua relação com a comunidade. A usina acabou incorporando um forte compromisso com o território, como no programa Cultivando Água Boa, estratégia de proteção da Bacia Hidrográfica Paraná 3, onde a usina está inserida.
Segundo Almeida, embora interaja com tudo o que acontece na região, não é a empresa que sempre coordena as ações sociais. “Claro que puxamos muitos projetos, mas nesse campo de desenvolvimento entendemos que não somos nós que temos de liderar. Até porque a usina deve manter sua atividade principal, que é produzir energia”, afirma.
– See more at: http://www.pagina22.com.br/index.php/2014/07/comecando-pelo-comeco/#sthash.kQ7GB817.dpuf