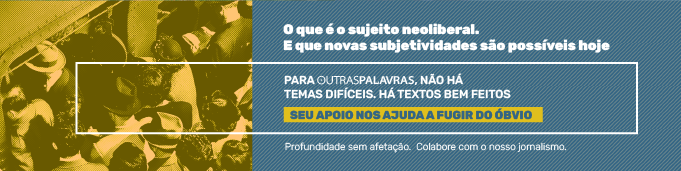E o Partido da Guerra controlou a Casa Branca
Como Donald Trump abandonou as promessas de acabar com as guerras inúteis dos EUA — e adotou uma postura ainda mais agressiva que seus antecessores
Publicado 21/09/2017 às 18:16 - Atualizado 13/12/2018 às 15:54
Narrativa de uma captura: como Donald Trump abandonou as promessas de acabar com as guerras inúteis dos EUA — e adotou uma postura ainda mais agressiva que seus antecessores
Por Serge Halimi, no Le Monde Diplomatique francês | Tradução: Inês Castilho
Bastaram alguns meses para que os Estados Unidos se retirassem do acordo internacional de Paris sobre as mudanças climáticas, adotassem novas sanções econômicas contra a Rússia, invertessema dinâmica de normalização das relações diplomáticas com Cuba, anunciassem sua intenção de denunciar o acordo nuclear com o Irã, dirigissem uma advertência ao Paquistão, ameaçassem a Venezuela com uma intervenção militar e se declarassem preparados para atacar a Coreia do Norte “com um fogo e uma ira que jamais se viram antes neste mundo”. Desde que a Casa Branca mudou de inquilino em 20 de junho passado, Washington somente melhorou suas relações com as Filipinas, o Egito, a Arábia Saudita e Israel.
A responsabilidade de Donald Trump nessa escalada não é exclusiva. Os neoconservadores eleitos por seu partido, os democratas e os meios de comunicação o ovacionaram quando, durante o outono passado, ordenou a realização de manobras militares na Ásia e mandou lançar 59 mísseis contra uma base aérea na Síria (1). Pelo contrário, ele foi impedido de atuar quando explorou as possibilidades de uma aproximação com Moscou – e inclusive viu-se obrigado a promulgar um novo pacote de sanções estadonudenses contra a Russia. Definitivamente, o ponto de equilíbrio da política externa dos Estados Unidos resulta cada dia mais da soma das fobias republicanas (Irã, Cuba, Venezuela), amiúde compartilhadas pela maioria dos democratas, e das aversões democratas (Rússia, Síria), referendadas pela maioria dos republicanos. Se existe um partido de paz em Washington, não é detectável por enquanto.
Contudo, o debate presidencial do ano passado sugeria que o eleitorado estadunidense pretendia romper com a tendência imperial dos Estados Unidos (2). Em primeiro lugar, Trump não fez campanha sobre temas de política externa. Mas quando abordou esses assuntos, foi para sugerir uma linha de conduta em grande medida oposta à do establishment de Washington (militares, especialistas, think tanks, revistas especializadas) e à que segue atualmente. Ao prometer subordinar as considerações geopolíticas aos interesses econômicos dos Estados Unidos, dirigia-se ao mesmo tempo aos partidários de um nacionalismo econômico (“America First”), numerosos nos estados industrialmente devastados, e aos que se convenceram dos méritos do realismo, depois de quinze anos (3) ininterruptos de guerra, com a deterioração progressiva da situação ou o caos generalizado (no Afeganistão, Iraque e Líbia). “Nossa situação estaria melhor se não estivéssemos nos ocupando do Oriente Médio há quinze anos” , concluía Trump em abril de 2016, convencido de que a “arrogância” dos Estados Unidos havia provocado “um desastre atrás do outro” e “custado a vida de milhares de cidadãos estadunidenses e bilhões de dólares”.
Esse diagnóstico, inesperado por parte de um candidato republicano, coindicia com o sentimento da fração mais progressista do Partido Democrata. Peggy Noonan, que escreveu os discursos mais destacados de Ronald Reagan e de seu sucessor imediato, Georges H. Bush, ressaltava então: “Em matéria de política exterior, [Trump] posicionou-se à esquerda de Hillary Clinton. Ela é belicista, deseja com demasiado afinco utilizar a força armada e lhe falta discernimento. Será a primeira vez na história moderna que um candidato republicano às eleições presidenciais se posicionará à esquerda de sua rival democrata, o que fará com que a situação se torne interessante”. (4)
Interessante, a situação ainda é — mas não exatamente como previu Noonan. Enquanto “a esquerda” postula que a paz deriva não da intimidação das demais nações, mas de relações mas equitativas entre elas, Trump, totalmente indiferente ao sentimento da opinião pública mundial, opera como um embaixador em busca do melhor “negócio” (“deal”) para ele e seus eleitores. Assim, o problema das alianças militares não é tanto, de seu ponto de vista, que ameacem ampliar confitos, em vez de dissuadir as agressões, mas que custem muito dinheiro aos estadunidenses. E que, forçados a pagar a conta, estes vejam como seu país se converte em “uma nação do Terceiro Mundo”. “A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) está obsoleta – repetia Trump em 2 de abril de 2016, durante um comício. Defendemos o Japão, a Alemanha, e só nos pagam uma fração do que nos custa. A Arábia Saudita cairia se saíssemos de lá. É preciso mostrar-se disposto a abandonar a mesa; se não, nunca se obterá um bom acordo”.
O presidente dos Estados Unidos esperava alcançar esse “bom acordo” com Moscou. Uma nova postura teria revertido a deterioração das relações entre as duas potências, favorecendo uma aliança contra o Estado Islâmico (ISIS) e reconhecendo a importância da Ucrânia para a segurança russa. A atual paranoia estadunidense relativa a tudo o que se relacione com o Kremlin leva a esquecer que em 2016, depois da anexação da Crimeia e a intervenção direta de Moscou na Síria, Barack Obama também relativizava o perigo representado pela Rússia. Segundo Obama, as intervenções russas na Ucrânia e no Oriente Médio eram apenas improvisações, “sinais de debilidade de Estados-clientes a ponto de escapar dele”. (5)
Ele acrescentava: “O russos não podem nos mudar ou enfraquecer de maneira significativa. É um país pequeno, um país fraco, e sua economia não produz nada que outros queiram comprar além de petróleo, gás e armas”. O que então temia de seu homólogo russo era sobreturdo… a simpatia que inspirava em Trump e seus partidários: “37% dos eleitores republicanos aprovam Vladimir Putin, o ex-chefe da KGB. Ronald Reagan deve estar se revolvendo na tumba!”. (6)
Desde janeiro de 2017, o sono eterno de Reagan recuperou sua tranquilidade. “Os presidentes chegam e se vão, mas a política não muda”, concluía Putin (7). Algum dia, os historiadores estudarão essas semanas durante as quais convergiram os esforços dos serviços de inteligência norte-americanos, dos dirigentes do setor favorável a Hillary, no Partido Democrata, da maioria dos representantes eleitos republicanos e dos meios de comunicação hostis a Trump. Seu projeto comum? Impedir qualquer aliança entre Moscou e Washington.
Os motivos de cada um eram diferentes. Os serviços de inteligência e alguns elementos do Pentágono temiam que uma aproximação entre Trump e Putin os privasse de um inimigo apresentável, uma vez destruído o poder militar do ISIS. Os dirigentes democratas favoráveis a Hillary estavam impacientes para transferir sua inesperada derrota a outros : o “hackeamento” dos dados do Partido Democrata, imputado a Moscou, servia. Os neoconservadores “que haviam promovido a guerra do Iraque, que detestavam Putin e que consideravam que a segurança de Israel não era negociável” (8) escandalizaram-se diante das tentações neo-isolacionistas de Trump.
Finalmente, os meios de comunicação, em particular o New York Times e o Washington Post, sonhavam com um novo “caso Watergate”. Não ignoravam que seus leitores – burgueses, urbanos, com formação – detestavam apaixonadamente o presidente eleito, desprezavam sua vulgaridade, seus tropismos de extrema direita, sua violência, sua incultura (9). E, como consequência, buscariam qualquer informação ou rumor que pudesse provocar sua destituição ou sua demissão forçada. Um pouco como em Assassinado do Expresso Oriente, o romance de Agatha Christie, cada um tinha, definitivamente, suas razões para golpear o mesmo alvo.
[…]
Pouco mais de uma semana antes que Trump assumisse suas funções, o jornalista e advogado Glenn Greenwald – a quem devemos a publicação das revelações de Edward Snowden sobre os programas de vigilância massiva da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) – alertava sobre o transcurso dos acontecimentos. Observava que os meios de comunicação norte-americanos haviam se tornado “a ferramenta mais valiosa” dos serviços de Inteligência. Ao mesmo tempo, parecia-lhe que os democratas, “ainda chocados por um fracasso eleitoral tão inesperado como traumatizante”, “haviam perdido a razão e aderiam a qualquer avaliação, elogiavam qualquer tática, aliavam-se a qualquer canalha ” (10).
[…]
Compreende-se por que o “hackeamento” dos dados do Partido Democrata, atribuído pelos serviços de inteligência norte-americanos à Rússia, enfeitiça o Partido Democrata e a imprensa. Dois pássaros num só tiro: ele permite deslegitimar a eleição de Trump e o impede de promover qualquer tipo de aproximação com Moscou. Mas não é extravagante que os EUA ofendam-se diante da ingerência de uma potência estrangeira nos assuntos internos de outro Estado?
E quem se lembra de que não foi o Kremlin quem espionou as conversas telefônicas de Angela Merkel, mas sim a Casa Branca de Obama? Quando o ex-diretor da CIA James Clapper formulou algumas perguntas a um representante – republicano – da Carolina do Norte, Thom Tillis, em janeiro, este rompeu tal silencio. Recordou que os Estados Unidos “haviam se envolvido em 81 eleições diferentes, desde a Segunda Guerra Mundial”. E prosseguiu: “Isso não inclui os golpes de Estado nem as ‘mudanças de regime’, através das quais temos pretendido mudar a situação a nosso favor. Já a Rússia atuou da mesma maneira em 36 ocasiões”. Melhor não esperar que um ponto de vista semelhante atenue os ataques do The New York Times contra as desonestidades de Moscou.
[…]
Hoje, o diário novaiorquino está na vanguarda da preparação psicológica da população para um conflito contra a Rússia. Contra dinâmica semelhante apenas a resistência se impõe. À direita, o vice-presidente Mike Pence mencionava na Estônia o “espectro da agressão” russa e, mais tarde, animava a Geórgia a unir-se à OTAN, para finalmente louvar Montenegro, que acaba de somar-se à aliança militar. Longe de preocupar-se com essa avalanche de gestos provocadores, que provocam um aumento da tensão entre as duas grandes potências (sanções comerciais contra Moscou, expulsão de diplomatas estadunidenses por parte da Rússia), o New York Times brinca com fogo. Gabava-se, em 2 de agosto, da “reafirmação do compromisso norte-americano de defender as nações democráticas contra os países que as ameaçariam”. Em seguida lamentava que o sentimento de Pence “não fosse experimentado e comemorado igualmente pelo homem para o qual trabalhava na Casa Branca”. Mas a essa altura pouco importa, dizendo a verdade, o que Trump continue sentindo. O presidente dos Estados Unidos já não está em condições de imprimir sua vontade nesse assunto.
Em setembro, manobras militares russas sem precedentes desde a queda do muro de Berlim deviam mobilizar cerca de 100 mil soldados, marines e aviadores nas imediações da Ucrânia e dos países bálticos. Isso ofereceeu material ao New York Times para um artigo de capa que lembra a campanha de pânico que o jornal alimentou em 2002-2003 contra as supostas “armas de destruição em massa” do Iraque. Não faltava nem o coronel estadunidense que anunciava de modo sombrio: “A cada manhã, quando nos despertamos, sabemos quem é a ameaça”, nem o inventário do arsenal russo, nem a menção de veículos de combate da OTAN que, entre Alemanha e Bulgária, “detêm-se para deixar que as crianças subam a bordo”… Mas o mais delicioso neste modelo de jornalismo (no mesmo barco que o Exército) foi seguramente o momento em que, para localizar os exercícios de Moscou na Rússia e Bielorrússia, o New York Times recorreu à expressão “na periferia da OTAN” (11)…
De agora em diante, qualquer tentativa de apaziguamento com Moscou que venha de Paris ou de Berlim será julgado como “favorável aos Acordos de Munique”, por um establishment neoconservador que retomou o controle em Washington; e criticado rapidamente pela quase totalidade dos meios de comunicação norte-americanos.
Saberão os Estados europeus deter a engrenagem militar que se desenha? Têm vontade de fazê-lo? A crise coreana deveria recordar-lhes que Washington mostra-se indiferente ante os pratos quebrados longe de seu território. O senador republicano Lindsey Graham, preocupado em conferir credibilidade à ameaça nuclear do presidente Trump no Extremo Oriente , deixou escapar em 1º de agosto que “se milhares de pessoas morrem, morrerão lá, não aqui”. Acrescentou que o presidente dos Estados Unidos compartilhava de seu sentimento: ”Ele me disse”.
—
Referências
(1) Ver Michael Klare, “La transformación de Donald Trump en jefe guerrero”, Le Monde diplomatique em espanhol, maio de 2017.
(2) Ver Benoît Bréville, “Estados Unidos está cansado del mundo”, Le Monde diplomatique em espanhol, maio de 2016.
(3) “Today”, NBC, 21 de abril de 2016.
(4) Peggy Noonan, “Simple patriotism trumps ideology”, The Wall Street Journal, Nova York, 28 de abril de 2016.
(5) “The Obama Doctrine”, entrevista com Jeffrey Goldberg, The Atlantic, Boston, abril de 2016.
(6) Coletiva de imprensa de 16 de dezembro de 2016.
(7) Le Figaro, París, 31 de mayo de 2017.
(8) Michael Crowley, “GOP hawks declare war on Trump”, Politico, Arlington, 2 de março de 2016.
(9) Ver “El desconcierto de la ‘intelligentsia’ estadounidense”, Le Monde diplomatique em espanhol, dezembro de 2016.
(10) Fox News, 12 de janeiro de 2017. No dia anterior, Greenwald havia detalhado suas declarações em “The deep state goes to war with president-elect, using unverified claims, as Democrats cheer”, The Intercept, 11 de janeiro de 2017.
(11) Eric Schmitt, “US troops train in Eastern Europe to echoes of the cold war”, The New York Times, 6 de agosto de 2017.