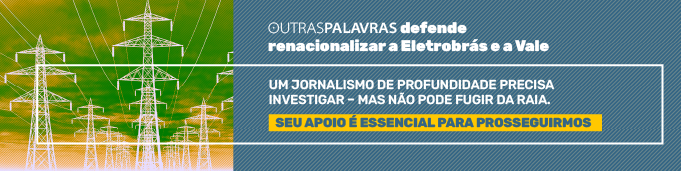Nova Zelândia: florestas com bichos, gente engajada
Recuperar a fauna utilizando animais das florestas, e não de cativeiro, e aplicar métodos participativos para contemplar todos os interessados de uma região. Experiência oceânica poderia inspirar projetos brasileiros
Publicado 07/02/2022 às 16:41 - Atualizado 07/02/2022 às 17:06

Registro do toutouwai. Foto: Judi Lapsley Miller / Wikimedia
Por Caio Kenup em O Eco
O contexto da conservação da Nova Zelândia é bastante particular. É uma nação insular com uma fauna extremamente endêmica. Não existem mamíferos terrestres nativos no país, mas há sim muitas aves. Como essas aves não coexistiram com mamíferos na sua história evolutiva, elas são extremamente vulneráveis aos invasores que vieram com os colonizadores europeus (como gatos e arminhos). A conservação dessas aves é prioridade para o governo neozelandês, e reintroduções são realizadas o tempo todo, em especial para áreas onde esses predadores foram erradicados. O leitor de longa data de O Eco conhece histórias sensacionais de recuperação de espécies como o black robin (Petroica traversi) e o kākāpō (Strigops habroptilus). Além desses casos extraordinários, a conservação neozelandesa também é composta de vários pequenos sucessos – espécies como o hihi (Notiomystis cincta) ou o toutouwai (Petroica longipes) são reintroduzidas rotineiramente em novas áreas, expandindo sua distribuição geográfica e criando novos refúgios para a espécie. Por causa das décadas de experiência realizando esse tipo de manejo, o Brasil pode olhar para a Nova Zelândia como inspiração para reintroduções.
Uma diferença fundamental entre o manejo para reintrodução realizado no Brasil, em oposição ao que acontece na Nova Zelândia, é a disposição para “manejo arriscado”. Por exemplo, é comum na terra do kākāpō solturas ocorrerem com indivíduos provenientes de populações naturais. Enquanto isso, no Brasil, existe uma hesitação em remover indivíduos de populações já existentes, por medo de colocá-las em risco. O medo é justificado – ao remover animais de uma população em declínio, pode-se aumentar o risco de extinção de uma população em nome da criação de outra. O que se faz na Nova Zelândia é se assegurar que o lugar de onde esses animais estão vindo não está ameaçado, e que a “cota” removida é pequena o suficiente para não afetar a população de origem. Um exemplo é o hihi, que possui atualmente oito populações, seis das quais foram fundadas com indivíduos coletados da ilha Tiriri Matangi, que por sua vez foi fundada com indivíduos de Te Hauturu-o-Toi. Em outras palavras, todas as populações reintroduzidas vieram de indivíduos coletados na natureza, e não de cativeiro.
Mas como se pode ter certeza de que de fato essas ações supostamente arriscadas são de fato seguras? A resposta nos leva a outro ponto: monitoramento e integração de dados. A eficiência e tomada de riscos neozelandeses é possível devido a um cuidadoso processo de coleta e análise de dados sobre reintroduções já realizadas. As reintroduções realizadas no país são geralmente monitoradas rigorosamente, de tal modo que os manejadores são capazes de prever o impacto da remoção de indivíduos dessas áreas. Toda a “alíquota” de indivíduos removidos vem com uma predição do possível efeito sobre a população de origem – apenas se removem indivíduos o suficiente para que não existam riscos para a população original.
Diversas reintroduções brasileiras – posso falar especificamente do projeto Refauna, que atua no estado do Rio de Janeiro reintroduzindo cutias, bugios, antas, jabutis, e futuramente mais espécies –, têm dificuldade em obter indivíduos para soltura – existem empecilhos burocráticos sobre origem de indivíduos, e a remoção de indivíduos na natureza é vista com maus olhos. Certamente ninguém quer condenar uma população para criar outra, porém, com certeza, existem opções onde se podem remover indivíduos. Populações que já são monitoradas para pesquisa podem fornecer informações úteis para o seu manejo.
Além da parte técnica, outra ferramenta comumente usada por conservacionistas é o hui, palavra em Te Reo, uma língua Maori, que quer dizer simplesmente “encontro” ou “assembleia”. É do entendimento do Departamento de Conservação neozelandês (o equivalente ao nosso ICMBio) que qualquer ato de manejo de espécies é do interesse não só do governo e da academia, mas da sociedade em geral. Em um Hui, setores ambientalistas e conservacionistas sentam lado a lado com moradores do entorno, representantes da indústria e iwi (grupos indígenas que têm ligação com a área). Todos os pontos de vista são considerados, o que pode parecer complicado, mas assegura que todas as partes envolvidas se sentem partes integrantes do projeto.
Nessas reuniões, as resoluções acontecem usando o método da tomada de decisões estruturada, o que é um jeito chique de dizer que todos os objetivos e preocupações dos participantes são explicitamente incluídos. Imagine que para as partes interessadas em uma reintrodução de lontras sejam moradores do entorno, conservacionistas e uma cooperativa de pescadores. Ao invés de debater opções de manejo internamente, conservacionistas chamam para a sala de reunião representantes dos outros dois setores da sociedade para discutir todas as opções possíveis de manejo para essa espécie. Nessas reuniões, definem-se explicitamente quais são os objetivos fundamentais para o projeto em questão: as coisas que realmente importam para todas as partes envolvidas. Digamos que existam duas preocupações – ter uma população de lontras viável e manter estoques pesqueiros no rio. É decidido então que todas as opções de manejo devem ser avaliadas tanto por quantas lontras se manterão na área, quanto pelo tamanho dos estoques pesqueiros. O melhor caminho a ser tomado é aquele leva em conta o interesse de ambas as demandas.
Nem sempre um hui será pacífico e produtivo, mas apenas o passo de colocar distintas partes da sociedade em um papel ativo na conservação de espécie contribui para trazer reintroduções (e manejo de espécies em geral) da academia para o público. Além disso, nas situações onde há grande conflito entre partes interessadas, levar essas reintroduções a cabo sem a contribuição da sociedade apenas adia o problema – o conflito com a sociedade provavelmente vai chegar de qualquer jeito, e dessa vez com os bichos já na natureza.
Obviamente, a situação socioambiental do Brasil e da Nova Zelândia são diferentes em vários aspectos (um essencial, não tocado aqui, é a quantidade de financiamento para essas iniciativas). Nem todas as estratégias utilizadas lá fazem sentido para cá. Esse texto não está advogando para se adotar o modelo neozelandês integralmente no Brasil, visto que não temos os mesmos recursos. No entanto, acredito que é importante lançar um olhar novo sobre reintroduções, reavaliando o comportamento brasileiro em relação ao “risco” de certas medidas de manejo, e a utilidade de trazer a discussão desse manejo para a sociedade civil. Temos diversas vitórias no campo das reintroduções, mas podemos fazer ainda mais.